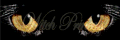Eis mais uma homenagem da Câmara dos Tormentos aos grandes mestres da literatura fantástica. Desta vez homenageamos o grande mestre Howard Phillips Lovecraft.
VENTO FRIO
HOWARD PHILLIPS LOVECRAFT
Indagas-me por que receio as rajadas de vento frio; porque tremo mais que as pessoas comuns ao entrar num aposento gélido e sinto náusea e repulsa quando a friagem da noite se insinua, furtiva, pelo calor de um suave dia de outono. Há quem diga que eu reajo ao frio de modo semelhante ao que outros reagem ao fedor, e serei último a desmentir essa impressão. O que farei será relatar a situação mais horripilante em que já me encontrei e deixar a ti a tarefa de julgar se ela representa ou não urna explicação satisfatória para essa minha esquisitice.
É falso imaginar que o horror esteja associado indissoluvelmente com o negrume, o silêncio, a solidão. Eu o conheci no esplendor fulgurante de urna tarde de sol, em meio ao clangor da metrópole e no ambiente apinhado de uma pobre e comuníssima casa de pensão, tendo a meu lado uma senhoria prosaica e dois homens robustos. Em meados de 1923, eu conseguira um emprego enfadonho e pouco rendoso numa revista, em Nova Iorque; e na impossibilidade de pagar o aluguel de uma moradia decente, comecei a vagar de uma pensão barata para outra, em busca de um quarto que combinasse as qualidades de limpeza adequada, mobiliário tolerável e preço bastante módico. Constatei, antes que passasse muito tempo, que só me restava optar entre diferentes males; entretanto, pouco depois dei com uma casa na Rua 14 Oeste que me repugnava muito menos do que as outras que eu havia experimentado.
Era uma mansão de grés pardo, com quatro pavimentos, que datava aparentemente de fins da década de 1840, com mármores e madeirames cuja magnificência enodoada e manchada lembrava que no passado o prédio conhecera altos níveis de elegante opulência. Os quartos, amplos e de enorme pé-direito, decorados com um papel de parede inacreditável e com cornijas ridiculamente complicadas, tinham um deprimente bafo de bolor, bem corno um vago cheiro de cozinha; entretanto, o chão era limpo, a roupa de cama bastante aceitável e a água quente nem sempre estava fria ou desligada, de modo que vim considerar a casa como um lugar pelo menos suportável para hibernar até poder realmente voltar a viver. A senhoria, uma espanhola desmazelada e quase barbada, chamada Herrero, não me amolava com mexericos ou reclamações a respeito da luz que eu deixava acesa até tarde em meu quarto, no terceiro andar, dando para a rua; e os demaispensionistas eram tão sossegados e calados quanto se poderia desejar. Eram na maioria espanhóis, só um pouco acima do nível mais grosseiro e ínfimo. O único motivo realmente sério de aborrecimento era o ruído dos bondes na rua.
Eu já estava residindo ali bem umas três semanas quando ocorreu o primeiro incidente insólito. Certa noite, por volta das oito horas, escutei um barulho como que de líquido que caísse no chão, e de repente me dei conta que já fazia algum tempo que o ar estava impregnado de um penetrante odor de amônia. Olhando em torno, vi que o teto estava molhado e gotejante; parecia que a infiltração provinha de um canto do lado que dava para a rua. Ansioso por cortar o mal pela raiz, desci depressa para falar à senhoria, que me garantiu que o problema seria logo resolvido.
- El doctor Muñoz - comentou ela, subindo as escadas correndo, em minha frente - deve ter derramado seus produtos químicos. Está fraco demais para cuidar de si próprio... cada vez mais fraco... pero no tiene nadie que pueda ayudarlo. E muito esquisito com essa doença dele... toma banhos de cheiros estranhos o dia inteiro, nem pode ficar nervoso ou sentir calor. Ele mesmo arruma o quarto... O quartinho dele vive cheio de garrafas e máquinas e ele não pratica mais a medicina. Mas antigamente ele foi famoso... mi padre ouviu falar dele em Barcelona... e há poco tiempo tratou o braço do bombeiro que cuida do encanamento e que começou a doer de repente. Ele nunca sai, só vai até o terraço, e mi hijo, Esteban, traz, para ele comida, roupa limpa, remédios e produtos químicos. Diós, a quantidade de sal amoníaco que esse hombre usa para se refrescar!
A Sra. Herrero desapareceu pela escada do quarto andar e eu voltei para meu quarto. A amônia parou de pingar e eu sequei a que havia caído. Enquanto abria a janela para arejar o cômodo, ouvi os passos pesados da senhoria no andar de cima. Quanto ao Dr. Muñoz, eu nunca havia escutado seus passos, lentos e macios. Só havia escutado um ruído que parecia ser o de um mecanismo com motor a gasolina. Fiquei a imaginar, por um momento, qual poderia ser a estranha enfermidade desse homem e se sua recusa obstinada em aceitar auxílio não resultaria de uma excentricidade infundada. Lembro-me de ter tido um pensamento banal, o de quanto é patética a situação de urna pessoa eminente que decaiu socialmente.
Talvez eu jamais viesse a conhecer o Dr. Muñoz se não fosse o ataque cardíaco que de repente me acometeu numa tarde em que eu estava escrevendo em meu quarto. Médicos haviam-me falado do perigo que representam tais crises, e eu sabia que não havia tempo a perder; por isso, ao me recordar do que a senhoria tinha dito sobre a ajuda que o inválido prestara ao bombeiro, arrastei-me pela escada e bati debilmente à porta do quarto que ficava em cima do meu. Minha batida foi respondida em bom inglês por uma voz curiosa, mais ou menos à direita, que me indagou o nome e profissão. Uma vez respondidas as perguntas, abriu-se um pouco a porta ao lado daquela em que eu batera.
Recebeu-me uma lufada de ar frio; e embora o dia fosse um dos mais tórridos do fim de junho, tive um estremecimento ao transpor a porta e entrar num espaçoso apartamento, cuja decoração suntuosa e de bom gosto constituiu uma surpresa naquele ninho de penúria e miséria. Um sofá dobrável atendia, agora de dia, à sua função de sofá, e o mobiliário de mogno, o magnífico papel de parede, as pinturas antigas e as esplêndidas estantes de livros indicavam antes o estúdio de um fidalgo que um quarto de pensão. Percebi então que o quarto que ficava sobre o meu - o quartinho com garrafas e máquinas, mencionado pela Sra. Herrero - era simplesmente o laboratório do doutor e que seus aposentos principais ficavam naquele amplo apartamento adjacente, cujas alcovas corretas e o grande quarto de banho lhe permitia ocultar toda roupa e objetos gritantemente utilitários. O Dr. Muñoz, evidentemente, era um homem com berço, cultura e excelente gosto.
A figura que eu tinha diante de mim era a de um homem baixo, mas muito bem proporcionado, trajado numa indumentária um tanto formal, de corte e feitio perfeitos. Um rosto bem-feito, de expressão senhoril, mas em nada arrogante, tinha a orná-lo uma barba aparada e um pouco grisalha, enquanto um pincenê antiquado se antepunha a olhos grandes escuros, equilibrando-se num nariz aquilino que dava um toque mourisco a urna fisionomia em tudo mais marcadamente celtibérica. Uma cabeleira basta e bem-tratada, que indicava visitas regulares de um barbeiro, partia-se com muita elegância sobre a testa alta. E toda a impressão que aquele vulto transmitia era de acentuada inteligência, origens nobres e excelente educação.
Não obstante, ao contemplar o Dr. Muñoz naquela lufada de ar frio, fui tomado de uma repugnância que nada em seu aspecto poderia justificar. Somente sua tez, que se inclinava à palidez e a frieza do toque de sua mão poderiam ter dado uma base física a essa sensação, porém mesmo essas coisas teriam de ser relevadas, dada a notória invalidez do homem. É ainda possível que tenha sido aquele frio singular que me indispôs, pois tamanha gelidez era anormal num dia tão quente, e o anormal sempre desperta aversão, suspeita e temor.
No entanto, a repulsa logo cedeu lugar à admiração, uma vez que a extrema perícia daquele estranho médico se manifestou incontinenti, a despeito da algidez e do tremor de suas mãos exangues. A um olhar ele compreendeu minhas necessidades, atendendo-as com habilidade de mestre; enquanto me assistia, consolava-me com voz harmoniosamente modulada, embora inusitadamente oca e sern timbre, assegurando-me ser o mais implacável dos inimigos da morte, e que havia dissipado sua fortuna e perdido todos os amigos numa vida inteira de experiêcias extravagantes, dedicadas à repressão e extirpação de tamanho flagelo. Parecia haver nele um certo fanatismo benevolente, e ele não cessava de divagar, quase garrularnente, enquanto me auscultava o peito e preparava uma beberagem de drogas trazidas de seu pequeno laboratório. Era evidente que a companhia de uma pessoa bem-nascida representava para ele uma rara novidade naquele ambiente de indigência e o levava a uma desusada loquacidade, ao ser empolgado por recordações de dias melhores.
Sua voz, embora estranha, era ao menos apaziguadora; e eu não percebia sequer o som de sua respiração enquanto ele pronunciava aqueles longos períodos, tão cheios de lhaneza. O doutor procurava afastar meus pensamentos da crise cardíaca, discorrendo sobre suas teorias e experiências. Lembro-me bem do tato com que ele procurou consolar-me da debilidade de meu coração, insistindo em que a vontade e a consciência são mais fortes do que a própria vida orgânica, de forma que se urna organização física for originalmente saudável e preservada com cuidado pode, mediante um realce cientifico dessas qualidades, reter uma espécie de animação nervosa, apesar das mais sérias lesões, defeitos ou mesmo ausências no conjunto de órgãos específicos.
Algum dia, dis-se-me ele meio a brincar, poderia me ensinar a viver (ou ao menos manter alguma espécie de existência consciente) até mesmo sem coração! Quanto a si, afligia-o uma série de enfermidades que exigiam um regime rigorosíssimo, que incluía o frio constante. Qualquer elevação marcada da temperatura poderia, caso se prolongasse, afetá-lo de maneira fatal; e a frialdade de sua moradia, cerca de 13º centígrados, era mantida por um sistema absorvente de arrefecimento a amônia. As bombas do sistema eram impulsionadas pelo motor a gasolina que eu já escutara de meu quarto.
Aliviado de minha crise num tempo maravilhosamente breve, deixei aqueles aposentos frígidos como discípulo e servidor do talentoso recluso. Depois disso, fiz-lhe várias visitas, devidamente agasalhado. Ouvia-lhe o relato de pesquisas secretas e resultados quase espantosos, e estremecia um pouco ao examinar os volumes incomuns e inacreditavelmente antigos em suas estantes. Por fim, convém acrescentar, fiquei quase curado para sempre de minha doença, devido à sua terapia tão efetiva. Ao que parece, ele não desdenhava os encantamentos dos medievalistas, porquanto acreditava que essas fórmulas crípticas contivessem raros estímulos psicológicos, que poderiam, concebivelmente, exercer efeitos singulares na substância de um sistema nervoso que tivesse sido abandonado pelas pulsações orgânicas. Comoveu-me o que ele contou sobre o idoso Dr. Torres, de Valência, que compartilhara com ele suas primeiras experiêcias, e que cuidara dele por ocasião da grave enfermidade que o acometera dezoito anos antes, e da qual procedia sua atual debilitação.
Pouco depois de haver o venerando facultativo salvo o colega, ele próprio sucumbira ao horrendo inimigo que combatera. Possivelmente o esforço tivesse sido excessivo; o Dr. Muñoz deixou claro, em sussurros (conquanto não descesse a minúcias), que os métodos de
cura haviam sido excepcionalíssimos, envolvendo cenas e processos desaprovados por galenos idosos e conservadores.
Com o passar das semanas, observei com pesar que, com efeito, meu novo amigo estava, lenta mas inequivocamente, perdendo suas forças, tal como sugerira a Sra. Herrero. O aspecto lívido de sua fisionomia se intensificava, a voz se fazia mais vazia e indistinta, seus movimentos musculares mostravam menor coordenação, seu espírito e sua força de vontade revelavam menos fortaleza e iniciativa. Não parecia ele de modo algum desatento a essa triste transformação, e pouco a pouco tanto sua expressão quanto sua conversa foram adquirindo uma ironia desagradável que restaurou em mim a repulsa sutil que eu havia sentido de início.
Ele foi cultivando caprichos esquisitos, afeiçoando-se a especiarias exóticas e incenso egípcio até que seu quarto recendia como a tumba de um faraó no Vale dos Reis. Ao mesmo tempo, aumentava seu desejo de ar frio, e com minha ajuda ele ampliou a tubulação de amônia de seu quarto e modificou o sistema de bombas e a alimentação de sua máquina de refrigeração, até conseguir manter a temperatura entre 1º e 4,5º centígrados e, finalmente, na casa de 2º centígrados negativos. O banheiro e o laboratório, naturalmente, eram menos frios, para que a água não se congelasse no encanamento e os processos químicos não se vissem prejudicados. O inquilino do cômodo ao lado do dele queixou-se do ar gélido que entrava pela porta de ligação; por isso, ajudei o doutor a instalar re-posteiros pesados, que mitigassem o problema.
Uma espécie de horror crescente, de feitio bizarro e mórbido, parecia possuí-lo. Ele falava da morte sem cessar, mas ria cavamente quando coisas como providências fúnebres ou de sepultamento eram obliquamente sugeridas. De maneira geral, ele se converteu em companhia desconcertante e até repelente. Contudo, por gratidão ao modo como ele me curara, eu não me dispunha a abandoná-lo aos estranhos que o cercavam, e tinha o cuidado de espanar-lhe o quarto e atender às suas necessidades de cada dia, metido num sobretudo pesado que eu havia comprado especialmente para esse fim. Da mesma forma, eu fazia grande parte de suas compras e observava com assombro alguns dos produtos químicos que ele encomendava a farmacêuticos e fornecedores de laboratórios.
Uma crescente e inexplicada atmosfera de pânico parecia avolumar-se em seu apartamento. Toda a casa, como já foi dito, recendia a bolor; entretanto, o odor em seu apartamento era pior e, apesar de todas as especiarias e do incenso, bem como dos acres produtos químicos dos banhos (agora contínuos) que ele insistia em tomar sem ajuda, percebi que o cheiro deveria estar ligado à sua enfermidade, e tive um calafrio ao refletir sobre qual poderia ser. A Sra. Herrero persignava-se ao olho e deixouode bom grado aos meus cuidados, sem nem mesmo permitir que o filho, Esteban, continuasse a lhe prestar serviços. Quando eu sugeria que ele buscasse o auxílio de outros médicos, o inválido revelava fúria, tão grande quanto ele parecia atrever-se a demonstrar. Era evidente que ele receava o efeito físico da emoção violenta, e no entanto sua força de vontade e seus ímpetos antes se fortaleciam que minguavam, e ele se recusava a guardar o leito. A lassidão dos primeiros tempos de sua enfermidade deu lugar a um retorno de sua disposição fogosa, de modo que ele parecia arremessar reptos ao rosto do demônio da morte no momento mesmo em que esse antigo inimigo se apossava dele. A simulação do comer, que sempre fora, curiosamente, quase um formalismo, foi praticamente abandonada; e somente a força mental parecia protegê-lo
do colapso total.
Adquiriu ele o hábito de redigir longos documentos que cuidadosamente lacrava e cercava de recomendações para que eu os transmitisse, após sua morte, a certas pessoas por ele nomeadas - na maioria letrados das Índias Orientais, mas entre as quais havia um outrora famoso médico francês, hoje em geral tido como morto, e a respeito de quem as coisas mais inconcebíveis haviam sido murmuradas. Quero dizer desde logo que queimei todos esses papéis, sem entregá-los nem abrí-los. Seu aspecto e sua voz se tomaram assustadores ao extremo, e sua presença quase insuportável. Num certo dia de setembro, ao vê-lo de relance, um homem que tinha vindo consertar sua lâmpada elétrica de mesa foi tornado de uma crise
epiléptica, crise essa para a qual o doutor prescreveu remédios eficientes, enquanto se mantinha longe da vista. Aquele homem, é bom que se diga, havia passado pelos horrores da grande guerra sem haver sucumbido a um susto tão medonho.
Foi então que, em meados de outubro, sobreveio, com subitaneidade estarrecedora, o horror dos horrores. Numa noite, mais ou menos às onze horas, a bomba da máquina refrigeradora quebrou-se, de forma que dentro de três horas o processo de resfriamento amoniacal se tornou impossível. O Dr. Muñoz chamou-me, batendo com os pés no chão, e pus-me a trabalhar desesperadamente para reparar o dano, enquanto meu anfitrião praguejava num tom cuja cavidade inerte e impetuosa foge a qualquer descrição. Não obstante, meus esforços amadorísticos foram baldados; tendo ido buscar um mecânico de uma garagem vizinha, que ficava aberta a noite toda, ficamos sabendo que nada poderia ser feito até de manhã, quando
um novo pistão teria de ser adquirido. A indignação e o medo do ermitão moribundo, elevando-se a proporções grotescas, parecia ser de molde a destruir o que restava de seu físico fraquejante; e em certo momento um espasmo fez com que ele levasse as mãos aos olhos e corresse ao banheiro. Saiu dali tateando o caminho, com o rosto envolvido em bandagens, e nunca mais lhe vi os olhos. O frio do apartamento diminuía agora sensivelmente, e ao dar as cinco da manhã o médico retirou-se para o banheiro, ordenando-me que o mantivesse abastecido com todo o gelo que eu pudesse obter em farmácias e bares.
Ao voltar de minhas excursões, às vezes desencorajadoras, edeitar o que havia conseguido junto à porta do banheiro, eu escutava um contínuo espadanar de água lá dentro, enquanto uma voz grossa pedia "Mais... mais!" Por fim, raiou um dia quente, e uma a uma as lojas se abriram.
Pedi a Esteban que ajudasse com o provisionamento de gelo enquanto eu ia adquirir o pistão da bomba, ou que encomendasse o pistão enquanto eu continuava a buscar gelo; no entanto, instruído pela mãe, ele se recusou peremptoriamente a ajudar.
Por fim, contratei um vadio de aspecto miserável que encontrei na esquina da Oitava Avenida para manter o paciente abastecido de gelo, trazido de uma lojinha onde o apresentei, e me entreguei, diligente, à tarefa de localizar um pistão de bomba e de contratar operários que soubessem instalá-lo. A tarefa parecia quase interminável, e fui tomado de ira quase tão violenta quanto a do ermitão ao ver as horas se escoando num ciclo infatigável de telefonemas infrutíferos, de correrias de um lado para outro, indo ali e acolá' de metrô e transporte de superfície.
Mais ou menos ao meio-dia encontrei um fornecedor satisfatório numa rua remota do centro da cidade, e aproximadamente à 1:30 da tarde cheguei à pensão com as peças necessárias e dois mecânicos fortes e inteligentes.
Eu havia feito tudo quanto me fora possível e esperava chegar em tempo. O negro terror, no entanto, me precedera. A pensão se transformara numa casa de orates, e sobre as vozes aterradas escutei um homem rezando com voz gravíssima.
Havia pelo ar um quê de diabólico e os inquilinos rezavam o rosário com maior vigor ao sentirem o cheiro que exalava por baixo da porta fechada do médico. O vagabundo que
eu contratara, ao que parece, havia fugido aos gritos e de olhos esbugalhados pouco depois de haver feito sua segunda entrega de gelo, talvez corno resultado de excessiva curiosidade. Não podia, está claro, trancar a porta ao sair; no entanto, agora ela estava fechada, presumivelmente por dentro. Não se ouvia som algum, com exceção de uma espécie indefinível de vagaroso e denso gotejar.
Depois de consultar a Sra. Herrero e os trabalhadores, e apesar do medo que me corroía a alma, opinei que deveríamos arrombar a porta; todavia, a senhoria descobriu uma maneira de virar a chave pelo lado de fora, com auxílio de um arame. Havíamos previamente aberto as
portas de todos os outros quartos naquele corredor, além de descerrado as janelas até em cima. Agora, protegendo os narizes com lenços, invadimos, trêmulos, o amaldiçoado quarto, que resplendia com o sol quente do começo datarde.
Uma espécie de trilha escura e lodosa levava da porta aberta do banheiro até a porta do corredor, e dali à escrivaninha, onde uma pocinha horrorosa se acumulara. Havia ali alguma coisa rabiscada a lápis, como que por um cego trêmulo, num pedaço de papel nojentamente manchado, ao que parecia pelas próprias garras que haviam traçado as apressadas palavras finais. Depois a trilha conduzia ao sofá e terminava de um modo que não pode ser descrito.
O que estava, ou tinha estado, no sofa não posso nem ouso dizer aqui. Mas eis o que decifrei no papel pegajosamente manchado, antes de riscar um fósforo e reduzí-lo a cinzas; o que decifrei tornado de pânico, enquanto a senhoria e os dois mecânicos saíam em disparada daquele lugar infernal para ir relatar suas histórias incoerentes na delegacia de polícia mais próxima.
As palavras nauseantes pareciam quase inacreditáveis naquele fulgor amarelo de sol, com o matraquear de automóveis e caminhões que vinham subindo ruidosamente a Rua 14, mas, no entanto, confesso que acreditei nelas naquele momento. Se acredito agora naquelas palavras, honestamente não sei dizer. Existem coisas a respeito das quais é melhor não especular, e tudo quanto posso dizer é que detesto o cheiro de amônia e sinto-me desfalecer ante uma lufada de ar inusitadamente frio.
"O fim chegou", dizia o rabisco pestilencial. "Não haverá mais gelo... o homem olhou e correu. Fica cada vez mais quente e os tecidos não poderão durar mais. Imagino que saibas... o que eu disse sobre a vontade, os nervos e o corpo preservado depois que os órgãos cessassem de funcionar. Era uma boa teoria, mas não podia ser mantida indefinidamente. Houve uma deterioração gradual que eu não previra. O Dr. Torres sabia, mas o choque o matou. Não pôde suportar o que teria de fazer; tinha de me meter num lugar estranho e escuro, mas atentou à minha carta e me fez voltar, com seus cuidados. E os órgãos jamais voltariam a funcionar novamente. Tinha de ser feito à minha maneira (preservação artificial), pois vês: eu morri naquela época, há dezoito anos.”