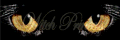Trazemos desta vez um clássico da literatura de terror contemporânea. Ao longo das últimas décadas, Stephen King firmou-se como o mais importante (rico) escritor do gênero graças ao cinema americano que tratou de adaptar dezenas de textos seus. Este conto, em particular, mostra uma faceta um tanto diferente do autor; a de discípulo de Howard Phillips Lovecraft, coisa que, ultimamente, ele está precisando relembrar.
EU SOU O UMBRAL DA PORTA
Stephen king
Stephen king
Richard e eu estávamos sentados em minha varanda, olhando por cima das dunas para o golfo. A fumaça de seu charuto espalhava-se preguiçosamente no ar, mantendo os mosquitos a uma distância segura. A água era um frio azul-turquesa, o céu um azul mais profundo, mais real. Uma combinação agradável.
― Você é o umbral da porta ― repetiu Richard, pensativo. ―― Tem certeza de que matou o menino? De que não foi um sonho?
― Não foi sonho. E também não o matei ― já lhe disse isto. Eles mataram. Eu sou o umbral da porta.
Richard suspirou:
― Você o enterrou?
― Sim.
― Lembra-se do local?
― Sim.
Enfiei os dedos no bolso do peito e peguei um cigarro. Minhas mãos eram desajeitadas em seu invólucro de bandagens. Coçavam abominavelmente.
― Se quiser ver, tem que pegar o buggy. Não pode rolar isto indiquei-lhe minha cadeira de rodas ― na areia.
O buggy de Richard era um Volkswagen `59 com pneus enormes. Ele o usava para apanhar madeira trazida pela maré. Desde que se aposentara de seu negócio imobiliário em Maryland, morava em Key Caroline e fazia esculturas em troncos trazidos pelo mar, que vendia a preços vergonhosos aos turistas de inverno.
Tirou uma baforada do charuto e olhou para o golfo.
― Ainda não. Quer me contar mais uma vez?
Suspirei e tentei acender o cigarro. Ele me tirou os fósforos da mão e acendeu para mim.
Puxei duas tragadas, inalando profundamente a fumaça. A coceira em meus dedos era de enlouquecer.
― Muito bem -declarei. ― A noite passada, às sete horas, eu estava aqui, olhando para o golfo e fumando, exatamente como agora, e...
― Recue um pouco mais no tempo ― pediu ele.
― Recuar mais?
― Conte-me a respeito do vôo.
Sacudi a cabeça.
― Richard, já repetimos isso muitas vezes. Não há nada...
O rosto vincado e enrugado era tão enigmático quanto uma de suas esculturas.
― Talvez você se recorde ― disse ele. ― Agora, talvez se lembre.
― Você acha?
― É possível. E quando terminar, podemos procurar a sepultura.
― A sepultura ― repeti.
A palavra tinha um som oco, horrível, mais sombrio que qualquer coisa, ainda mais sombrio que todo aquele oceano através do qual Cory e eu velejáramos cinco anos antes. Escuro, escuro, escuro.
Por baixo das bandagens, meus olhos fitaram cegamente a escuridão que os curativos impunham. Coçavam.
Cory e eu fomos colocados em órbita pelo Saturno 16, que todos os comentaristas chamavam de Foguete Empire State Building. Era um enorme animal, realmente. Fazia o velho Saturno 1-B parecer um brinquedo e era lançado de um bunker de concreto com sessenta metros de profundidade ― tinha que ser, para evitar que arrasasse totalmente Cabo Kennedy.
Fizemos órbitas em torno da Terra, verificando todos os nossos sistemas, e depois acionamos os propulsores. A caminho de Vênus. Deixamos um Senado em polvorosa, discutindo um projeto de orçamento para posteriores explorações do espaço e um bando de pessoas da NASA rezando para que encontrássemos alguma coisa ― qualquer coisa.
― Não interessa o quê ― gostava de dizer Don Lovinger, o menino prodígio particular do Projeto Zeus, quando tomávamos umas e outras. Vocês têm todos os aparelhos, além de cinco câmeras, especiais de TV e um lindo telescópio com zilhões e zilhões de lentes e filtros. Encontrem um pouco de ouro ou de platina. Ainda melhor, encontrem alguns adoráveis homenzinhos azuis para nós estudarmos, usarmos e nos sentirmos superiores.
Qualquer coisa. Até mesmo o fantasma de Howdy Doody já seria um começo.
Cory e eu estávamos ansiosos por atender, se possível. Nada funcionara em favor do programa de profunda exploração espacial. De Borman, Anders e Lovell, que entraram em órbita ao redor da Lua em `68 e encontraram um mundo vazio e ameaçador que parecia areia suja na praia, a Markhan e Jacks, que pousaram em Marte onze anos depois para encontrarem uma vastidão árida de areia congelada e uns poucos liquens raquíticos, o programa de profunda exploração espacial fora um dispendioso fracasso. E houve baixas: Pedersen e Lederen, subitamente lançados em órbita eterna em tomo do Sol quando tudo deixou de funcionar no antepenúltimo vôo Apolo. John Davis, cujo pequeno observatório espacial foi perfurado por um meteoróide em um acidente cujas possibilidades eram uma em mil. Não, o programa espacial não ia nada bem. Ao que tudo indicava, a órbita de Vênus seria nossa última oportunidade de dizer: "Viram como tínhamos razão? "
Dezesseis dias de viagem de ida ― comemos um bocado de alimentos concentrados, jogamos um bocado de buraco, trocamos um resfriado para lá e para cá ― e sob o ponto de vista técnico foi uma sopa. Perdemos um conversor de umidade do ar no terceiro dia, ligamos o sobressalente e isto foi tudo, excetuando alguns detalhes sem importância, até a reentrada da atmosfera terrestre. Vimos Vênus crescer de uma estrela a uma lua em quarto-crescente e, finalmente, uma bola de cristal leitoso, trocamos piadas com o Controle Huntsville, escutamos fitas de Wagner e dos Beatles, cuidamos de experimentos automatizados que tratavam de tudo, desde medidas do vento solar até navegação no espaço. Efetuamos duas correções do curso, ambas infinitesimais, e no nono dia Cory saiu da nave para bater no DESA escamoteável até que este resolveu funcionar. Nada de extraordinário até que...
― DESA ― repetiu Richard. ― O que é isso?
― Um experimento que não deu certo. Jargão da NASA para designara Deep Space Antenna, uma antena para uso no espaço longínquo ― irradiávamos impulsos de alta freqüência para quem estivesse interessado em escutar-nos ― respondi, esfregando os dedos nas calças, sem resultado; na verdade, a coceira deu a impressão de piorar. ― É a mesma idéia do radiotelescópio na West Virginia ― você sabe, o que escuta as estrelas.
Só que em vez de escutarmos nós transmitíamos, primordialmente para os planetas mais afastados: Júpiter, Saturno, Urano. Se existe alguma vida inteligente por lá, devia estar cochilando.
― Só Cory saiu
― Sim. E se trouxe consigo alguma praga interestelar, a telemetria não revelou.
― Mesmo assim...
― Não interessa ― interrompi, irritado. ― Só o aqui e agora importam. Mataram o menino ontem à noite, Richard. Não foi agradável ver... ou sentir. A cabeça dele... explodiu ― como se alguém lhe tivesse retirado o cérebro e colocado uma granada de mão no interior do crânio.
― Termine a estória ― disse ele.
Soltei uma risada oca.
― O que há para contar?
Entramos em órbita excêntrica em torno do planeta. Era radical e se deteriorava; quinhentos e doze por cento e doze quilômetros. Isto na primeira volta. Nossa segunda volta foi ainda mais alta, com o perigeu mais baixo. Tínhamos um máximo de quatro órbitas. Fizemos todas quatro. Demos uma boa olhada no planeta. Tiramos também mais de seiscentas fotos e só Deus sabe quantos metros de filme.
A camada de nuvens é composta por partes iguais de metano, amônia, poeira e merda voadora. O planeta inteiro parece o Grand Canyon num túnel de vento. Cory calculou a velocidade do vento em cerca de mil quilômetros por hora perto da superfície. Nossa sonda funcionou durante toda a descida e pifou de repente. Não vimos vegetação nem sinal de vida. O espectroscópio indicou apenas traços dos minerais valiosos. E isso era Vênus. Nada, absolutamente nada ― exceto que me causava medo. Era como circularem tomo de uma casa assombrada em pleno espaço exterior. Sei o quanto isto parece anti-científico, mas quase me borrei de medo até nos afastarmos de lá. Creio que se um de nossos foguetes não se desligasse, eu cortaria o pescoço durante a descida. Não é como a Lua. A Lua é deserta mas, de algum modo, anti-séptica. O mundo que vimos era diferente, completamente diferente de tudo que alguém já viu. Talvez seja uma boa coisa existir aquela camada de nuvens. Era como um crânio completamente descarnado ― eis o melhor que consigo descrever.
No caminho de volta, ouvimos que o Senado votara o corte pela metade do orçamento espacial. Cory fez um comentário sobre "parece que estamos de volta ao negócio de satélites meteorológicos, Arde". Mas fiquei quase alegre. Talvez nosso lugar não seja lá.
Doze dias depois, Cory morreu e eu fiquei aleijado para o resto da vida. Perdemos toda a nossa sorte na descida. O pára-quedas não funcionou. Que acha disso, como uma pequena ironia da vida? Passamos mais de um mês no espaço, fomos mais longe que qualquer outro ser humano já conseguiu ir e tudo terminou daquela maneira porque algum sujeito estava com pressa de fazer um intervalo para o café e não dobrou direito o pára-quedas, causando um embaraço nas linhas.
Batemos com força. Um cara que estava num helicóptero disse que a nave parecia um bebê gigantesco caindo do céu, trazendo atrás de si a placenta. Perdi os sentidos quando batemos.
Voltei a mim quando me carregavam pelo convés do Portland Nem mesmo tiveram oportunidade de enrolar o tapete vermelho sobre o qual deveríamos passar. Eu sangrava.
Sangrava e era levado às pressas para enfermaria, passando sobre um tapete vermelho que não parecia tão vermelho quanto eu...
― ... Passei dois anos no hospital de Bethesda. Deram-me a Medalha de Honra, muito dinheiro e esta cadeira de rodas. Vim para cá no ano seguinte. Gosto de assistir à subida dos foguetes.
― Eu sei ― disse Richard, fazendo uma pausa antes de acrescentar: Mostre-me suas mãos.
― Não ― minha resposta foi muito rápida e áspera. ― Não posso permitir que eles vejam. Já lhe disse.
― Já se passaram cinco anos ― disse Richard. ― Por que agora, Arthur? É capaz de me dizer?
― Não sei. Não sei! Talvez o que seja tenha um longo período de gestação. Ou quem mesmo pode dizer que o contraí lá no espaço? Seja lá o que for, pode haver entrado em mim em Fort Lauderdale. Ou aqui mesmo, nesta varanda, pelo que sei.
Richard suspirou e olhou para o mar, agora avermelhado pelo sol de final da tarde.
― Estou tentando, Arthur; não quero pensar que você esteja perdendo o juízo.
― Se for preciso, mostrar-lhe-ei minhas mãos ― repliquei, o que me custou grande esforço. ― Mas só se for preciso.
Richard se levantou e pegou sua bengala. Parecia velho e frágil.
― Vou buscar o buggy. Procuraremos o menino.
― Obrigado, Richard.
Ele caminhou em direção à esburacada estrada de terra que levava à sua cabana ― eu podia ver o telhado acima da Grande Duna, que se ergue por quase todo o comprimento de Key Caroline. Acima do mar, na direção do Cabo, o céu assumira uma feia coloração de ameixa e o som da trovoada longínqua me chegou aos ouvidos.
Eu não sabia o nome do rapaz, mas via-o de vez em quando, caminhando ao longo da praia ao anoitecer, com a peneira sob o braço.
Estava quase negro de tão tostado pelo sol e só usava um surrado par de jeans cortadas à altura das coxas. Na extremidade oposta de Key Caroline existe uma praia pública e um jovem empreendedor talvez consiga.ganhar até cinco dólares nos melhores- dias, peneirando a areia à procura de moedas perdidas. Ocasionalmente, eu lhe acenava e ele respondia com outro aceno, ambos neutros, desconhecidos mas irmãos, moradores permanentes da ilha em contraposição aos turistas esbanjadores que dirigiam Cadillacs e falavam em voz alta. Imagino que morasse no pequeno vilarejo agrupado em tomo da agência dos correios, cerca de oitocentos metros além de minha casa.
Quando ele passou aquela tarde, já fazia uma hora que eu estava na varanda, imóvel, observando. Eu retirara as bandagens um pouco antes. A coceira se tornara intolerável e sempre melhorava quando eles podiam ver com seus próprios olhos.
Era uma sensação como nenhuma outra no mundo ― como se eu fosse um portal ligeiramente entreaberto através do qual eles observassem um mundo que odiavam e temiam. Mas o pior era que eu também podia ver, de certo modo. Imagine sua mente transportada para uma mosca caseira, uma mosca que olhasse para seu rosto com mil olhos. Então, talvez você consiga começar a entender por que motivo eu mantinha minhas mãos envoltas em bandagens, mesmo quando não existia ninguém por perto para vê-Ias.
Tudo começou em Miami. Eu tinha negócios lá com um homem chamado Cresswell, investigador do Ministério da Marinha. Ele vem checar-me uma vez por ano ― pois já estive o mais próximo que qualquer pessoa pode chegar do material secreto referente ao nosso programa espacial. Não sei o que ele procura; um brilho furtivo em meus olhos, talvez, ou uma letra vermelha em minha testa. Só Deus sabe por que. Minha pensão é tão grande a ponto de ser quase embaraçosa.
Cresswell e eu estávamos sentados na varanda de seu quarto de hotel, bebericando drinques e discutindo o futuro do programa espacial americano. Era cerca de três e meia. Meus dedos começaram a coçar. Não foi nem um pouco gradual. Ligou-se de repente, como uma corrente elétrica. Mencionei o fato a Cresswell.
― Então, você pegou alguma planta venenosa naquela ilhota escrofulosa ― disse ele, sorrindo.
― A única vegetação existente em Key Caroline são os palmitos repliquei. ― Talvez seja a coceira dos sete anos.
Olhei para minhas mãos. Perfeitamente normais. Mas coçavam.
Mais tarde, assinei o mesmo documento de sempre ("Juro solenemente que não recebi nem revelei e divulguei informações que...") e dirigi meu carro de volta à ilha. Tenho um velho Ford equipado com freio e acelerador operados à mão. Eu o adoro ― faz com que me sinta autosuficiente.
É um longo trajeto pela Rodovia 1 e, quando saí da auto-estrada e peguei a rampa de saída para Key Caroline, eu estava quase louco. Minhas mãos coçavam inacreditavelmente. Se você já passou pelo sofrimento da cicatrização de um corte profundo ou de uma incisão cirúrgica, talvez faça alguma idéia do tipo de coceira a que me refiro, tinha a impressão de que coisas vivas rastejavam e me perfuravam a carne.
O sol quase desaparecera no horizonte e examinei cuidadosamente as mãos à luz do painel. Agora, as pontas dos dedos estavam vermelhas, em pequenos círculos perfeitos logo acima da parte carnuda onde estão as impressões digitais, nos locais onde ficamos com pequenos calos ao tocarmos violão. Também existiam círculos vermelhos de infecção no espaço entre a primeira e segunda juntas de cada dedo, inclusive o polegar, e na pele entre a segunda junta e a mão. Apertei os dedos da mão direita contra os lábios e retirei-os depressa, com repentino nojo. Uma sensação de atônito horror surgiu-me na garganta, lanuda e asfixiante. A carne onde os pontos vermelhos tinham surgido estava quente, febril, e o resto parecia macio, mole e frio, como a polpa de uma maçã apodrecida.
Levei o resto do caminho procurando convencer-me de que realmente pegara algum tipo de urticária, em algum lugar. Contudo, no fundo de minha mente havia outro pensamento terrível. Quando criança, tive uma avó que passou os últimos dez anos de vida isolada do mundo num quarto do andar superior. Minha mãe lhe levava as refeições e seu nome era um assunto proibido para nós. Posteriormente, vim a saber que ela sofria da moléstia de Hansen ― lepra.
Quando cheguei em casa, telefonei para o Dr. Flanders, no continente. Fui atendido pela secretária eletrônica. O Dr. Flanders estava fazendo um cruzeiro de pesca, mas se fosse urgente o Dr. Ballanger estaria às ordens. O Dr. Flanders regressaria no máximo até a tarde seguinte.
Desliguei num movimento vagaroso e, depois, disquei para Richard. Deixei o telefone chamar uma dúzia de vezes antes de desligar. Depois disso, permaneci indeciso durante algum tempo. A coceira piorava. Parecia emanar da própria carne.
Rolei minha cadeira de rodas até a estante de livros e peguei a velha enciclopédia médica que eu possuía há anos. O livro se mostrou enlouquecedoramente vago. Poderia ser tudo, ou nada.
Recostei-me e fechei os olhos. Podia escutar o velho relógio de navio funcionando na prateleira do outro lado da sala. Ouvi o ronco longínquo de um jato que se dirigia a Miami. E o leve sussurro de minha própria respiração.
Continuei a olhar para o livro.
A percepção do fato foi lenta, mas, de repente, atingiu-me de modo assustador. Eu tinha os olhos fechados, mas, ainda assim, continuava a olhar para o livro. O que eu via era a versão difusa e monstruosa, distorcida, em quatro dimensões, de um livro. E, a despeito de tudo, a imagem era inconfundível.
E não era eu o único que o olhava.
Abri bruscamente os olhos, sentindo um aperto no coração. A sensação diminuiu um pouco, mas não inteiramente. Eu estava olhando para o livro, vendo as letras e diagramas com meus próprios olhos, uma experiência cotidiana perfeitamente normal; mas também via-o de um ângulo diferente, inferior ― via-o com outros olhos. Via não um livro, mas uma coisa estranha, algo de forma monstruosa e intenção ominosa.
Ergui lentamente as mãos para o rosto, tendo a fantasmagórica visão de minha sala transformada numa casa de horror.
Gritei.
Havia olhos observando-me através de fendas na carne de meus dedos. E, enquanto eu olhava, a carne se dilatava e murchava, à medida que eles abriam implacavelmente caminho em direção à superfície.
Mas não fora isto que me fizera gritar. Eu olhara para meu próprio rosto e vira um monstro.
O buggy apareceu no topo da colina e Richard o freou junto à varanda. O motor acelerado roncava e pipocava. Rolei minha cadeira de rodas pelo plano inclinado à direita dos degraus normais e Richard me ajudou a embarcar.
― Muito bem, Arthur ― disse ele. ― A festa é sua. Para onde vamos?
Apontei na direção da água, onde a Grande Duna finalmente começa a descer. Richard meneou afirmativamente a cabeça. As rodas traseiras derraparam, jogando areia, e partimos. Eu costumava espicaçar Richard por causa da maneira pela qual dirigia o buggy, mas não me dei o trabalho de fazê-lo naquela noite. Tinha muito mais em que pensar ― e sentir: eles não queriam o escuro e eu podia senti-los esforçando-se por ver através das bandagens, impelindo-me a retirá-las.
O buggy saltava e rugia pela areia em direção ao mar, parecendo quase decolar do topo das dunas menores. À esquerda, o sol se punha no horizonte com uma glória sangrenta.
Bem à nossa frente, no horizonte, as pesadas nuvens de trovoada se encaminhavam para nós. Os relâmpagos iluminavam o céu e os raios caíam no oceano.
― À sua direita ― disse eu. ― Perto daquele abrigo.
Richard freou o buggy, espalhando areia, ao lado das ruínas apodrecidas do abrigo de troncos e folhas de palmeira. Estendeu a mão para trás e pegou uma pá. Fiz uma careta ao ver isso.
― Onde? ― indagou ele, sem expressão.
― Bem ali ― apontei para o local.
Ele saltou e andou vagarosamente pela areia até o local, hesitou um instante e logo enterrou a pá na areia. Pareceu-me que ele cavou durante longo tempo. A areia que jogava por cima do ombro com a pá parecia úmida. As nuvens ameaçadoras estavam mais escuras, mais altas, e o mar parecia raivoso e implacável à sombra delas e ao brilho refletido do crepúsculo.
Muito antes que Richard parasse de cavar, compreendi que ele não encontraria o garoto.
Eles o haviam removido dali. Eu não colocara bandagens nas mãos na noite anterior, de modo que eles conseguiram ver e agir. Se foram capazes de me usar para matar o menino, poderiam usar-me para removê-lo, mesmo enquanto eu dormia.
― Não há menino algum, Arthur.
Richard jogou a pá suja de areia na parte traseira do buggy e sentou-se fatigadamente ao volante. A tempestade que se aproximava lançava sombras curvas e movediças ao longo da areia. A brisa que se tornava mais forte jogava ruidosamente areia na lataria enferrujada do buggy. Meus dedos coçavam.
― Eles me usaram para removê-lo ― disse eu, obtusamente. ― Estão assumindo o controle, Richard. Estão forçando a porta, um pouco de cada vez. Uma centena de vezes por dia eu me vejo diante de algum objeto perfeitamente familiar ― uma espátula, um quadro, até mesmo uma lata de ervilhas ― sem fazer idéia de como cheguei ali, estendendo as mãos, mostrando-o a eles, vendo-o como eles o vêem, como uma obscenidade, como algo monstruoso e grotesco...
― Arthur ― interrompeu Richard. ― Não, Arihur. Não fale nisso.
Na obscuridade, seu rosto demonstrava desânimo e compaixão.
― Diante de alguma coisa, você disse. Remover o corpo do menino, você disse. Mas você não pode andar, Arthur. Está morto da cintura para baixo.
Toquei o painel do buggy.
― Isto também está morto. Mas quando você entra nele, é capaz de fazê-lo andar. Seria capaz de fazê-lo matar. Ele não poderia deter você, mesmo que quisesse ― repliquei, ouvindo minha própria voz erguer-se histericamente. ― Sou o umbral da porta, será que você não consegue entender? Eles mataram o menino, Richard! Eles removeram o corpo!
― Acho melhor você consultar um médico ― replicou ele em voz baixa. ― Vamos voltar.
Vamos...
― Verifique! Verifique o menino, então! Descubra...
― Você disse que nem mesmo sabia o nome dele.
― Ele devia ser do lugarejo. É um povoado pequeno. Pergunte...
― Falei com Maud Harrington pelo telefone, quando fui buscar o buggy. Se alguém neste estado tem o nariz mais comprido que o de Maud, eu não conheço. Perguntei se ela ouviu falar no filho de alguém, que não voltou para casa na noite passada. Ela respondeu que não.
― Mas ele é do local! Tem que ser!
Richard estendeu a mão para a chave de ignição, mas eu o detive. Ele se virou para fitar-me e comecei a desenrolar as bandagens de minhas mãos.
Sobre o golfo, a trovoada murmurava e rugia.
Não fui ao médico nem tornei a telefonar para Richard. Passei três semanas com as mãos envoltas em bandagens sempre que saía de casa. Três semanas esperando cegamente que aquilo desaparecesse. Não era um procedimento racional; sou capaz de admitir isto. Se eu fosse um homem inteiro, que não precisasse de uma cadeira de rodas em lugar das pernas, ou que levasse uma vida normal com uma ocupação normal, eu talvez fosse consultar o Dr. Flanders ou procurasse Richard. Poderia tê-lo feito, se não fosse pela lembrança de minha avó, isolada, virtualmente encarcerada, sendo devorada viva pela própria carne infectada. Portanto, mantive um silêncio desesperado e rezei para acordar algum dia de manhã e descobrir que tudo fora um pesadelo.
E, pouco a pouco, eu os sentia. Eles. Uma inteligência anônima. Eu nunca realmente tentei imaginar como eles eram ou de onde tinham vindo. Era irrelevante. Eu era o umbral deles, sua janela para o mundo. Recebia deles suficiente feedback para sentir sua repulsa e horror, para saber que nosso mundo era muito diferente do seu. Feedback suficiente para sentir-lhes o ódio cego. Não obstante, eles observavam. Sua carne estava entranhada na minha. Comecei a perceber que me usavam, realmente me manipulavam.
Quando o menino passou, erguendo a mão em seu costumeiro aceno neutro, eu tinha acabado de decidir entrar em contato com Cresswell através de seu telefone no Ministério da Marinha. Richard tinha razão a respeito de uma coisa: eu tinha certeza de que fora contaminado no espaço ou naquela estranha órbita de Vênus. A Marinha me estudaria, mas não me transformaria num monstro. Eu não mais precisaria acordar na escuridão cheia de rangidos e abafar um grito ao senti-los observar, observar, observar.
Voltei as mãos para o menino e dei-me conta de que não as enrolara nas bandagens. Na luz fraca do crepúsculo, pude ver os olhos que observavam silenciosamente. Eram grandes, dilatados, com íris cor de ouro. Certa vez eu esbarrara um deles contra a ponta de um lápis e sentira a dor angustiante subir pelo braço. O olho deu a impressão de fitar-me com um ódio contido que era pior que a dor física. Não esbarrei novamente.
E agora, eles observavam o menino. Sentia mente desviar-se. Um momento depois, meu controle desapareceu. A porta estava aberta. Cambaleei pela areia em direção ao menino, minhas pernas movimentando-se sem nervos, como uma tábua ao sabor das ondas. Meus olhos pareceram fechar-se a passei a ver apenas através daqueles olhos estranhos ― vi um monstruoso panorama marinho de alabastro, encimado por um céu semelhante a um imenso manto cor de púrpura; vi um barraco inclinado, em ruínas, que poderia ter sido a carcaça de alguma desconhecida criatura carnívora; vi uma criatura abominável que se movia, respirava e carregava sob o braço um objeto de madeira e arame, um objeto construído de ângulos retos geometricamente impossíveis.
Imagino o que ele pensou, aquele pobre menino sem nome com a peneira sob o braço e os bolsos estofados com um conglomerado de moedas sujas de areia perdidas pelos turistas, o que ele pensou ao ver-me cambalear em sua direção com as mãos estendidas como um maestro cego regendo uma orquestra lunática, o que ele pensou quando o que restava de luz incidiu em minhas mãos, vermelhas, rachadas e brilhantes com sua carga de olhos, o que ele pensou quando as mãos fizeram aquele brusco movimento no ar, logo antes de sua cabeça explodir.
Eu sei o que pensei.
Pensei que espiava pela borda do universo e via as labaredas do próprio inferno.
O vento fustigava as ataduras, transformando-as em bandeiras drape. jantes, enquanto eu as desenrolava As nuvens tinham escondido o que restava do crepúsculo e as dunas estavam escuras, cobertas de sombras. As nuvens pareciam correr e fervilhar acima de nós.
― Precisa prometer-me uma coisa, Richard ― declarei, acima do barulho do vento. ― Você deve correr caso pareça que eu possa tentar... machucá-lo. Está entendendo?
― Sim.
Sua camisa aberta no pescoço chicoteava com o vento. O rosto estava sério, decidido, e seus olhos eram pouco mais que órbitas no escuro.
A última atadura caiu.
Olhei para Richard. E eles olharam para Richard. Vi um rosto que conheço há cinco anos e passei a amar. Eles viram um monolito vivo, distorcido.
― Você os vê ― disse eu, em voz rouca. ― Agora, você os vê.
Ele recuou involuntariamente. Seu rosto foi invadido por súbito e incrédulo pavor. Um relâmpago iluminou o céu. Os trovões andavam entre as nuvens e o mar se tornara mais negro que o próprio Estige.
― Arthur...
Como ele era hediondo! Como podia eu ter convivido com ele, falado com ele? Não era uma criatura, mas uma pestilência muda. Ele era...
― Fuja! Fuja, Richard!
E ele fugiu. Correu em saltos enormes. Transformou-se num andaime de encontro ao céu ameaçador. Minhas mãos se ergueram, voando sobre minha cabeça num gesto gritante e estranho, os dedos estendidos na direção da única coisa que me era familiar naquele mundo de pesadelo ― as nuvens.
E as nuvens responderam.
Houve o risco enorme, branco-azulado, de um raio que pareceu ser o final do mundo.
Atingiu Richard, envolvendo-o. A última coisa de que me lembro é o cheiro elétrico de ozônio e o odor de carne queimada.
Quando acordei, estava placidamente sentado em minha varanda, olhando na direção da Grande Duna. A tempestade passara e o ar estava agradavelmente fresco. Havia uma fina fatia de lua. A areia era virginal nem o menor sinal de Richard ou do buggy.
Olhei para minhas mãos. Os olhos estavam abertos, mas esgazeados. Eles estavam exaustos. Dormiam.
Eu sabia muito bem o que precisava ser feito. Antes que a porta se abrisse ainda mais, tinha que ser trancada. Para sempre. Eu já podia notar os primeiros sinais de alteração estrutural nas mãos. Os dedos começavam a encurtar-se... e a mudar.
Havia uma pequena lareira na sala e, na estação, eu costumava acender um fogo contra o frio úmido da Flórida. Acendi um agora, agindo depressa. Não fazia idéia de quando eles despertariam para o que eu estava fazendo.
Quando o fogo pegou bem, saí até o tambor de querosene e embebi ambas as mãos. Eles acordaram imediatamente, gritando em agonia. Quase não consegui chegar de volta à sala ― e à lareira.
Mas cheguei.
Isso ocorreu há sete anos.
Ainda estou aqui; ainda observo os foguetes subirem. Têm sido mais numerosos, ultimamente. Este é um governo com mentalidade espacial. Até mesmo já se fala em novas sondas tripuladas para Vênus.
Descobri o nome do menino, embora não faça diferença. Ele pertencia realmente ao lugarejo. Mas a mãe esperava que ele passasse a noite em casa de um amigo, no continente, e só deu alarme na segunda-feira seguinte. Richard... bem, todo mundo achava Richard um sujeito esquisito. Desconfiam que ele tenha ido para Maryland ou se amasiado com alguma mulher.
Quanto a mim, sou tolerado, embora goze também de grande reputação por excentricidade. Afinal, quantos ex-astronautas escrevem regularmente a seus representantes eleitos, em Washington, sugerindo que o dinheiro da exploração do espaço poderia ser melhor empregado em outras coisas?
Dou-me bem com estes ganchos no lugar das mãos. Sofri dores horríveis durante um ano ou mais, mas o corpo humano é capaz de adaptar-se a quase tudo. Aprendi a barbear-me com eles e até mesmo a dar o laço nos sapatos. E, como podem ver, minha datilografia é correta e fácil. Não espero encontrar qualquer dificuldade para enfiar o cano da espingarda na boca e puxar o gatilho. Pois tudo começou outra vez, há três semanas.
Há um perfeito círculo de doze olhos dourados em meu peito.
* * *
Fonte: www.portaldetonando.com.br