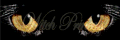A Câmara apresenta mais um clássico. O mestre da litaratura pop retorna às nossas páginas com seu famoso conto que deu origem ao filme "Colheita Maldita"
AS CRIANÇAS DO MILHARAL
Stephen King
AS CRIANÇAS DO MILHARAL
Stephen King

Burt ligou o rádio alto demais e não diminuiu o volume porque estavam à beira de outra discussão e ela não queria que isto acontecesse.
Vicky disse alguma coisa.
― O quê? ― berrou ele.
― Abaixe isso! Quer estourar-me os tímpanos?
Ele mordeu com força a resposta que lhe viera à boca e diminuiu o volume do rádio.
Vicky abanava-se com o lenço, embora o Thunderbird tivesse ar condicionado.
― Onde estamos, afinal?
― Em Nebraska.
Ela lhe lançou um olhar frio e neutro.
― Sim, Burt. Sei que estamos em Nebraska. Mas onde, diabo, estamos?
― Você tem o mapa rodoviário. Procure. Ou não sabe ler?
― Que espirituoso! Foi por isso que saímos da rodovia. Para podermos ver quinhentos quilômetros de milharais. E gozarmos do espírito e sabedoria de Burt Robeson.
Ele segurava o volante com tanta força que os nós dos dedos estavam branca. Fazia-o porque pensava que, caso relaxasse um pouco os dedos, uma daquelas mãos simplesmente voaria do volante e acertaria a ex-Rainha do Baile do Ginásio bem no mastigador de alfafa. Estamos salvando nosso casamento, refletiu. Sim. Da mesma forma que salvamos as aldeias na guerra do Vietnã.
― Vicky ― disse ele com cautela. ― Dirigi dois mil e quatrocentos quilômetros nas rodovias principais desde que saímos de Boston. Dirigi o tempo todo, porque você se recusou a revezar-se comigo. Então...
― Não me recusei! ― protestou Vicky com veemência. ― Só porque tenho enxaqueca quando dirijo muito tempo seguido...
― Então, quando perguntei se você faria o papel de navegadora para mim em algumas das estradas secundárias, você respondeu: Claro, Burt. Foram exatamente suas palavras:
Claro, Burt. Então...
― Às vezes eu fico imaginando como acabei casada com você.
― Dizendo duas pequenas palavras.
Ela o fitou por um momento, com os lábios brancos de tão apertados. Em seguida, pegou o atlas rodoviário, virando as páginas com violência.
Fora um erro sair da rodovia principal, pensou Burt sombriamente. Uma pena, também, porque até então vinham muito bem, tratando-se mutuamente quase como seres humanos. Às vezes parecia que aquela viagem à Costa Oeste, cuja finalidade ostensiva era visitar o irmão e a cunhada de Vicky, mas realmente uma última e desesperada tentativa de remendar seu casamento, ia dar certo.
Contudo, desde que haviam deixado a rodovia principal as coisas vinham piorando outra vez. Até que ponto? Bem, na verdade, até um ponto terrível.
― Saímos da rodovia em Hamburg, certo?
― Certo.
― Não há mais nada até Gatlin ― disse ela. ― Trinta e dois quilômetros. Aqui indica um trecho largo na estrada. Supõe que poderíamos parar ali para comer alguma coisa? Ou seu todo-poderoso cronograma de viagem nos obriga a prosseguirmos até as duas da tarde, como ontem?
Ele tirou os olhos da estrada para encará-la.
― Já estou farto, Vicky. No que me diz respeito, podemos dar a volta aqui mesmo e partir para casa, para falarmos com aquele advogado que você queria consultar. Porque nada está dando certo e..
Ela tornara a olhar para a estrada, o rosto fechado numa expressão de pedra, que de repente se transformou em surpresa e temor.
― Burt, olhe o que está..
Ele retomou a atenção à estrada bem a tempo de ver algo desaparecer sob o Thunderbird. Um instante depois, enquanto ainda estava mudando o pé do acelerador para o freio, sentiu um solavanco horripilante sob as rodas dianteiras e, logo em seguida, sob as traseiras. Foram atirados para a frente quando o carro ficou ao longo da linha central da estrada, desacelerando de oitenta para zero ao longo de negras marcas de pneus.
― Um cão ― disse ele. ― Diga-me que foi um cão, Vicky.
O rosto dela estava pálido como requeijão caseiro.
― Um menino. Um garotinho. Ele saiu correndo do milharal e... parabéns, tigre.
Abriu a porta do carro com súbita afobação, debruçou-se para fora e vomitou.
Burt ficou sentado, ereto, ao volante do Thunderbird, as mãos na mesma posição que antes e apenas um pouco relaxadas. Por longo tempo, não se deu conta de coisa alguma exceto do forte e desagradável cheiro de fertilizante.
Então, percebeu que Vicky saíra do carro e, olhando pelo retrovisor lateral, viu-a tropeçando desajeitada na direção de algo que parecia uma pilha de trapos.
Normalmente, era uma mulher graciosa, mas agora sua graciosidade se fora, roubada.
Homicídio culposo. É isso que dirão. Desviei o olhar da estrada
Desligou o motor do carro e saltou. O vento roçava suavemente no milharal em desenvolvimento, da altura de um homem, produzindo um som esquisito semelhante a uma espécie de respiração. Agora, Vicky estava em pé junto à pilha de trapos e Burt ouviu-a soluçar.
Estava a meio caminho entre o carro e Vicky quando algo lhe atraiu o olhar à esquerda da estrada, uma berrante mancha vermelha entre todo aquele verde, brilhando como tinta de celeiro.
Parou, olhando diretamente para o milharal. Viu-se pensando (qualquer coisa para desviar a mente daqueles trapos que não eram trapos) que a estação devia ser fantasticamente propícia ao cultivo do milho. O milharal estava crescido e cerrado, quase a ponto de produzir. Seria possível enveredar por aquelas fileiras regulares e cheias de sombra e ter que passar o dia inteiro procurando o caminho de volta. Ali, porém, a regularidade das fileiras fora quebrada; vários talos de milho estavam quebrados e caídos para os lados. E o que seria aquilo, mais além, na sombra?
― Burt! ― berrou Vicky. ― Você não vem ver? Para poder contar a seus parceiros de pôquer o que matou em Nebraska! Você não...
Mas o resto da frase perdeu-se entre novos soluços. A sombra de Vicky cercava-lhe os pés. Era quase meio-dia.
A sombra se fechou sobre Burt quando ele entrou no milharal. A brilhante mancha de tinta vermelha era sangue. Um zumbido grave e sonolento partia das moscas que pousavam, tiravam uma prova do sangue e tornavam a voar... talvez para contar às companheiras. Havia mais sangue nas folhas do interior do milharal. Claro que o sangue do menino atropelado não poderia ter respingado tão longe? Então, Burt parou ao lado do objeto que vira da estrada. Apanhou-o.
Naquele ponto, a regularidade das fileiras de milho estava perturbada. Vários talos inclinavam-se em ângulos diversos e dois deles tinham sido quebrados. Havia sulcos na terra. E sangue. O milharal sussurrava com o vento. Burt estremeceu e voltou à estrada.
Vicky estava histérica, gritando-lhe palavras ininteligíveis, rindo e chorando ao mesmo tempo. Quem poderia imaginar que tudo fosse terminar de forma tão melodramática?
Olhou para a mulher e percebeu que ele não estava passando por uma crise de identidade, ou uma difícil transição na vida, ou qualquer daquelas coisas que estavam tão em moda. Ele a detestava. Deu-lhe um forte tapa no rosto.
Ela emudeceu repentinamente e levou a mão à marca vermelha que os dedos dele lhe tinham deixado no rosto.
― Você irá para a cadeia, Burt ― declarou solenemente.
― Creio que não ― replicou ele, depositando aos pés dela a maleta que encontrara no milharal.
― O que...?
― Não sei. Acho que pertencia a ele.
Burt apontou para o corpo que jazia estendido de bruços na estrada. Não mais de treze anos de idade, pela aparência.
A maleta era velha. O couro marrom surrado e arranhado pelo uso. Depois pedaços de corda de pendurar roupas tinham sido passados em volta e atados em laços grandes, que mais pareciam uma palhaçada. Vicky abaixou-se para desatar um deles. Viu sangue na corda e recuou.
Burt ajoelhou-se e virou delicadamente o corpo.
― Não quero ver ― disse Vicky.
Entretanto, seus olhos não conseguiram deixar de fitar o cadáver. E quando o rosto cego, de olhos esbugalhados, deu a impressão de olhar para ela, Vicky gritou. O rosto do menino estava sujo, contraído numa careta de pavor. Sua garganta fora cortada.
Burt levantou-se e tomou Vicky nos braços quando ela começou a cair.
― Não desmaie ― disse ele baixinho. ― Está ouvindo, Vicky? Não desmaie.
Continuou a repetir a frase até que Vicky começou a recobrar-se e se agarrou a ele.
Pareciam estar dançando no meio da estrada fustigada pelo sol do meio-dia, com o cadáver do menino a seus pés.
― Vicky?
― Que é?
O som da voz foi abafado de encontro à camisa de Burt.
― Volte ao carro e guarde as chaves no bolso. Retire o cobertor do assento traseiro e pegue meu rifle. Traga-os para cá.
― O rifle?
― Alguém degolou o menino. Talvez o assassino esteja nos observando.
Vicky ergueu vivamente a cabeça e seus olhos arregalados fitaram o milharal que se estendia até onde a vista alcançava, ondulando de acordo com as suaves depressões e elevações do terreno.
― Imagino que ele tenha fugido. Mas por que nos arriscarmos? Vá. Faça o que eu disse.
Ela andou empertigadamente até o automóvel, acompanhada pela própria sombra, uma mascote escura que se mantinha próxima àquela hora do dia. Quando ela se inclinou para o banco traseiro, Burt agachou-se ao lado do menino. Branco, masculino, sem marcas distintas. Atropelado, sim; mas o Thunderbird não lhe cortara a garganta. Um corte irregular, ineficiente ― nenhum sargento do exército ensinara ao assassino os melhores métodos para matar em combate corpo-a-corpo ― mas o efeito final fora mortal. O menino correra ou fora empurrado através dos últimos dez metros de milharal, ou morto ou mortalmente ferido. E Burt Robeson o atropelara. Se o menino ainda estivesse vivo quando o carro lhe passou por cima, sua vida fora abreviada de, no máximo, trinta segundos.
Vicky cutucou-lhe o ombro e ele se sobressaltou.
Ela trazia o cobertor marrom do exército sobre o braço esquerdo e a espingarda de caça de repetição na mão direita, mantendo O olhar desviado do cadáver. A arma ainda estava na capa de lona. Burt pegou o cobertor e o estendeu na estrada. Rolou o cadáver para cima dele. Vicky emitiu um leve gemido desesperado.
― Você está bem? ― Burt ergueu os olhos para ela. ― Vicky?
― Estou bem ― respondeu ela em voz estrangulada.
Burt virou as bordas do cobertor para cima do cadáver e o ergueu nos braços, detestando o peso morto. O corpo do menino tentou fazer um U entre seus braços e escorregar para o chão. Burt agarrou-o com mais força e o carregou para o carro.
― Abra a mala ― grunhiu ele.
A mala do carro estava cheia de bagagens, maletas e souvenirs. Vicky passou a maior parte para o banco traseiro e Burt deixou o cadáver do menino escorregar para o espaço aberto. Fechou a tampa da mala e deixou escapar um suspiro de alívio.
Vicky estava em pé junto à porta do motorista, ainda segurando a espingarda guardada na capa de lona.
― Coloque isso aí atrás e entre no carro.
Burt consultou o relógio e verificou que apenas quinze minutos se tinham passado.
Pareceram-lhe horas.
― E a maleta? ― indagou Vicky.
Burt voltou trotando pela estrada até o lugar onde a maleta estava sobre a linha branca central da pista, como o ponto focal de uma pintura impressionista. Pegou-a pela alça gasta e fez uma pausa. Tinha a forte sensação de estar sendo observado. Era uma sensação sobre a qual lera nos livros, principalmente de ficção barata, e de cuja existência sempre duvidara. Agora, não duvidava mais. Era como se existissem pessoas no milharal, talvez muitas delas, calculando friamente se a mulher conseguiria retirar a arma da capa e dispará-la antes que pudessem agarrá-lo, arrastá-los para o interior sombrio do milharal, cortar-lhe o pescoço...
Com o coração aos saltos, correu de volta ao carro, arrancou as chaves da fechadura da mala e embarcou.
Vicky chorava outra vez. Burt deu partida no carro e antes que se passasse um minuto já não conseguia ver pelo retrovisor o lugar onde tudo acontecera.
― Qual você disse que era a próxima cidade? ― perguntou.
― Oh ― disse ela, debruçando-se outra vez sobre o atlas rodoviário. Gatlin. Devemos chegar lá em dez minutos.
― Parece ter tamanho suficiente para possuir uma delegacia de polícia?
― Não. É apenas um pontinho no mapa.
― Talvez exista pelo menos um policial responsável pela localidade.
Viajaram em silêncio por algum tempo. Passaram por um silo à esquerda da estrada.
Excetuando isso, só milharais. Nenhum carro passou por eles em sentido contrário. Nem mesmo um caminhão de fazendeiro.
― Passamos por algum veículo desde que saímos da rodovia principal, Vicky?
Ela pensou um pouco.
― Por um carro e um trator. Naquele cruzamento.
― Não, desde que entramos nesta estrada. Rodovia 17.
― Não, creio que não passamos.
Antes, isto poderia ser o prefácio de algum comentário mordaz. Agora, ela se limitava a olhar pela sua metade do pára-brisa, vendo a faixa de asfalto que parecia rolar velozmente para baixo do carro e a interminável risca tracejada marcando o centro.
― Vicky? Pode abrir a maleta?
― Acha que pode fazer diferença?
― Não sei. Talvez faça.
Enquanto ela desatava os nós (o rosto tenso de uma maneira peculiar ― inexpressivo mas com os lábios apertados ― que fazia Burt lembrar sua mãe quando limpava as tripas da galinha dos domingos), Burt tornou a ligar o rádio.
A estação de música pop que estavam escutando antes era quase totalmente inaudível por causa da estática e Burt girou vagarosamente o botão de sintonia. fazendo o ponteiro vermelho deslocar-se pelo mostrador. Noticiários agrícolas. Tammy Winette. Tudo muito distante, numa balbúrdia distorcida. Então, perto da extremidade do mostrador, uma única palavra foi berrada pelo alto-falante, tão alta e nítida que os lábios que a pronunciaram bem poderiam estar junto à grade do rádio no painel do carro:
― EXPIAÇÃO! ― berrou a voz
Burt soltou um grunhido de surpresa Vicky sobressaltou-se.
― SÓ PELO SANGUE DO CORDEIRO SEREMOS SALVOS! ― rugiu a voz.
Burt apressou-se em diminuir o volume. A estação era bastante próxima, sem dúvida.
Tão próxima que... sim, lá estava ela, erguendo-se acima do milharal, quase no horizonte, um tripé de aço parecendo um pedaço de teia de aranha de encontro ao azul do céu: a torre transmissora.
― Meus irmãos e minhas irmãs, expiação é a palavra ― disse a voz, assumindo um tom mais coloquial.
Ao fundo, longe do microfone, outras vozes murmuraram: Amém!
― Existem aqueles que pensam que está muito bem saírem pelo mundo, como se pudessem trabalhar e andar pelo mundo sem serem maculados por ele. Ora, é isso que a palavra de Deus nos ensina?
Longe do microfone, mas bem alto:
― Não!
― SAGRADO JESUS! ― berrou o evangelista. Em seguida as palavras vieram numa cadência forte e bem marcada, quase tão arrebatadora quanto o ritmo violento de um rock-and-roll: ― Quando aprenderão eles que esse caminho é a morte? Quando compreenderão que os salários do mundo são pagos no outro lado? Hem? Hem? O Senhor disse que existem muitas moradas em Sua casa. Mas não há lugar para o fornicador. Não há lugar para o cobiçoso. Não há lugar para o que profana o milho. Não há lugar para o homossexual. Não há lugar...
Vicky desligou o rádio.
― Essa bobagem me enoja.
― O que disse ele? ― quis saber Burt. ― Que disse ele a respeito do milho?
― Não escutei ― respondeu Vicky, tentando desatar a segunda corda.
― Ele disse alguma coisa a respeito do milho. Sei que disse.
― Consegui! ― exclamou Vicky.
A maleta abriu-se em seu colo. Estavam passando por uma placa que anunciava: GATLIN 8 KM. DIRIJA DEVAGAR. PROTEJA NOSSAS CRIANÇAS. O anúncio fora colocado pelos Elks locais. Tinha buracos de balas calibre 22.
― Meias ― disse Vicky. ― Dois pares de calças... uma camisa... um cinto... uma gravata com um...
Ela ergueu a mão, mostrando a Burt o pregador de gravata folheado a ouro que começava a descascar-se.
― De quem será isto?
Burt lançou um rápido olhar ao objeto.
― De Hopalong Cassidy, creio.
― Oh.
Vicky recolocou o pregador de gravata na maleta. Começou a chorar outra vez.
Depois de algum tempo, Burt indagou:
― Algo naquele sermão pelo rádio não lhe pareceu esquisito?
― Não. Quando era criança, ouvi o bastante dessas baboseiras para me fartar pelo resto da vida.
― Não lhe soou como um jovem? Aquele pregador?
Vicky emitiu um riso sem humor.
― Talvez um adolescente; e dai'? É exatamente isso que é monstruoso nesses fanáticos religiosos. Gostam de prender os jovens quando a mente ainda está em formação, ainda é moldável. Sabem como aplicar todos os freios e contrapesos emocionais. Você devia ter comparecido a algumas das reuniões religiosas às quais meus pais me arrastavam... algumas nas quais eu fui "salva".
― Vejamos... Havia Baby Hortense, a Maravilha Cantante. Tinha oito anos de idade.
Aparecia para cantar "Amparados nos Braços Eternos", enquanto o pai passava a sacola de esmolas, dizendo a todos: "Sejam generosos, agora. Não decepcionemos essa filhinha de Deus". Havia também Norman Staunton, que pregava o fogo e as lavas do inferno na sua roupinha de Lord Fauntleroy, de calças curtas. Tinha apenas sete anos.
Meneou afirmativamente a cabeça ante o olhar incrédulo de Burt.
― E não eram só eles dois. Havia muitos deles no circuito. Eram boa receita ― disse Vicky, cuspindo a palavra. ― Ruby Stampnell, uma curandeira de dez anos de idade. As Irmãs Grace, que costumavam aparecer com pequenos halos de zinco na cabeça e... oh!
Uma pausa. Então:
― O que é isto?
Burt virou-se para olhar. Vicky fitava, extasiada, um objeto que retirara da maleta e tinha nas mãos. Estas, passando distraidamente pelo fundo da maleta enquanto Vicky falava, tinham encontrado aquilo. Burt parou o carro para ver melhor. Sem dizer uma palavra, Vicky passou-lhe o objeto.
Era um crucifixo feito com tranças de palha de milho, antes verde mas agora seca.
Atado a ele por uma cordinha de fibras de pendão de milho havia um sabugo anão. A maioria dos grãos foram cuidadosamente removidos, provavelmente com um canivete, um a um. Os grãos que restavam formavam uma tosca figura cruciforme em baixo relevo amarelado. Olhos de grãos de milho, com cortes verticais que sugeriam pupilas.
Braços de grãos de milho, estendidos para os lados; as pemas juntas, terminando numa tosca representação de pés descalços. Em cima, quatro letras também formadas de grãos amarelos contra o sabugo branco: INRI.
― Uma fantástica peça de artesanato ― comentou Burt.
― É horroroso ― declarou Vicky numa voz tensa, sem entonação. Jogue-o fora.
― A polícia talvez deseje vê-lo, Vicky.
― Porquê?
― Bem, não sei por que. Talvez...
― Jogue-o fora. Quer fazer isso por mim, por favor? Não, quero essa coisa dentro do carro.
― Vou colocá-lo aí atrás. Tão logo falarmos com a polícia, livrarnos-emos dele, de um modo ou de outro. Prometo. Está bem?
― Ou, faça o que quiser com essa droga! ― berrou Vicky. ― É o que vai fazer, de qualquer maneira!
Perturbado, Burt jogou o objeto para a parte traseira do carro, onde ele caiu sobre uma pilha de roupas. O olhos de grãos de milho fitavam arrebatadamente a luz do teto do Thunderbird. Burt deu a partida, com o cascalho jorrando sob os pneus.
― Daremos à polícia o cadáver e tudo que estava dentro da maleta prometeu ele. ― Depois, esqueceremos tudo.
Vicky não respondeu. Fitava as mãos.
Um quilômetro e meio adiante, os infindáveis milharais afastavam-se da estrada, deixando à mostra casas de fazenda e celeiros. Viram galinhas sujas ciscando num quintal. Nos telhados dos celeiros havia anúncios desbotados de Coca-Cola e fumo de mascar. Passaram por um grande cartaz que dizia: SÓ JESUS SALVA. Passaram por um café com uma bomba de gasolina da Conoco, mas Burt decidiu ir ao centro da cidade, se esta existisse. Caso contrário, poderiam retomar até o café. Só depois de passarem pelo local ocorreu-lhe que o estacionamento estava vazio, a não ser por uma velha pickup empoeirada que parecia estar com os pneus vazios.
De repente, Vicky começou a rir, produzindo um som agudo que pareceu a Burt muito próximo da histeria.
― O que é tão engraçado?
― As placas ― respondeu ela, engasgando-se e soluçando. ― Não as leu? Quando chamaram esta região de Cinturão da Bíblia certamente não estavam brincando. Oh, meu Deus, lá vem outro grupo.
E tornou a rir histericamente, tapando a boca com as mãos.
Cada placa tinha apenas uma palavra. Estavam apoiadas em paus caiados que tinham sido cravados no acostamento arenoso ― há muito tempo, a julgar pela aparência.
Vinham a intervalos de três metros e Burt leu: UMA... NUVEM... DE... DIA... UMA... COLUNA.... DE... FOGO... A... NOITE.
― Só esqueceram uma coisa ― comentou Vicky, ainda rindo incontrolavelmente.
― O quê? ― quis saber Burt, franzindo a testa.
― Creme de barbear.
Ela comprimiu o punho cerrado contra a boca aberta para conter o riso, mas as risadinhas meio-histéricas escapavam-lhe pelos cantos dos lábios como bolhas efervescentes de cerveja.
― Vicky, você está bem?
― Estarei. Tão logo nos encontrarmos a mil e quinhentos quilômetros daqui, na ensolarada e pecaminosa Califómia, com as Montanhas Rochosas entre nós e Nebraska.
Outro grupo de placas se aproximou e eles leram em silêncio: tomai... ISTO... E... COMEI... DISSE... O... SENHOR... DEUS.
Ora, refletiu Burt, por que motivo associo imediatamente o pronome indefinido ao milho? Não é essa a frase que dizem quando comungam? Fazia tanto tempo que ele não entrava numa igreja, que nem se lembrava. Não ficaria surpreso se usassem milho para fazer hóstias, naquela região. Abriu a boca para dizer isto a Vicky, mas mudou de idéia.
Chegaram ao topo de uma pequena lombada e viram Gatlin logo a frente. Três quarteirões apenas, parecendo o cenário cinematográfico de um filme sobre a Depressão.
― Tem que haver um policial ― disse Burt, tentanto adivinhar por que motivo a visão daquela aldeia caipira cochilando ao sol lhe provocava um nó de temor na garganta.
Passaram por uma placa indicativa de que a velocidade máxima era, agora, quarenta e cinco quilômetros por hora, e por um cartaz pipocado de ferrugem que dizia: VOCÊ ESTA ENTRANDO EM GATLIN, A MELHOR CIDADE PEQUENA DE NEBRASKA ― OU DE QUALQUER OUTRO LUGAR! 5.431 HABITANTES.
Olmos empoeirados erguiam-se em ambos os lados da estrada, a maioria deles quase mortos. Passaram pela Serraria Gatlin e por um posto de gasolina 76, onde as placas com os preços balançavam-se levemente à brisa quente do meio-dia: COMUM $ 35.9 ― AZUL $ 38.9. Outra dizia: BOMBA DE ÓLEO DIESEL NOS FUNDOS.
Atravessaram a Rua dos Olmos e depois a Rua das Bétulas, chegando à praça da cidade.
As casas que ladeavam as ruas eram de madeira, com varandas fechadas por telas de arame. Angulosas e funcionais. Os gramados amarelados e sem viço. Lá na frente, um cão vira-lata veio vagarosamente ao centro da Rua dos Bordos e olhou para eles por um momento. Depois, deitou-se na rua com o focinho entre as patas.
― Pare ― disse Vicky. ― Pare bem aqui.
Obediente, Burt encostou o carro ao meio-fio.
― Dê a volta. Vamos levar o cadáver a Grand Island. Não fica muito longe, não é? Vamos fazer isso.
― O que há de errado, Vicky?
― Que quer dizer com "o que há de errado?" ― perguntou ela, erguendo a voz num tom agudo. ― Esta cidade está vazia Burt. Não há ninguém aqui, com exceção de nós. Será que não consegue sentir isso?
Ele sentira alguma coisa; ainda sentia. Mas...
― É apenas impressão ― replicou. ― Mas, certamente, é apenas um povoado.
Provavelmente estão todos na praça, num concurso de bolos ou num jogo de bingo.
― Não há ninguém aqui ― declarou Vicky com uma ênfase tensa e esquisita. ― Você não viu aquele posto da 76, lá atrás?
― Claro, perto da serraria. E daí?
A mente de Burt estava distraída, escutando o canto de uma cigarra num das olmos próximos. Ele podia sentir o cheiro de milho, de rosas empoeiradas e de fertilizantes ― naturalmente. Pela primeira vez, estavam fora da rodovia principal e numa cidade. Uma cidade num estado que ele não conhecia (embora tivesse sobrevoado num Boeing 727 da United Airlines), e, de algum modo, tudo parecia estar mal e, ao mesmo tempo, bem.
Em algum lugar mais adiante haveria uma lanchonete, um cinema chamado Bijou e uma escola batizada em homenagem a John Fitzgerald Kennedy.
― Burt, os preços anunciados era de 35.9 por galão para a gasolina comum e 38.9 para a especial. Ora, desde quando alguém neste país não paga tais preços?
― Há pelo menos quatro anos ― admitiu ele. ― Mas, Vicky...
― Estamos em plena cidade, Burt, mas não há um só carro! Nenhum carro!
― Grand Island fica a cento e dez quilômetros daqui. Ficaria esquisito levarmos o cadáver para lá.
― Não importa.
― Ouça, vamos apenas até o fórum da cidade e...
― Não!
Ali estava, com os diabos. Ali estava o motivo pelo qual o casamento estava naufragando. Numa palavra: Não. Não farei isso. Não, senhor. Além disso, prenderei a respiração até ficar azul se você não fizer o que eu quero.
― Vicky ― disse ele.
― Quero ir embora daqui, Burt.
― Vicky, escute-me.
― Dê a volta. Vamos embora.
― Vicky, quer parar um minuto?
― Pararei quando estivermos seguindo em sentido contrário. Agora, vamos.
― Temos uma criança morta no porta-malas do carro! ― rugiu Burt.
E sentiu nítido prazer ao vero modo pelo qual ela se encolheu, o modo pelo qual o rosto dela deu a impressão de desmanchar-se. Em voz ligeiramente mais baixa, ele prosseguiu:
― O menino foi degolado, empurrado para a estrada e eu o atropelei. Agora, vou até o fórum, ou qualquer coisa semelhante que eles tenham aqui, comunicar o que aconteceu.
Se você quer voltar a pé para a rodovia principal, vá em frente. Eu a pegarei no caminho. Mas não me diga para dar a volta e viajar cento e dez quilômetros até Grand Island como se nada houvesse no porta-malas a não ser um saco de lixo. O menino é filho de alguém e vou comunicar a ocorrência antes que o assassino consiga ir muito longe.
― Filho da puta ― disse ela, chorando. ― O que estou fazendo em sua companhia?
― Não sei ― replicou Burt. ― Não sei de mais nada. Mas a situação pode ser remediada, Vicky.
Deu partida no carro. O cão ergueu a cabeça ao ligeiro cantar de pneus e depois tornou a pousá-la entre as patas.
Percorreram o quarteirão que restava até a praça. Na esquina das ruas Principal e
Agradável, a Rua Principal dividia-se em duas. Existia realmente uma praça da cidade, um parque gramado com um coreto no centro. Na outra extremidade, onde a Rua Principal se transformava novamente numa só, existiam dois prédios com aparência oficial. Burt conseguiu ler o que estava escrito num deles: CENTRO MUNICIPAL DE GATLIN.
― É ali ― disse ele.
Vicky permaneceu calada.
Na metade da praça, Burt tornou a parar o carro. Estavam em frente a um restaurante, o Gatlin Bar and Grill.
― Aonde você vai? ― quis saber Vicky, alarmada, quando ele abriu a porta do automóvel.
― Descobrir onde estão todos. O letreiro na vitrina diz "aberto'".
― Não vai me deixar aqui sozinha.
― Então venha. Quem a está impedindo?
Ela destrancou a porta direita e saltou, enquanto ele contornava a frente do Thunderbird.
Vendo o quanto ela estava pálida, sentiu uma ponta de piedade dela. Uma piedade sem esperanças.
― Está escutando? ― perguntou Vicky quando ele se aproximou dela.
― Escutando o quê?
― O nada. Nenhum carro. Nenhuma pessoa. Nenhum trator. Nada.
Então, vindo de um quarteirão de distância, ouviram o riso agudo e alegre de crianças.
― Estou escutando crianças ― disse Burt. ― Você não está?
Ela o encarou, perturbada.
Burt abriu a porta do restaurante e entrou para o calor seco, antisséptico. O chão estava coberto de poeira. O brilho dos cromados embaçado. As pás de madeira dos ventiladores presos ao teto paradas. Mesas vazias. Tamboretes do bar vazios. Mas o espelho da parede por detrás do balcão do bar fora quebrado e havia algo mais... num instante, Burt percebeu: todas as torneiras de chope tinham sido quebradas e arrancadas.
A voz alegre de Vicky tinha um falsete nervoso:
― Claro. Pergunte a qualquer um. Com licença, senhor, mas poderia informar...
― Oh, cale a boca.
Mas a voz de Burt era inexpressiva, desprovida de força.
Achavam-se numa faixa de sol que entrava pela grande vitrina da frente do restaurante e, mais uma vez, Burt teve aquela sensação de ser observado; pensou no cadáver do menino no porta-malas do carro e no riso de crianças. Aparentemente sem motivo, uma frase lhe veio à mente ― uma frase de som estranho, que se repetia insistentemente em seu cérebro: Comprar no escuro, sem ver. Comprar no escuro, sem ver. Comprar no escuro, sem ver.
Seu olhar passou pelos velhos cartazes de papelão amarelado presos com percevejos à parede por detrás do balcão: CHEESEBURGER $.35 A MELHOR SODA DO MUNDO $ .1O ― TORTA DE MORANGO COM RUIBARBO $ .25 ― HOJE ― PRESUNTO ESPECIAL & MOLHO DA CASA C/PURÉ DE BATATAS $ .85.
Há quanto tempo ele vira preços como aqueles?
Vicky tinha a resposta:
― Veja isto ― disse ela em voz muito aguda, apontando para o calendário na parede. ― Eles estão nessa sopa de ervilhas há doze anos, creio.
Soltou um riso estridente.
Burt foi até lá. A ilustração na folhinha mostrava dois meninos nadando num remanso, enquanto um cãozinho engraçadinho roubava-lhes as roupas. Abaixo da ilustração, a legenda: CUMPRIMENTOS DA SERRARIA GATLIN ― Você Quebra, Nós Consertamos O mês era agosto de 1964.
― Não compreendo ― balbuciou Burt. ― Mas tenho certeza de que...
― Você tem certeza! ― gritou histericamente Vicky. ― Você tem certeza! Esse é o seu problema Burt: você passou a vida inteira tendo certeza!
Ele voltou à porta e Vicky o seguiu.
― Aonde vai?
― Ao Centro Municipal.
― Burt, por que você tem que ser tão teimoso? Sabe que alguma coisa aqui está errada.
Será que não é capaz de admitir isso?
― Não estou sendo teimoso. Quero apenas livrar-me do que está no porta-malas do carro.
Saíram para a calçada e Burt sentiu novamente o choque do silêncio que reinava na cidade e o cheiro de fertilizante. A gente nunca sentia aquele cheiro, nem pensava nele, quando passava manteiga e sal numa espiga de milho e a comia. Cumprimentos do sol, da chuva e todos os tipos de fosfatos, além de uma boa dose de bosta de vaca. Mas, de alguma forma, aquele cheiro era diferente do que ele sentira ao ser criado no interior do Estado de Nova York. Podiam dizer o que bem entendessem a respeito dos fertilizantes orgânicos, mas havia quase um perfume no ar quando se espalhava estrume nos campos.
Não de perfume francês, é claro, mas quando a brisa do entardecer de primavera o trazia dos campos recém-arados, era um cheiro que suscitava associações agradáveis.
Significava que o inverno se fora definitivamente. Significava que as portas das escolas se fechariam dentro de seis semanas para que todos aproveitassem as férias de verão. Na mente de Burt, era um cheiro irremediavelmente ligado a outros odores que eram perfumes: capim novo, trevos, terra fresca, malva, corniso.
Aqui, porém, deviam fazer algo diferente, refletiu ele. O cheiro era parecido, mas não o mesmo. Havia um traço doce, enjoativo. Quase um cheiro de morte. Como padioleiro do exército no Vietnã, ele se familiarizara bastante com o cheiro da morte.
Vicky estava sentada no carro, calada, segurando o crucifixo de milho no colo e fitando o com um ar embevecido que não agradava Burt.
― Largue isso ― disse ele.
― Não ― replicou ela sem erguer o olhar. ― Você faz seus brinquedos, eu faço os meus.
Burt engatou a marcha no carro e dirigiu até a esquina. Um sinal de tráfego apagado pendia do fio no cruzamento, balançando-se à leve brisa. A esquerda, estava uma bem cuidada igreja branca. Gramado aparado. Flores bem tratadas orlavam o caminho de pedras que levava à porta. Burt parou o carro.
― Que está fazendo?
― Vou entrar e dar uma espiada ― respondeu Burt. ― É o único lugar na cidade que não parece estar coberto por uma camada de poeira de dez anos. Veja o quadro de sermões.
Vicky olhou. As letras brancas sob o vidro do quadro anunciavam: O PODER E A GRAÇA DAQUELE QUE ANDA POR DETRÁS DAS FILEIRAS. A data era 24 de julho de 1976 ― o domingo anterior.
― Aquele que Anda Por Detrás das Fileiras ― disse Burt, desligando o motor. ― Um dos nove mil nomes de Deus que só são usados em Nebraska, presumo. Vem comigo?
Ela não sorriu:
― Não vou com você.
― Muito bem. Como queira.
― Não entro numa igreja desde que saí de casa e não quero entrar nessa igreja, como também não quero estar nesta cidade, Burt. Estou louca de medo. Será que não podemos apenas ir embora daqui?
― Será só um minuto.
― Tenho minhas chaves, Burt. Se você não voltar dentro de cinco minutos, ligarei o carro e irei embora, deixando você aqui.
― Ora, espere aí, mocinha.
― É isso que vou fazer, a menos que você queira me agredir, como um bandido barato, para me tomar as chaves. Suponho que seja capaz de fazer isso.
― Mas não acredita que farei.
― Não.
A bolsa estava entre os dois, em cima do banco. Burt pegou-a num gesto repentino.
Vicky gritou e tentou agarrar a correia da alça. Burt puxou a bolsa para fora do alcance dela. Não se dando o trabalho de procurar as chaves, simplesmente virou a bolsa de boca para baixo, entornando tudo que havia dentro. O chaveiro brilhou entre cosméticos, lenços de papel e velhas listas de compras. Vicky mergulhou na direção dele, mas Burt foi mais rápido, outra vez, e guardou as chaves no bolso.
― Não precisava fazer isso ― disse ela, chorando. ― Me dá o chaveiro.
― Não ― replicou ele, lançando-lhe um sorriso duro e inexpressivo.
― Nada disso.
― Por favor, Burt! Estou com medo!
Vicky estendeu a mão, suplicante agora.
― Você esperaria dois minutos e acharia que era hora de partir.
― Eu não faria...
― Então, iria embora rindo e dizendo consigo mesma: "Isto ensinará Burt a não me contrariar quando quero alguma coisa". Não tem sido esse o seu lema durante toda a nossa vida de casados? "Isto ensinará Burt a não me contrariar"?
Ele saltou do carro.
― Por favor, Burt! ― berrou ela, escorregando-se no assento. ― Escute... eu sei... sairemos da cidade e ligaremos de uma cabine telefônica, está bem? Tenho bastante troco. Eu só... nós podemos... não me deixe sozinha, Burt! Não me deixe aqui sozinha!
Burt bateu a porta do carro enquanto ela gritava. Recostou-se na parte lateral do Thunderbird por um instante, os polegares comprimidos contra os olhos fechados.
Vicky esmurrava o vidro da janela do motorista, gritando por ele. Iria causar uma bela impressão quando ele realmente encontrasse alguma autoridade para entregar o cadáver do menino. Oh, sim.
Virou-se e caminhou pelas pedras até a porta da igreja. Dois ou três minutos, apenas uma olhadela, e voltaria para o carro. Provavelmente, a porta estaria trancada.
Contudo, a porta se abriu silenciosamente nos gonzos bem lubrificados (reverentemente lubrificados, refletiu Burt ― e, sem motivo aparente, aquilo lhe pareceu engraçado) e ele entrou num vestíbulo tão fresco que chegava a causar arrepios de frio. Seus olhos demoraram um instante para se acostumarem à penumbra.
A primeira coisa que Burt notou foi uma pilha de letras de madeira no canto mais afastado, empoeiradas e misturadas a esmo. Pareciam tão velhas esquecidas quanto o calendário na parede do restaurante, ao contrário do resto do vestíbulo, que estava limpo e arrumado. As letras tinham cerca de sessenta centímetros de altura e, obviamente, faziam parte de um conjunto. Burt espalhou-as no tapete ― eram dezoito ― e arrumou-as em anagramas. HURT BITE CRAG CHAP CS. Nada disso. CRAP TARGET CHIBS HUC. Também não. Exceto pelo CH em CHIBS. Ele arrumou rapidamente a palavra CHURCH ― igreja ― e ficou com RAP TAGET CIBS. Tolice. Estava ali, agachado e brincando como um idiota, enquanto Vicky enlouquecia no carro. Começou a levantar-se e, então, percebeu. Formou. a palavra BAPTISTA ― batista ―, ficando com RAG EC.
Trocando duas letras, obteve GRACE ― graça. GRACE BAPTIST CHURCH ― Igreja Batista da Graça. As letras deviam constituir anteriormente um letreiro lá fora. Tinham-nas tirado da fachada e jogado indiferentemente naquele canto. Como a igreja fora pintada depois disso, era impossível perceber lá fora o lugar que as letras ocupavam antes.
Por quê?
Porque não era mais a Igreja Batista da Graça ― eis aí o motivo. Então, que espécie de igreja era agora? Por alguma razão, aquela indagação provocou em Burt um arrepio de medo e ele se levantou depressa, tirando a poeira dos dedos. Tinham retirado aquele conjunto de letras ― e daí? Talvez tivessem mudado o nome para Igreja do Que Está Acontecendo Agora, de Flip Watson.
Mas, então, o que acontecera?
Burt afastou o pensamento com um sacolejão e passou pela dupla porta interna. Agora, encontrava-se no fundo da igreja propriamente dita. Ao olhar para a nave, sentiu o medo se fechar sobre o coração e apertar com força. Prendeu a respiração, emitindo um som alto no carregado silêncio que ali reinava.
O espaço atrás do púlpito era dominado por um gigantesco retrato do Cristo e Burt pensou: "Se nada nesta cidade levou Vicky à loucura total, isto levaria".
O Cristo era sorridente, vulpino. Tinha olhos grandes e fixos; Burt lembrou-se nervosamente de Lon Chaney em O Fantasma da ópera. Em cada uma das pupilas, alguém (um pecador, presumivelmente) se afogava num lago de fogo. Entretanto, a coisa mais esquisita era o fato de que o Cristo tinha cabelos verdes... cabelos que, examinados com mais atenção, revelavam-se como um emaranhado de milho do início do verão. O quadro fora toscamente pintado, mas era eficaz. Parecia um mural de estória em quadrinhos desenhado por uma criança talentosa: um Cristo do Velho Testamento, ou um Cristo pagão, capaz de imolar seu rebanho em sacrifício, em vez de conduzi-lo.
Em frente à fileira esquerda de bancos estava um órgão de pedais e Burt, a princípio, não conseguiu perceber o que havia de errado nele. Caminhou ao longo da fileira de bancos e viu, com crescente pavor, que as teclas tinham sido arrancadas, os registros quebrados... e os tubos tapados com sabugos de milho secos. Acima do órgão, uma placa cuidadosamente desenhada dizia: NÃO FAZEI MÚSICA SENÃO COM A BOCA HUMANA, DISSE O SENHOR DEUS.
Vicky tinha razão: havia algo terrivelmente errado ali. Burt debateu consigo mesmo a idéia de voltar para Vicky sem continuar a exploração do local e sair da cidade o mais rápido possível, esquecendo o Centro Municipal. Mas aquilo o irritava. Para dizer a verdade, pensou ele, você quer dar uma lição a Vicky antes de voltar e admitir que ela tinha razão desde o início.
Voltaria dentro de um ou dois minutos.
Encaminhou-se para o púlpito, pensando que gente devia atravessar Gatlin o tempo todo, que deviam existir pessoas nas cidades próximas que tivessem parentes e amigos ali. A patrulha da polícia estadual de Nebraska devia passar por ali de vez em quando. E a companhia de eletricidade? O sinal de tráfego estava apagado. Certamente a companhia saberia se o sinal estava apagado há doze anos. Conclusão: o que parecia ter acontecido em Gatlin era impossível.
Ainda assim, Burt estava arrepiado.
Subiu os quatro degraus atapetados que levavam ao púlpito e olhou para os bancos vazios que pareciam brilhar na penumbra. Teve a impressão de sentir o peso daqueles olhos medonhos e decididamente pagãos às suas costas.
Sobre a estante do púlpito estava uma grande Bíblia, aberta no 38? capítulo de Job. Burt baixou os olhos e leu: "Então, respondendo o Senhor a Job, do meio de um redemoinho, disse: Quem é este, que mistura conselhos com palavras ignorantes?... Onde estavas tu quando eu lançava os alicerces da Terra? Dize-mo, se é que tens inteligência".
O Senhor. Aquele que Anda Por Detrás das Fileiras. E, por favor, passe o milho.
Burt folheou as páginas da Bíblia, que produziram um som seco e sussurrante no silêncio ― o som que os espíritos produziriam, se realmente existissem. E, num lugar como aquele, a gente quase conseguia acreditar na sua existência. Pedaços da Bíblia tinham sido arrancados. A maior parte deles, do Novo Testamento, reparou Burt.
Alguém resolvera assumir a tarefa de corrigir o Bom Rei James com uma tesoura.
O Velho Testamento, porém, continuava intacto.
Burt estava prestes a descer do púlpito quando viu outro livro na prateleira inferior e o apanhou, julgando que talvez fosse o registro de casamentos, batizados e óbitos da igreja.
Fez uma careta ao ver as palavras estampadas na capa, gravadas em dourado por mãos inexperientes: ASSIM? QUE OS INÍQUOS SEJAM CEIFADOS PARA QUE O SOLO VOLTE A SER FÉRTIL, DISSE O SENHOR DEUS DOS EXÉRCITOS.
Abriu o livro na primeira página larga, pautada. Viu imediatamente que a caligrafia era de uma criança. Em alguns lugares fora cuidadosamente utilizada uma borracha de apagar tinta e, embora não existissem erros de ortografia, a letra era grande e infantil, mais desenhada do que propriamente escrita. A primeira coluna dizia:
Amos Deigan (Richard), n. 4 set 1945 4 set 1964
Isaac Renfrew (William), n. 19 set 1945 19 set 1964
Zepeniah Kirk (George), n. 14 out 1945 14 out 1964
Mary Wells (Roberta), n. 12 nov 1945 12 nov 1964
Yemen Hollis (Edward), n. 5 jan 1946 5 jan 1965
Franzindo a testa, Burt continuou virando as páginas. A três quartos do fim, as colunas duplas terminavam bruscamente:
Rachel Stigman (Donna), n. 21 jun 1957 21 jun 1976
Moses Richardson (Henry), n. 29 jul 1957
Malachi Boardman (Craig), n. 15 ago 1957
O último registro no livro era de Ruth Clawson (Sandra), n. 30 abril 1961.
Burt olhou para a prateleira onde pegara o livro e apanhou mais dois. O primeiro trazia a mesma frase QUE OS INÍQUOS SEJAM CEIFADOS... e continuava o mesmo registro. No início de setembro de 1964, ele encontrou Job Gilman (Clayton), n. 6 set 1964 e o registro seguinte era de Eva Tobin, n. 16 jun 1965. Sem segundo nome entre parênteses.
O terceiro livro estava em branco.
De pé no púlpito, Burt refletiu a respeito.
Algo ocorrera em 1964. Algo relacionado com religião, milho... e crianças.
Amado Deus, nós imploramos tua bênção sobre a colheita. Em nome de Jesus, amém.
E a faca foi erguida para sacrificar o cordeiro ― mas teria sido um cordeiro? Talvez eles fossem arrebatados por uma mania religiosa. Sós, totalmente isolados do resto do mundo por centenas de quilômetros quadrados de milharais farfalhantes. Sozinhos sob setenta milhões de hectares de céu azul. Isolados sob o olhar vigilante de Deus, agora um estranho Deus verde, um Deus de milho, envelhecido, alienado, faminto. Aquele que Anda por Detrás das Fileiras.
Burt sentiu um arrepio espalhar-se pelo corpo.
Vicky, deixe-me contar uma estória. É a respeito de Amos Deigan, que nasceu Richard Deigan, a 4 de setembro de 1945. Adotou o nome Amos em 1964, um belo nome do Velho Testamento, Amos, um dos profetas menores. Bem, Vicky, o que aconteceu ― não ria ― é que Dick Deigan e seus amigos ― Billy Renfrew, George Kirk, Roberta Wells e Eddie Hollis, entre outros ― tornaram-se religiosos e mataram os pais. Todos eles. Não é uma graça? Mataram-nos a tiro em suas camas, apunhalaram-nos na banheira, envenenaram-lhes a comida, enforcaram-nos ou estriparam-nos, pelo que sei. Por quê? Por causa do milho. Talvez o milho estivesse morrendo. Talvez eles tivessem a idéia de que o milho estava morrendo por causa do excesso de pecados. Não havia sacrifícios suficientes. E eles fariam sacrifícios nos milharais, nas fileiras.
E de algum modo, Vicky, não tenho muita certeza de como, de algum modo eles decidiram que dezenove anos seria a idade máxima que viveriam. Richard "Amos" Deigan, o herói de nossa pequena estória, completou dezenove anos no dia 4 de setembro de 1964 ― a data registrada no livro. Acho que, talvez, eles o mataram. Foi sacrificado no milharal. Não é uma estória tola?
Contudo, vejamos Rachel Stigman, que foi Donna Stigman até 1964. Ela completou dezenove anos no dia 21 de junho, há cerca de um mês. Moses Richardson nasceu em 29 de julho ― daqui a três dias ele fará dezenove anos. Você faz alguma idéia do que acontecerá ao Moses no dia 29 deste mês?
Eu imagino.
Burt passou a língua nos lábios, que estavam secos.
Mais uma coisa, Vicky. Veja isto aqui. Temos Job Gilman (Clayton), nascido a 6 de setembro de 1964. Não ocorreram outros nascimentos até 16 de junho de 1965. Uma lacuna de dez meses. Sabe o que penso? Mataram todos os pais, inclusive as mulheres grávidas, é o que eu penso. E uma delas engravidou em outubro de 1964, dando à luz a Eva. Uma garota-mãe aos dezesseis ou dezessete anos. Eva. A primeira mulher.
Burt folheou febrilmente o livro e encontrou o registro de Eva Tobin. Logo abaixo:
"Adam Greenlaw, n. 11 jul. 1965".
Deviam ter agora onze anos, pensou Burt, sentindo a carne arrepiar-se. Talvez estivessem lá fora. Em algum lugar.
Mas como poderia uma coisa assim ficar em segredo? Como poderia continuar?
Como, a menos que fosse aprovada pelo Deus em questão?
― Oh, Jesus ― disse Burt no silêncio da igreja.
E foi então que a buzina do Thunderbird começou a soar na tarde, um prolongado toque contínuo.
Burt saltou do púlpito e correu pela alameda central da nave. Escancarou a porta do vestíbulo, saindo para o sol quente e ofuscante. Vicky estava empertigada ao volante, ambas as mãos apertando ao aro da buzina, a cabeça girando desvairadamente de um lado para outro. As crianças chegavam de todos os lados. Algumas riam alegremente.
Empunhavam facas, machadinhas, martelos, canos, pedras. Uma menina, talvez com oito anos de idade, belos cabelos louros compridos, brandia um cabo de macaco de automóvel. Armas rurais. Nenhum deles trazia arma de fogo. Burt sentiu um louco impulso de perguntar: Quais de vocês são Adão e Eva? Quem são as mães? Quem são as filhas? Pais? Filhos? Dizei-mo, se tendes inteligência...
Vinham das ruas transversais, do gramado da praça, através do portão da cerca que delimitava ó playground da escola, um quarteirão a oeste. Algumas delas olhavam com indiferença para Burt, petrificado nos degraus da igreja, e outras se cutucavam, apontavam e sorriam... o doce sorriso das crianças.
As meninas usavam vestidos longos de lã marrom e desbotados chapéus do século passado. Os meninos, como pastores quakers, estavam todos de preto e usavam chapéus de copas arredondadas e abas chatas. Vinham numa torrente em direção ao automóvel, atravessando a praça da cidade, andando pelos gramados; uns poucos atravessaram, o jardim do que fora a Igreja Batista da Graça até 1964. Um ou dois quase ao alcance da mão de Burt.
― O rifle! ― berrou Burt. ― Vicky, pegue a arma!
Mas ela estava petrificada pelo pânico; dos degraus da igreja, Burt podia perceber.
Duvidava até mesmo que ela conseguisse escutá-lo por detrás dos vidros fechados do automóvel.
As crianças convergiram sobre o Thunderbird. Os machados, machadinhas e pedaços de cano começaram a subir e descer. Meu Deus, estarei mesmo vendo isso? pensou Burt, imóvel. Uma flecha cromada caiu da lateral do carro. O ornamento do capô voou longe.
Facas furaram os pneus e o carro arriou sobre o solo. A buzina continuava a tocar. O pára-brisa e os outros vidros ficaram opacos e se quebraram sob o assalto... então, o vidro laminado voou em pedaços e Burt conseguiu ver outra vez o interior do automóvel. Vicky estava encolhida; agora, apenas uma das mãos apertava o aro da buzina, enquanto a outra se erguia para proteger o rosto. Mãos jovens e ansiosas tatearam a porta, procurando a trava. Vicky bateu loucamente nelas. O toque da buzina tornou-se intermitente e, depois, cessou por completo.
A porta esquerda, amassada e arranhada, foi aberta. Tentavam arrancar Vicky do carro, mas ela se agarrava ao volante. Então, um deles se inclinou para dentro do carro, com uma faca na mão, e...
Burt rompeu a paralisia e se atirou pelos degraus, quase caindo. Correu pelas pedras em direção ao carro. Um deles, um rapaz com cerca de dezesseis anos, cabelos ruivos compridos escorrendo por baixo do chapéu, voltou-se para ele com um gesto quase despreocupado e algo brilhou no ar. O braço de Burt foi puxado para trás e, por instante, ele teve a impressão absurda de haver levado um murro à distância. Então, sentiu a dor, tão repentina e aguda que o mundo pareceu ficar cinzento.
Como uma espécie de espanto estúpido, examinou o braço. Um canivete barato, desses de um dólar e meio, estava ali cravado como um estranho tumor. A manga da cara camisa esporte começava a tornar-se vermelha. Burt fitou-a por um tempo que lhe pareceu uma eternidade, tentando entender como lhe nascera um canivete no braço... seria possível?
Quando ergueu o olhar, o rapaz de cabelos ruivos estava quase sobre ele. Sorria, confiante.
― Filho da puta! ― disse Burt com voz engasgada pelo choque.
― Entregue a alma a Deus porque logo estarás diante do Seu trono ― disse o rapaz ruivo, tentando cravar as unhas no olhos de Burt.
Burt recuou, arrancou o canivete do braço e o enfiou na garganta do rapaz ruivo. O jorro de sangue foi imediato, enorme. Burt ficou respingado. O rapaz ruivo começou a gorgolejar, andando num amplo círculo. Burt o fitou, boquiaberto. Nada daquilo estava acontecendo. Era um pesadelo. O rapaz ruivo gorgolejava e andava. Agora, o som produzido por ele era o único naquele início de tarde quente. Os outros olhavam, aturdidos.
Aquilo não fazia parte do script, pensou Burt, aparvalhado. Vicky e eu, nós éramos o script. E o menino no milharal, que tentava fugir. Mas não era um deles. Fitou-os desvairadamente, sentindo vontade de gritar: Gostaram?
O rapaz ruivo emitiu um último som abafado e caiu de joelhos.
Olhou um momento para Burt. Então, suas mãos largaram o cabo do canivete e ele tombou de bruços.
Um leve som suspirante partiu das crianças reunidas em torno do Thunderbird.
Olhavam para Burt e este os encarava, fascinado... e foi então que percebeu que Vicky desaparecera.
― Onde está ela? ― perguntou Burt. ― Para onde vocês a levaram?
Um dos rapazes ergueu uma faca de caça manchada de sangue e fez o gesto de degolar o próprio pescoço. Sorriu. Foi a única resposta.
De algum lugar no fundo do grupo, a voz de um rapaz mais velho disse mansamente:
― Agarrem-no.
Os rapazes começaram a avançar sobre Burt. Este recuou. Eles avançaram mais depressa. Burt recuou mais depressa. A espingarda, a maldita espingarda! Fora de alcance. O sol projetava assombras escuras dos jovens no gramado verde da igreja... então, Burt viu-se na calçada. Virou-se e correu.
― Matem-no! ― berrou alguém.
E partiram atrás dele.
Burt correu, mas não às cegas. Contornou o Centro Municipal ― não adiantaria esconder-se ali; eles o encurralariam como a um rato ― e continuou correndo pela Rua Principal, que se abria na praça e tornava a ser a estrada dois quarteirões adiante. Se ao menos ele tivesse dado ouvido a Vicky, estariam ambos agora naquela estrada.
Seus mocassins faziam barulho na calçada. Em frente, avistou mais alguns prédios comerciais, inclusive a Sorveteria Gatlin e ― sem a menor dúvida ― o Cinema Bijou. O letreiro empoeirado na marquise anunciava: EM XIBIÇÃ CLEOPA RA UM ELI A TH TAYLOR ― PROIBIDO ATÉ EZ ANOS ―. Além da rua transversal seguinte, havia um posto de gasolina que marcava a orla da cidade. Para lá do posto, os milharais fechando-se sobre as margens da estrada, uma imensa onda verde de milho.
Burt continuou correndo. Já estava sem fôlego e o ferimento do canivete no braço começava a doer. E deixava atrás de si um rastro de sangue. Enquanto corria, tirou o lenço do bolso traseiro e o enfiou por baixo da camisa.
Corria. Os mocassins martelavam o cimento rachado da calçada, a respiração produzia um ruído áspero na garganta cada vez mais seca e quente. O braço começou a latejar com força. Uma parte mordaz de sua mente lhe perguntava se ele seria capaz de correr todo o caminho até a cidade mais próxima, se ainda agüentaria correr trinta e cinco quilômetros no asfalto da estrada de pista dupla.
Corria. Podia ouvi-los no seu encalço, quinze anos mais jovens e mais velozes, ganhando terreno. Os pés deles faziam barulho no calçamento. Soltavam berros e gritavam uns para os outros. Divertiam-se mais do que em um incêndio, refletiu Burt desarticuladamente. Falarão no assunto durante anos.
Burt corria.
Passou correndo pelo posto de gasolina que assinalava a orla da cidade. A respiração arquejava e rugia no peito. A calçada acabou sob seus pés. E agora, restava apenas uma coisa a fazer, uma única oportunidade para ganhar deles e escapar com vida. As casas tinham ficado para trás, a cidade terminara. O milho surgira como uma suave onda verde que chegava às beiras da estrada. As folhas verdes, semelhantes a adagas, farfalhavam mansamente. Lá dentro seria profundo, profundo e fresco, à sombra dos pés de milho enfileirados, da altura de um homem.
Burt passou correndo por uma placa que dizia: VOCE AGORA ESTÁ SAINDO DE GATLIN, A MELHOR CIDADE PEQUENA DE NEBRASKA ― OU DE QUALQUER OUTRO LUGAR: VOLTE SEMPRE!
Podem ter certeza de que voltarei, pensou Burt distraidamente.
Passou correndo pela placa como um corredor velocista aproximando-se da fita de chegada. Então, penetrou no milharal e este se fechou às suas costas como as ondas de um mar verde, tragando-o. Ocultando-o. Sentiu-se invadido por um repentino e totalmente inesperado alívio e, ao mesmo tempo, recuperou o fôlego. Seus pulmões, que pareciam à beira da exaustão, deram a impressão de se dilatarem, fornecendo-lhe mais oxigênio.
Ele correu diretamente pela primeira fileira em que entrara, com a cabeça encolhida, os ombros largos roçando nas folhas e fazendo-as tremerem. Vinte metros mais adiante, virou à direita, novamente em sentido paralelo à estrada, e continuou a correr, mantendo-se abaixado a fim de que eles não pudessem ver seus cabelos escuros entre os pendões amarelos do milharal. Dobrou de volta na direção da estrada por alguns instantes, atravessando novas fileiras e depois virou as costas para a estrada, pulando aleatoriamente de fileira para fileira, sempre embrenhando-se cada vez mais no milharal.
Afinal, caiu de joelhos e encostou a testa no solo. Só conseguia ouvir a própria respiração arquejante e o pensamento que se repetia em sua cabeça era: Graças a Deus deixei defumar, graças a Deus deixei defumar, graças a Deus...
Podia escutá-los, gritando uns para os outros, em alguns casos esbarrando-se ("Ei, esta fileira é minha!"), e aqueles sons lhe deram coragem. Achavam-se bem à sua esquerda e pareciam muito mal organizados.
Burt retirou o lenço, dobrou-o e tornou a colocá-lo após examinar o ferimento. O sangue parecia ter parado de escorrer, a despeito do esforço que ele despendera.
Descansou por mais alguns instantes e, de repente, percebeu que se sentia bem, fisicamente melhor do que se sentia há anos... a não ser pelo latejar do braço. Sentia-se bem excitado e subitamente capaz de enfrentar um problema definido (apesar de insano), depois de passar dois anos lutando contra os pequenos fantasmas incubados que vinham sugando seu casamento até deixá-lo totalmente seco.
Não era direito sentir-se assim, disse ele com seus botões. Sua vida corria perigo mortal e sua esposa fora seqüestrada. Poderia estar morta, agora. Tentou relembrar o rosto de Vicky e dissipar em parte aquela estranha sensação de bem-estar, mas a fisionomia dela se recusava a aparecer. O que surgiu foi o rapaz ruivo com o canivete cravado na garganta.
Deu-se conta do aroma do milho nas narinas, cercando-o por todos os lados. O vento no topo dos pés de milho produzia um som semelhante ao de vozes. Calmante. O que quer que tivesse sido perpetrado em nome do milho, este agora era seu protetor.
Mas eles se aproximavam.
Correndo abaixado, Burt seguiu pela fileira em que se encontrava, dobrou à direita, voltou em direção à estrada e, depois, tornou a atravessar outras fileiras em sentido paralelo à estrada. Tentou manter as vozes sempre à sua esquerda, mas à medida que a tarde avançava isto se tornou cada vez mais difícil. As vozes ficaram longínquas e, por vezes, o farfalhar do milharal abafava-as por completo. Burt corria, parava para escutar, tornava a correr. O solo era compacto e seus pés calçados apenas com meias não deixavam rastros.
Quando ele parou, muito mais tarde, o sol pairava sobre os campos à sua direita, vermelho e inflamado. Consultando o relógio, Burt percebeu que já passava um quarto das sete horas. Inclinou a cabeça para o lado, escutando. Com a aproximação do pôr-do-sol, o vento cessara por completo e o milharal estava imóvel, exalando seu aroma de crescimento no ar aquecido. Se eles ainda estivessem no milharal, achavam-se muito distantes ou simplesmente quietos, à escuta. Contud,), Burt não acreditava que um bando de garotos, mesmo loucos, fosse capaz de se manter silencioso durante tanto tempo. Desconfiava de que eles tinham feito a coisa mais infantil, a despeito das conseqüências que pudessem sofrer: haviam abandonado a caçada humana e voltado para casa.
Burt virou-se para o sol poente, que já se metera por detrás das nuvens acumuladas no horizonte, e começou a andar. Se caminhasse em diagonal através do milharal, sempre mantendo o sol poente à sua frente, devia chegar à Rodovia 17, mais cedo c; mais tarde.
A dor no braço transformara-se num latejar que era quase agradável e a sensação de bem-estar ainda não o abandonara. Decidiu que enquanto estivesse ali permitiria que a sensação de bem-estar continuasse a existir sem remorsos. O remorso retornaria quando ele fosse obrigado a encarar as autoridades e relatar o que ocorrera em Gatlin. Mas isso podia esperar.
Caminhou através do milharal, refletindo que jamais se sentira tão agudamente alerta.
Quinze minutos depois o sol não passava de um semicírculo espiando por cima do horizonte e Burt tomou a parar, seu novo sentido de alerta assumindo um padrão de percepção que não lhe agradava. Era vagamente... bem, era vagamente amedrontador.
Inclinou a cabeça para o lado.
O milharal farfalhava.
Havia algum tempo que Burt percebera outra coisa, mas ele a tinha associado com outro fato. O vento cessara. Como era possível?
Olhou desconfiadamente em volta, quase esperando ver os meninos sorridentes vestidos de quakers esgueirando-se por entre os pés de milho, empunhando suas facas. Nada disso. O som farfalhante continuava. A esquerda.
Burt começou a andar naquela direção, não mais precisando atravessar as fileiras de pés de milho. Aquela fileira o levava na direção que ele desejava, naturalmente. A fileira terminava lá adiante. Terminava? Não; desembocava numa espécie de clareira. O farfalhar vinha dali.
Burt parou, repentinamente amedrontado.
O cheiro do milho era bastante forte para ser sufocante. As fileiras do milharal conservavam o calor do sol e Burt se deu conta de que estava ensopado de suor, coberto de palha e de fios sedosos de pendões de milho. Os insetos deveriam estar atacando em massa... mas não estavam.
Ficou imóvel, fitando o local onde o milharal se abria no que aparentava ser um amplo círculo de terra nua.
Ali não havia micuins, nem mosquitos, nem qualquer outro tipo de inseto ― o que ele e Vicky costumavam chamar de "insetos de drive-in" nos tempos de namorados, lembrou-se ele com repentina e inesperada nostalgia. E não avistara um único corvo. Não era esquisito, um milharal sem corvos?
À última luz do dia, observou atentamente a fileira de pés de milho à sua esquerda e reparou que cada folha e talo eram perfeitos, o que simplesmente não era possível.
Nenhum vestígio de ferrugem ou outra praga. Nenhuma folha roída, nenhum ovo de lagarta, nenhum buraco de animal, nenhum...
Esbugalhou os olhos.
Meu Deus, não há mato!
Nem uma só folha. A intervalos de quarenta e cinco centímetros os pés de milho brotavam da terra. Nenhum capim, tiririca, estramônio, ou qualquer outra erva daninha.
Nada.
Burt ergueu a cabeça, os olhos muito abertos. A luz no oeste estava sumindo. As nuvens acumuladas tinham-se afastado. Abaixo delas, a luminosidade dourada assumira tons rosados e amarelo-escuro. Logo escureceria.
Era tempo de ir à clareira no milharal e verificar o que lá existia. Não fora este o planto, desde o início? Durante todo o tempo em que julgara estar voltando à estrada, não vinha sendo conduzido àquele local?
Sentindo o medo na barriga, seguiu ao longo da fileira e parou na orla da clareira. Havia luz suficiente para que ele visse o que lá estava. Não conseguiu gritar. Teve a impressão de que não lhe restava ar nos pulmões. Cambaleou sobre pernas que pareciam feitas de sarrafos rachados. Os olhos saltavam do rosto suado.
― Vicky ― sussurrou. ― Oh, Vicky, meu Deus...
Ela fora colocada num pau transversal, como um medonho troféu de caça, os braços amarrados pelos pulsos e as pernas pelos tornozelos com arame farpado comum, que poderia ser comprado em qualquer loja de ferragens de Nebraska por setenta centavos o metro. Os olhos tinham sido arrancados e as órbitas estavam cheias com sedosos fiapos de pendões de milho. As mandíbulas escancaradas num grito silencioso, a boca cheia de sabugos de milho.
À esquerda de Vicky estava um esqueleto numa batina apodrecida. A mandíbula descarnada exibia um sorriso macabro. As órbitas vazias pareciam fitar Burt de modo jocoso, como se o antigo pastor da Igreja Batista da Graça de Gatlin estivesse dizendo:
Não é tão ruim ser sacrificado por crianças-demônios pagãs num milharal; não é tão ruim ter os olhos arrancados segundo a Lei Mosaica; não é tão ruim..
À esquerda do esqueleto de batina estava um outro, vestido com um apodrecido uniforme azul. Um boné na caveira escondia os olhos e na pala do boné havia um distintivo coberto de azinhavre que dizia: CHEFE DE POLÍCIA.
Foi então que Burt o ouviu chegando: não as crianças, mas algo muito maior, avançando através do milharal em direção à clareira. Não, não eram as crianças. As crianças não se aventurariam no milharal à noite. Aquele era um lugar sagrado, o lugar de Aquele que Anda Por Detrás das Fileiras.
Num movimento trêmulo, Burt virou-se para fugir. A fileira pela qual ele entrara na clareira desaparecera. Fechada. Todas as fileiras estavam fechadas. Burt podia ouvi-lo chegar, abrindo caminho por entre os pés de milho. Sentiu-se dominado por êxtase de terror supersticioso. Ele estava chegando. Os pés de milho no lado oposto da clareira tinham escurecido subitamente, como se cobertos por uma sombra gigantesca.
Chegando.
Aquele que Anda Por Detrás das Fileiras.
Começou a entrar na clareira. Burt viu algo imenso, que se erguia até o céu... algo verde, com olhos terríveis do tamanho de bolas de futebol.
Algo que cheirava como palha de milho seca guardada durante anos num celeiro.
Burt começou a gritar. Mas não gritou por muito tempo.
Algum tempo depois, uma enorme lua cheia alaranjada subiu no horizonte.
As crianças do milho reuniram-se no centro da clareira durante o dia, olhando para os dois esqueletos crucificados e os dois cadáveres... Os cadáveres ainda não eram esqueletos, mas seriam. No devido tempo. E ali, no coração de Nebraska, no centro do milharal, não havia outra coisa senão tempo.
― Ouçam: tive um sonho durante a noite e o Senhor me mostrou tudo isto.
Todos olharam com espanto e temor para Isaac, até mesmo Malachi. Isaac tinha apenas nove anos, mas fora o Vidente desde que o milharal levara David, um ano atrás. David completou dezenove anos e entrou no milharal no dia de seu aniversário, na hora em que o crepúsculo vinha descendo sobre o milho do verão.
Agora, o rostinho muito sério sob o chapéu de copa arredondada, Isaac prosseguiu:
― E no meu sonho o Senhor era uma sombra que andava por detrás das fileiras e falou comigo em palavras que usava com nossos irmãos mais velhos, há muitos anos. Está muito aborrecido com este sacrifício.
Os jovens emitiram um som suspirando, soluçante e olharam para a muralha verde que os rodeava.
― E o Senhor falou: E não vos dei um lugar de matar, para que lá imolasses o sacrifício?
E não vos mostrei meus favores? Mas este homem blasfemou contra mim e eu mesmo completei o sacrifício. Como o Homem Azul e falso ministro que conseguiu fugir há muitos anos.
― O Homem Azul... O falso ministro...
Os jovens sussurravam, entreolhando-se nervosamente.
― Portanto, agora fica a Idade do Favor baixada de dezenove plantios e colheitas para dezoito ― prosseguiu Isaac, implacável. ― Não obstante, sede férteis e vos multiplicai como o milho se multiplica, para que meu favor vos seja mostrado e esteja convosco.
Isaac calou-se.
Todos os olhares se voltaram para Malachi e Joseph, os dois únicos componentes do grupo que tinham dezoito anos. Havia outros na cidade, talvez vinte no total.
Aguardaram para ouvir o que diria a Malachi, Malachi que liderara a caçada contra Japhet, que para sempre seria conhecido por Ahaz, amaldiçoado por Deus. Malachi cortara o pescoço de Ahaz e o jogara para fora do milharal de modo que o corpo pútrido não poluísse ou empesteasse o milho.
― Obedeço a palavra de Deus ― declarou Malachi.
O milharal pareceu suspirar em sinal de aprovação.
E naquela noite, todos os que tinham acima da Idade do Favor penetraram silenciosamente no milharal e foram à clareira, para ganharem a continuidade do favor de Aquele que Anda Por Detrás das Fileiras.
― Adeus, Malachi ― gritou Ruth, acenando desconsoladamente.
Tinha o ventre crescido com o filho de Malachi e as lágrimas lhe escorriam silenciosamente pelo rosto.
Malachi não se voltou. Mantinha as costas eretas. O milharal o tragou.
Ruth deu meia-volta, ainda chorando. Criara um ódio secreto pelo milharal e às vezes sonhava como entrar nele segurando uma tocha acesa em cada mão quando chegasse o seco mês de setembro e os talos estivessem mortos, explosivamente combustíveis. Mas também o temia. Lá fora, à noite, algo vagava e via tudo... até mesmo os segredos guardados pelos corações humanos.
O crepúsculo se transformou em noite. Ao redor de Gatlin, o milharal farfalhava e sussurrava bem baixinho. Estava muito satisfeito.