 A Câmara dos Tormentos apresenta a seus leitores um conto poderoso; uma das obras mais intensas e angustiantes da literatura brasileira contemporânea. Da lavra do mestre Paulo Soriano, uma chance de descer aos infernos mais profundos do desespero e da insanidade humana. Boa leitura!
A Câmara dos Tormentos apresenta a seus leitores um conto poderoso; uma das obras mais intensas e angustiantes da literatura brasileira contemporânea. Da lavra do mestre Paulo Soriano, uma chance de descer aos infernos mais profundos do desespero e da insanidade humana. Boa leitura! MATER DOLOROSA
Um conto de Paulo Soriano
Para Pop.
“... e esta vida embora não sendo minha é possível”
Aldo de Lima
“... e esta vida embora não sendo minha é possível”
Aldo de Lima
I
A súbita dor fora tão intensa, tão brutal, que Maria se viu acordada no meio da noite, dobrada sobre o próprio corpo, uma das mãos mergulhada no ventre que ardia em fogo, a outra em riste, como garras, agitando a escuridão.
Cambaleou até a janela, mergulhando a cabeça desgrenhada na noite alta, procurando ar. Mas a boca - tão aberta quanto os olhos vesgos - aspirou apenas o vácuo.
Então tossiu, como se expulsasse demônios do peito, para depois sorver, aliviada, a podridão que exalava da noite morna.
Ainda se refazia quando a criança chorou.
Maria içou, com esforço sobre-humano, a menina que jazia, inquieta, no caixote de maçã, oferecendo-lhe o seio murcho.
A criança pareceu confortada ao simples contato com a teta, que se abria em tiras de carne viva. Mas, quando sugou apenas um filete de sangue aquoso, desatou num choro redobrado, uma frustração e um protesto tão profundos que as paredes do barraco tremeram de compaixão. A mãe contorceu-se de dor, a chama do estômago subiu aos seios e ganhou garganta. Maria tossiu novamente, respirou a noite podre, e depois chorou baixinho. A criança protestava em seu colo, agitando pernas e braços, uivando para a noite como um animal faminto e feroz.
*
João Sabino mergulhou no ventre da coisa. Venceu, devagar, as ruelas toscas que eram o intestino do Alto da Peste. Àquela hora, já não mais se viam os pivetinhos, com seus ventres enormes pululando de vermes, correndo de um lado para o outro, brincando picula no esgoto a céu aberto. Nem se viam as mulheres com lata d’água na cabeça, rebolando as ancas flácidas enquanto ganhavam morro acima. A noite grassava e os homens se reuniam em segurança para uma rodada de cachaça e um bom carteado.
No coração do Alto da Peste, o único prédio de alvenaria, mas sem reboco, com tijolos carcomidos pelos musgos, deitava as suas luzes elétricas sobre os copos de cachaça e a mesa de bilhar.
João Sabino foi ao balcão, pegou um copinho e aboletou-se numa mesa onde Zé Galo e Rabicó batiam velhíssimas pedras de dominó.
Rabicó misturou as pedras com as suas mãos pretas e enormes. Quando as levantou, os jogadores caíram sobre as pedras como galinhas disputando milho.
– O serviço foi uma porra – disse Zé Galo, com o cigarro apertado nos dentes, enquanto João Sabino conferia as pedras que acabara de escolher. Tinha o olhar desolado. Zé galo saiu com uma carroça de sena. Parecia satisfeito. Rabicó limitou-se a servir.
– Eu toco – grunhiu João Sabino, ainda fazendo careta por causa da cana que entrara mal, acompanhando com a pedra o ritmo da música que esvaía do velho pulmão de uma radiola de fichas.
– Foi uma porra mesmo! Imagine que os danado dos pastor alemão não comero a bola. Não teve jeito de comer. Tá vendo que eu não ia me arriscar por causa de uma TV a cores? Toco também.
Rabicó cuspiu a cachaça antes de anunciar a batida, com um estalo vigoroso. Virou-se para Zé Galo:
– Tu é pé-de-chinelo, otário. E medroso. Não dá pr’estas coisas. Faz como o João, se especializa.
Alguém embaralhou as pedras. Meditabundo, Zé Galo respondeu de mansinho, olhando apenas para a sua quina-e-quadra:
– Na especialidade de João Sabino, eu não entro. Não nasci para pegar no pesado, nem para ter patrão. Meu negócio é ser autômuno.
– É autônomo – corrigiu João Sabino, que estudara no Mobral, e bem sabia que ser autônomo, para a vida que o Galo vivia, significava deitar a mão no que é alheio.
Zé Galo mexeu-se nervosamente na cadeira, quase deixou as pedras caírem, mas não ficou por baixo. Sabia muito bem o ponto fraco de todos com quem jogava, quer no jogo mesmo, quer na vida. Mas quando respondeu, o fez pausadamente.
– Eu não como da palavra bonita. Nem tu também. E quem come tua mulher não é tu, otário. Diz se a galega não tem cicatriz de ponta de cigarro bem no morro da xereca?
Rabicó, um homem gordo e preto, e com filariose na perna esquerda, caiu num sorriso brutal. Engasgou-se, a face avermelhou-se até onde podia. Cuspiu no chão e esvaziou o seu quartinho de cachaça.
Os olhos azuis de João Sabino injetaram-se de ódio e cachaça. E o ódio era maior que a vergonha. Levantou-se num ímpeto, derrubando a mesa. Empunhou o gargalo da garrafa de cachaça que lhe caíra quase aos pés e muito ao alcance das mãos. As extremidades pontiagudas tremeluziram.
Zé Galo saltou para trás, desembainhando a peixeira. Mas Rabicó, com os seus punhos de aço, acertou-o quase no queixo. O larápio franzino, ágil e manhoso, perdera a faca na queda, mas ganhou o beco em carreira desabalada.
– Não quero confusão em meu bar! – Gritou Rabicó para a rua, arrastando a perna inchada, enquanto o Galo descia a ladeira como um foguete. – E você, Sabino, já tá muito bêbado. Arriba para casa que eu quero fechar.
– Me dá mais um quartinho pro corno aqui ... Pro corno aqui...
– Que corno que nada. Nada de quartinho.
– Só uma lapada.
– Foi tu mesmo que dissesses, noite dessas, que apagou o cigarro no negócio de tua mulher faz anos. O negão só quer te perturbar. Não caia nessa, visse?
– Não interessa. Eu não disse nada. Ladrão filho da puta!
João Sabino engoliu, de gute-gute, a pinga que o gordo servira a contragosto. Depois pagou e saiu para o ódio, para a vergonha, para a noite imunda.
E para o destino inexorável.
*
Na noite que beirava a madrugada, a criança loura e esquálida dormia sobre ventre dolorido da mãe.
A mulher, saudosa dos bons e difíceis dias do Sertão, quando o seu homem ainda era bom, contemplou a filha sob a luz rubra que escorria do candeeiro de lata e voltou a chorar, enquanto depositava a criança no berço – um gradil de maçã forrado de trapos – e cantava baixinho, comovida, os lábios colados nos ouvidos da pequerrucha:
“Dorme, Mariana Dorme, dorme, meu amor Painho foi pra roça E ainda não voltou ...”
II
Maria cochilava quando ouviu os pontapés na porta do barraco. Era ele que voltava, bêbado de novo, destilando ódio e cachaça.
A dor de Maria recrudesceu. Quase vomitou, expondo o medo para fora.
Quando Maria abriu a porta, levou um pontapé no estômago, à guisa de boa-noite. Curvou-se sobre o corpo e rolou no chão de barro batido. Golfou um sangue feio e pegajoso, mas que a fez respirar e expulsar um suspiro curto, que sabia a fragilidade do alívio.
– Tu trepou com Zé Galo, sua vadia de uma molesta – foi o que disse.
A mulher gemia de dor, chorava de medo e protestava por Mariana, e isso mais irritava, mais ainda excitava o marido. Antes de levar outro pontapé, agora nas costas, que estalaram, Maria balbuciou:
– Trepei não. Trepei não, João.
– Bota comida que eu tô com fome – gritou João Sabino, aplicando um safanão no ouvido da esposa.
Maria se levantou, curvada para frente, a dor voltando a envolver sua garganta, como uma tenaz. Voltou com um prato pronto e os olhos muito assustados, prenhes de dor.
– João – disse com a voz humilde – , vamos voltar para Ouricuri. Meu leite secou, é de hoje que eu te digo. Não tem leite para a criança.
– É culpa tua se não tem leite.
Quando deu a última garfada, João parecia mais calmo. Quando bebia – e ultimamente bebia todos os dias –, costumava dar com a língua nos dentes. Diziam os mais sóbrios que se gabava das malvadezas que fazia. A história da cicatriz era troça de Zé Galo, certamente. Mas ainda tinha as suas dúvidas. Homem que é homem sempre duvida. Ao se levantar da mesa, meteu o cotovelo no estômago de Maria:
– Se vire para arranjar leite para a putinha, que eu já gastei tudo de cachaça.
Resmungando, deitou no colchão sujo e puído, que servia de cama de casal. Adormeceu imediatamente.
Lá fora, a Lua fedia nas águas infectas do Capibaribe.
*
João Sabino despertou de chofre. Ainda estava bêbado, mas a boca amargava e a cabeça latejava como se fora uma grande pústula. Bradou para que a mulher desse jeito na boca da putinha, que não parava de berrar e ele queria dormir para acordar cedo e ir trabalhar. Maria levantou, tomou a criança nos braços e ensaiou um acalanto que não dobrou a primeira estrofe.
– Já não basta esta miséria de menina e tu ainda canta! Cala a boca e faz esta peste dormir, visse?
– Você tá doido, João? Não vê que a menina está com fome? Já não te disse que meu leite secou? Desde ontem eu não peço para tu comprar o leite em pó?
– Cala a boca, porra! Eu não já disse que quero dormir?
João cobriu a cabeça com uns trapos que teimavam em ser um lençol. E esperou, impaciente, que a criança calasse. Mas ela insistia em gritar, e gritar tão forte quanto forte era a sua fome, tão alto quanto os seus pequenos pulmões permitiam que gritasse.
A mãe fazia psiu, agitava ainda mais rapidamente a criança em seu colo dolorido. Mas a fome da criança era vigorosa, crescia a cada minuto, tornava-se gigantesca como a impaciência do pai.
– Cê vai ver se essa putinha agora não cala – grunhiu João para si próprio, os punhos retesados, a voz tremendo de raiva e indignação.
João se levantou. Cambaleando, foi ao quintal. E quando voltou empunhava uma foice enferrujada.
João delirava.
Maria, acuada como um animal, apertou Mariana contra o seio. Correu, mas foi agarrada pelos cabelos. Caiu de costas. O marido avançou, ficou de quatro sobre o vente da mulher e a espancou com uma fúria alucinada. Mas, a cada pancada que saía da destra retesada, mais ainda a mulher comprimia a criança contra o peito. Uma golfada de sangue escorreu do nariz fraturado de Maria, que, num reflexo fatídico, levou a mão ao rosto. Depois se arrependeu. O gesto facilitou o trabalho de João. O Homem arrancou a criança do braço de Maria, jogando a menina no chão de barro batido, como se fora um fardo inútil. A criança, por um longo momento, parou de chorar. João arquejava. Afrouxou a mão que empunhava a foice, certo da vitória. O problema parecia finalmente resolvido. Mas Mariana, para o desespero da mãe, e ensandecimento do pai, recrudesceu no choro. Agora berrava de fome e de dor. João pensou na última cartada.
A foice deslizou.
João ergueu a criança com ambas as mãos. E apertou, com seus dedos vigorosos, até ouvir o estalido de costelas quebrando. A criança arregalou os olhos e desatou a uivar como um filhote de cachorro ferido.
A mãe arremessou contra o homem, cingindo-o por trás, à altura do peito, mergulhando as unhas afiadas. Num ímpeto, gemendo de dor, João Sabino largou a criança e investiu contra a cabeça da mulher com um punho cerrado. Neste momento, lembrou-se – com um prazer quase sensual – do dia em que, numa aposta, entre os colegas do canteiro de obras, enfiara um prego no compensado com o dorso da mão fechada. João sorriu ao ouvir o barulho oco que a pancada fazia. Depois chutou a mulher, antes mesmos que ela atingisse o chão.
– Vamos ver se eu não durmo agora! – Foi o que disse João, enquanto tateava o chão escuro, até encontrar a foice. E ergueu o ferro recurvo, à altura da nuca, baixando violentamente, decepando a mão da menina. A foice voltou a descer, indignada, pois errara o alvo. Mas agora, com a satisfação de quem se redime vitorioso de um deslize inconseqüente, o golpe presto atingiu a putinha na barriga, partindo-a ao meio. Antes que o ódio arrefecesse, o chão de terra batida precipitou-se, empapou-se do sangue que agora escorria do pescoço da criança, logo em seguida ao golpe certeiro, que fez a cabecinha rolar, parando com os olhos vítreos mirando para o lado, onde estava a mãe. Maria, semi-acordada, encolhida de tantas e tantas dores, viu a foice subir e descer freneticamente. Aos poucos, as mãos de João Sabino vergaram-se ao peso do cansaço. Quando parou, o homem estava exausto.
– Chora agora, descarada – disse a coisa, ao se afastar.
*
Maria ergueu a cabecinha decepada contra a luz do candeeiro. Os olhinhos azuis, muito abertos, haviam, decerto, congelado a imagem do pai, quando a foice descia sobre o pescoço. Os lábios, porém, pareciam sorrir.
A mãe beijou os lábios da filha, envolveu a cabecinha no colo, juntou alguns trapos para aquecê-la, e a ninou, vagarosamente (como se só a cabeça bastasse), sussurrando-lhe aos ouvidos o acalanto interrompido:
“...Dorme, dorme, meu amor Painho foi pra roça E ainda não voltou...”
E o Recife adormecia, ficava a sonhar, ao som da triste melodia ...
III
Depois de arrebatar, dos braços de Maria, a cabecinha que o amor maternal acalentava, João recolheu os pedacinhos da putinha e os enterrou no quintal, junto à bananeira, cujos frutos douravam, foscamente, à luz opaca da Lua.
Mas não os sepultou de todo. No chão, semi-oculta na escuridade, uma mãozinha esboçava o apodrecer. A mãozinha da putinha Mariana.
João voltou à cama. Para dormir, finalmente, o sono dos justos.
IV
Quando o Sol da manhã incidiu sobre o barraco, e o calor insuportável do telhado de zinco arrancou o Homem da cama, Maria já trouxera a marmita, pousando-a sobre a mesa puída. Não havia ódio, desespero. Havia mistério em seu olhar. E na marmita também. Mariana estava morta. Mas, mesmo assim, a menina saberia o que fazer.
João ainda não sabia, ao certo, o que fizera. A roupa tingida do sangue coagulado pouco ajudou para avivar a memória, recolhida em algum lugar na cabeça, que lhe doía e latejava como um grande abcesso. Apenas quando saiu ao quintal, para tomar um merecido banho, foi que ele percebeu, ao pé da bananeira que frutificava, um montículo inchado no chão. Parecia uma barriga grávida de feto morto, insinuando-se das entranhas da terra. Maria, cheia de mistérios, o ouviu comentar:
– Ah! Matei a putinha.
V
A hora do rancho era a mais esperada. João preparara argamassa a manhã inteira, ouvindo a ladainha do pedreiro mal-humorado, enquanto bebericava a cachaça, às escondidas, para afugentar a ressaca que não queria ceder.
Os colegas de pá e esquadro avolumaram-se num patamar voltado para o nascente, sob a sombra. Alguns traziam marmitas, outros se contentavam em roer um sanduíche de pão dormido, com a carne mui gentilmente cedida por um camarada mais abastado.
João foi o último a chegar. Os mais esfomeados chegaram-se junto a ele, que, como sempre, fazia suspense e ria, antes de abrir a marmita.
E João Sabino abriu a marmita. Para a sua desgraça, abriu a marmita. Amaldiçoou a putinha. Xingou a mulher. E maldisse o pão nosso de cada dia.
Porque, acima do arroz e do feijão, pousada sobre a farinha de mandioca, alguma coisa, algo lânguido, cianótico, parecia se agitar aos olhos de João Sabino, mais eloqüente que um choro esfomeado.
Pedreiros, ajudantes e carpinteiros recuaram de pavor.
Sobre a farinha de mandioca, estrategicamente posta no lugar onde deveria estar a carne seca, com o polegar afundado no feijão, e o indicador revirado para cima, em riste para João, reluzia, azulada, uma mãozinha delatora.
A mãozinha da putinha Mariana.



























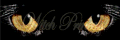















Nenhum comentário:
Postar um comentário