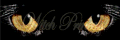O HORROR DE DUNWICH
Howard P. Lovecraft
Górgonas, Hidras e Quimeras – horrendas histórias de Celainó e das Hárpias – podem-se reproduzir no âmago das superstições – mas já estavam lá antes. São transcrições, tipos – os arquétipos estão dentro de nós, eternos. Do contrário, como poderia afetar-nos a narração daquilo que sabemos ser falso quando lúcidos? Será que naturalmente concebemos o terror a partir de tais objetos, considerados em sua capacidade de nos causar danos físicos? Ora, não se trata disso! Esses terrores são de tempos mais antigos. Datam do além-corpo – ou, sem o corpo, teriam sido os mesmos… Que o tipo de medo aqui tratado é puramente espiritual – que é forte em proporção a sua falta de objetivo na Terra, que predomina no período de nossa infância inocente – são dificuldades cuja solução pode proporcionar alguma provável introvisão de nossa condição ante-mundana e, pelo menos, um vislumbre da zona de sombras da pré-existência.
CHARLES LAMB: Witches and other night-fears (Bruxas e outros temores-noturnos)
QUANDO ALGUÉM QUE viaja pelo centro-norte de Massachussets pega o caminho errado no cruzamento da rodovia de Aylesbury logo após passar por Dean’s Corners, depara-se com uma região isolada e curiosa. O relevo torna-se mais montanhoso e os paredões de pedras cobertos por roseiras-bravas estreitam cada vez mais a estrada sinuosa e poeirenta. As árvores das numerosas matas parecem grandes demais, e as ervas daninhas, as amoreiras silvestres e o capim atingem uma exuberância raramente encontrada em regiões povoadas. Ao mesmo tempo, há poucos e improdutivos campos cultivados e somente algumas casas esparsas, que se revestem de um surpreendente aspecto uniforme de antigüidade, imundície e ruína. Sem saber por que, hesitamos em pedir informações às enrugadas e solitárias figuras entrevistas, uma vez ou outra, nas soleiras das portas caindo aos pedaços ou nas campinas em declive cobertas de pedras. Essas figuras são tão silenciosas e furtivas que temos uma certa sensação de estarmos confrontando-nos com coisas proibidas, com as quais seria melhor não termos a menor ligação. Quando um aclive na estrada traz à vista as montanhas por sobre a mata densa, aumenta a sensação de estranha inquietude. Os cumes são arredondados e simétricos demais para suscitar conforto e naturalidade, e, às vezes, o céu delineia com especial clareza os bizarros círculos de altos pilares de pedra com os quais a maioria deles é coroada.
Desfiladeiros e ravinas de uma profundidade extraordinária interceptam o caminho, e as grosseiras pontes de madeira não inspiram muita segurança. Na próxima descida da estrada, há trechos pantanosos que, instintivamente, causam repulsa e até certo medo quando, ao entardecer, chilram curiangos escondidos e os vaga-lumes surgem numa profusão anormal para dançar ao ritmo insistente do coaxo roufenho, horripilante e estridente das rãs-touros-gigantes. O curso estreito e brilhante das áreas mais altas do rio Miskatonic sugere uma estranha semelhança com uma serpente ao enredar-se próximo às bases das colinas arredondadas entre as quais nasce.
Conforme as colinas vão ficando mais próximas, prestamos mais atenção às suas encostas arborizadas que aos topos coroados de pedras. Essas encostas assomam-se tão obscuras e íngremes que desejaríamos que se mantivessem afastadas, mas não há outra estrada por onde possamos evitá-las. Do outro lado de uma ponte coberta, vemos um pequeno povoado comprimido entre o riacho e a ladeira vertical da Montanha Redonda e imaginamos que o conjunto de apodrecidos telhados à holandesa revelam um período arquitetônico mais antigo que o da região vizinha. Não é nada animador, observando mais atentamente, que a maioria das casas estão abandonadas e caindo aos pedaços e que a igreja, com o campanário quebrado, abriga agora o único e desmazelado estabelecimento comercial da aldeia. Apavoramo-nos ao ter que passar pelo tenebroso túnel da ponte, contudo não há como evitá-lo. Uma vez transposto, não é raro sentirmos um leve e maligno odor na rua do povoado, que acumula o mofo e a decadência de séculos. É sempre um alívio sair desse lugar e seguir pela estrada estreita que circunda a base das colinas e cruza a planície até se unir novamente à rodovia de Aylesbury. Depois de algum tempo, às vezes nos damos conta de que passamos por Dunwich.
Pessoas de fora visitam Dunwich com muito pouca freqüência, e, desde uma certa temporada de horror, todas as placas que indicavam sua direção foram retiradas. O cenário, julgado por qualquer cânon estético comum, excede em beleza, e, no entanto, não há afluência de artistas nem de turistas de verão. Há dois séculos, quando ninguém ria ao se falar de bruxaria, adoração de Satanás e presenças estranhas nas florestas, era de costume explicar a razão de se estar evitando a localidade. Em nossa era racional -desde que o horror de Dunwich de 1928 foi silenciado por aqueles que se sensibilizaram pelo bem-estar da cidade e do mundo- as pessoas afastam-se dela sem saber exatamente por quê. Talvez isso se deva ao fato – embora não possa ser aplicado a estranhos desavisados – de que os habitantes locais estejam agora numa fase de decadência repugnante e muito superior aquele nível de atraso tão comum nos confins da Nova Inglaterra. Eles acabaram por formar uma raça própria, com características mentais e físicas bem definidas de degeneração e endogamia. Sua inteligência média é lamentavelmente baixa, ao mesmo tempo que seus anais exalam a podridão de uma imoralidade patente e de assassinatos, incestos e atos de quase inominável violência e perversidade mais ou menos encobertos. A velha aristocracia, representada pelas duas ou três famílias nobres que vieram de Salem em 1692, mantiveram-se um pouco acima do nível geral de decadência; embora muitos ramos misturaram-se tão profundamente à massa sórdida que somente seus nomes permanecem como um indicativo da origem que desonram. Alguns dos Whateley e Bishop ainda mandam seus filhos mais velhos para Harvard e Miskatonic, embora estes raramente retornem aos arruinados telhados à holandesa sob os quais eles e seus ancestrais nasceram.
Ninguém, nem mesmo aqueles que conhecem os fatos relacionados ao recente horror, podem dizer com clareza o que há de errado com Dunwich, embora velhas lendas falem de ritos profanos e conclaves de índios, nos quais eram invocadas formas proibidas de sombra que saíam das grandes colinas arredondadas, e eram feitas preces orgiásticas respondidas por altas crepitações e estrondos provenientes do solo abaixo. Em 1747, o Reverendo Abijah Hoadley, recém-chegado à Igreja Congregacional do Povoado de Dunwich, pregou um sermão memorável sobre a presença próxima de Satanás e seus diabretes, no qual disse:
Não se pode negar que essas Blasfêmias de um infernal Cortejo de Demônios são assuntos de Conhecimento muito comum para serem negadas; as vozes amaldiçoadas de Azazel e Buzrael, de Belzebu e Belial que provêem do subsolo, foram ouvidas por mais de Vinte Testemunhas confiáveis e que ainda estão vivas. Eu mesmo, menos de Duas Semanas atrás, ouvi um Discurso muito claro de Forças malignas na Colina atrás da minha casa; onde havia uma Algazarra e Agitação, uns Gemidos, Berros e Silvos, que nenhuma Coisa desta Terra poderia provocar e que, com certeza, vinham daquelas Cavernas, que somente a Magia Negra pode descobrir e somente o Diabo revelar.
O Sr. Hoadley desapareceu logo após proferir esse sermão, mas o texto, impresso em Springfield, ainda existe. Ruídos nas colinas continuaram a ser relatados ano a ano e ainda formam um quebra-cabeças para geólogos e fisiógrafos.
Outras tradições falam de fétidos odores perto dos círculos de pilares de pedras que coroam as colinas e de presenças etéreas impetuosas, que são ouvidas debilmente a certas horas e em pontos fixos na base das grandes ravinas, enquanto ainda outras tentam explicar o Campo do Demo – uma encosta árida e amaldiçoada onde não cresce nenhuma árvore, arbusto ou capim. Além disso, os habitantes locais têm um medo mortal dos numerosos curiangos que cantam mais alto nas noites quentes. Juram que os pássaros são psicopompos à espera das almas dos moribundos e que emitem seus gritos sinistros em uníssono com a respiração ofegante do sofredor. Se conseguem agarrar a alma fugitiva quando deixa o corpo, eles rapidamente se alvoroçam chilreando numa risada demoníaca, mas, se falham, caem pouco a pouco num silêncio desapontado.
É claro que essas histórias são obsoletas e ridículas, pois são transmitidas desde tempos muito antigos. Dunwich é, de fato, um povoado absurdamente velho – bem mais velho do que qualquer uma das comunidades num raio de 50 quilômetros. Ao sul, podemos avistar as paredes do porão e a chaminé da antiga casa dos Bishop, que foi construída antes de 1700, ao passo que as ruínas do moinho da cachoeira, construído em 1806, constituem-se na peça arquitetônica mais moderna visível. A indústria não floreceu em Dunwich, e o movimento fabril do século XIX não resistiu muito tempo. Mais velhos de todos são as grandes circunferências de colunas de pedra desbastadas dos topos das colinas, mas elas são mais atribuídas aos índios que aos colonizadores. Depósitos de caveiras e ossos, encontrados dentro desses círculos e ao redor da enorme pedra em forma de mesa na Colina Sentinela, sustentam a crença popular de que tais locais já foram cemitérios dos Pocumtucks; ainda que muitos etnólogos, menosprezando a absurda improbabilidade de tal teoria, persistem acreditando tratar-se de restos caucásicos.
Foi no distrito de Dunwich, numa grande e em parte desabitada sede de um sítio localizada na encosta de uma colina a cerca de seis quilômetros e meio do povoado e dois quilômetros e meio de qualquer outra residência, onde nasceu Wilbur Whateley, às 5 horas da manhã do domingo, dia dois de fevereiro de 1913. Essa data era relembrada porque era o dia de Nossa Senhora da Candelária, que os habitantes de Dunwich curiosamente celebram com outro nome, e porque foram ouvidos os ruídos nas colinas e todos os cães das redondezas latiram persistentemente durante toda a noite anterior. Menos digno de nota era o fato de que a mãe fazia parte do ramo decadente dos Whateley, uma mulher albina de 35 anos um tanto deformada e nada atraente, que morava com um pai idoso e meio louco de quem, em sua juventude, correram rumores sobre as mais assustadoras histórias de bruxarias. Lavinia Whateley não tinha marido conhecido, mas, de acordo com o costume da região, não fez nenhuma tentativa de rejeitar a criança; no que diz respeito ao outro lado da linhagem, os camponeses puderam especular, e assim o fizeram de todas as maneiras cabíveis. A mãe, pelo contrário, parecia estranhamente orgulhosa dessa criança escura e semelhante a um bode, que contrastava muito com seu doentio albinismo de olhos cor-de-rosa, e costumava sussurrar muitas profecias curiosas sobre seus puderes incomuns e seu futuro brilhante.
Lavinia era bem capaz de mencionar tais coisas, já que era uma criatura solitária e dada a vagar em meio a tempestades nas colinas, tentando ler os grandes livros malcheirosos que seu pai herdara através de dois séculos de existência dos Whateley e que estavam-se desmantelando com o tempo e com os buracos de traça. Nunca fora à escola, mas se alimentava de fragmentos desconexos de sabedoria antiga que o Velho Whateley lhe havia ensinado. A remota sede sempre fora temida devido à reputação do Velho Whateley de ser praticante de magia negra, e a inexplicada morte violenta da Sra. Whateley, quando Lavinia tinha doze anos, não havia ajudado a tornar o local popular. Isolada em meio a estranhas influências, Lavinia apreciava os devaneios selvagens e grandiosos e as ocupações singulares; em seu tempo livre, não se dedicava muito aos cuidados da casa, de onde todos os padrões de ordem e limpeza haviam desaparecido há muito tempo.
Houve um grito horrível que ecoou até por sobre os ruídos das colinas e os latidos dos cães na noite em que Wilbur nasceu, mas nenhum médico ou parteira conhecidos fizeram seu parto. Os vizinhos não sabiam nada dele até uma semana depois, quando o Velho Whateley conduziu seu trenó pela neve até o Povoado de Dunwich e disse umas palavras incoerentes para o pessoal da venda do Osborn. Parecia haver uma mudança no velho – um novo elemento de dissimulação em seu cérebro enevoado que subitamente o transformou de objeto em sujeito do medo – embora não costumasse ser perturbado por nenhum acontecimento familiar corriqueiro. Em meio a tudo isso, mostrou um certo orgulho, que pôde também ser notado em sua filha posteriormente, e o que ele disse sobre a paternidade da criança foi lembrado anos depois por muitos daqueles que o ouviram.
- Num quero sabê o que o povo fala; se o fio da Lavinny paricesse com o pai, não ia parecê com nada conhecido. Oceis acha que só tem gente iguar que a gente daqui. A Lavinny já leu e viu umas coisa que a maioria d’oceis só sabe falá. Eu acho que o home dela é dos mió qu’oceis pode encontrá desse lado de Aylesbury; e se oceis conhecesse das montanha como eu, num ia pedi mió casamento na igreja do que o dela. Vô falá uma coisa pr’oceis – um dia oceis vai ouvi um fio da Lavinny chamá o nome do pai no ar to da Colina Sentinela!
As únicas pessoas que viram Wilbur durante o primeiro mês de sua vida foram o velho Zechariah Whateley, dos Whateley não decadentes, e Mamie Bishop, a companheira de Earl Sawyer. A visita de Mamie foi mesmo por curiosidade, e as histórias contadas por ela depois fizeram justiça a suas observações; mas foi então que Zechariah levou duas vacas leiteiras da raça Alderney que o Velho Whateley havia comprado de seu filho Curtis. Isso marcou o começo de uma seqüência de compras de gado da parte da família do pequeno Wilbur que só terminou em 1928, ano em que se deu o horror de Dunwich; no entanto, o estábulo em ruínas dos Whateley em nenhum momento pareceu estar superlotado de gado. Houve uma época em que as pessoas ficaram curiosas a ponto de subir às escondidas para contar o rebanho, que pastava precariamente na encosta íngreme acima da velha sede, mas nunca conseguiram encontrar mais do que dez ou doze animais anêmicos e exangues. Era evidente que alguma praga ou doença, talvez disseminada através da pastagem insalubre ou do madeiramento e dos fungos contaminados do estábulo imundo, estava causando um alto índice de mortalidade no gado do Whateley. Feridas ou chagas esquisitas, algo semelhantes a incisões, pareciam afligir o gado que se encontrava à vista; e uma ou duas vezes, durante os primeiros meses de vida do menino, alguns visitantes sugeriram ter reconhecido chagas similares nos pescoços do velho grisalho barbado e de sua desleixada filha albina de cabelo crespo.
Na primavera após o nascimento de Wilbur, Lavinia retomou suas costumeiras perambulações pelas colinas, carregando em seus braços desproporcionais a criança morena. O interesse popular pelos Whateley diminuiu depois que a maioria dos camponeses já havia visto o bebê, e ninguém se preocupou em comentar sobre o acelerado desenvolvimento que aquele recém-nascido parecia exibir todos os dias. O crescimento de Wilbur era de fato impressionante, visto que, num prazo de três meses de seu nascimento, havia atingido um tamanho e força muscular incomuns para crianças com menos de um ano completo. Seus movimentos e até mesmo seus sons vocais mostravam prudência e decisão muito peculiares para uma criança, e ninguém estranhou quando, aos sete meses, começou a andar sem ajuda, com pequenos tropeços que desapareceriam no próximo mês.
Pouco tempo depois – no Halloween – uma grande fogueira foi vista à meia-noite no cume da Colina Sentinela, onde está a velha pedra em forma de mesa entre seu túmulo de ossos antigos. Surgiram muitos comentários quando Silas Bishop – dos Bishop não decadentes – mencionou ter visto o menino subindo correndo com muita rapidez a montanha à frente de sua mãe cerca de uma hora antes de as chamas serem notadas. Silas estava arrebanhando uma novilha desgarrada, mas quase esqueceu sua missão quando avistou, de relance, a presença das duas figuras iluminadas parcialmente por sua lanterna. Elas dispararam a correr pelo mato rasteiro quase sem fazer barulho, e o pasmado observador parecia acreditar que estavam inteiramente nuas. Mais tarde, já não podia ter certeza com respeito ao menino, que poderia estar vestido com um tipo de cinto de franjas e com uma bermuda ou calças escuras. Wilbur nunca mais foi visto, vivo e consciente, sem um traje completo e muito bem abotoado, pois o desalinho ou iminente desalinho deste sempre parecia enfurecê-lo e alarmá-lo. Seu contraste com a esquálida mãe e o avô a este respeito era um fato muito observado até que o horror de 1928 sugeriu a mais válida das razões.
No mês de janeiro seguinte, houve apenas alguns boatos sobre o fato de que “o moleque negro da Lavinny” havia começado a falar com somente onze meses. Seu modo de falar era algo notável tanto por ser diferente do sotaque comum à região quanto por não apresentar aquele balbucio infantil de que muitas crianças de três ou quatro anos podem muito bem se orgulhar. O menino não era falador, entretanto, quando falava, parecia expressar algum elemento indefinível e totalmente alheio a Dunwich e seus habitantes. A estranheza não estava no que ele dizia, ou nas simples expressões que ele usava, mas parecia vagamente ligada a sua entonação ou aos órgãos internos que produziam os sons pronunciados. Também seu aspecto facial era notável pela maturidade; embora apresentasse a mesma ausência de queixo da mãe e do avô, seu nariz firme e precocemente modelado, aliado à expressão dos grandes, escuros e quase latinos olhos, davam-lhe um certo ar adulto e uma inteligência fora do comum. Era, contudo, extremamente feio apesar de sua aparência brilhante; havia algo quase caprino ou animalesco em seus lábios grossos, na pele amarelada e de poros grandes, nos cabelos crespos e grossos e nas orelhas estranhamente alongadas. Logo, tornou-se decididamente ainda menos apreciado do que sua mãe e seu avô, e todas as suposições sobre ele eram pinceladas com referências à antiga magia do Velho Whateley e a como as colinas certa vez tremeram quando ele gritou o terrível nome de Yog-Sothoth no meio de um círculo de pedras segurando um enorme livro aberto a sua frente. Os cães detestavam o menino, e ele era sempre obrigado a tomar várias medidas defensivas contra seus latidos ameaçadores.
Nesse ínterim, o Velho Whateley continuou a comprar gado sem que se percebesse qualquer aumento em seu rebanho. Ele também cortou madeira e começou a consertar as partes sem uso de sua casa – uma construção espaçosa, de telhado pontiagudo, cuja parte de trás estava inteiramente encravada na ladeira rochosa da colina, e cujos três cômodos térreos menos arruinados haviam sempre sido suficientes para ele e sua filha. O velho devia ainda ser muito forte para conseguir realizar tanto trabalho pesado; e, embora ainda balbuciasse coisas de modo demente algumas vezes, sua carpintaria parecia demonstrar resultados de cálculos precisos. Ele começou as obras assim que Wilbur nasceu, pondo logo um dos muitos barracões de ferramentas em ordem, revestindo-o com ripas e equipando-o com uma fechadura nova e resistente. No que se refere à reforma da abandonada parte de cima da casa, foi um artífice não menos cuidadoso. Sua obsessão mostrava-se somente em seu preciso fechamento com madeira de todas as janelas da parte em reparos – embora muitos declarassem que era uma loucura incomodar-se com a reforma em geral. Menos inexplicáveis foram as instalações de outro quarto térreo para seu novo neto – um quarto que diversos visitantes viram, embora ninguém nunca fosse admitido na completamente fechada parte de cima. Nesse aposento, ele colocou estantes altas e firmes, nas quais começou a organizar, numa ordem aparentemente cuidadosa, todos os carcomidos livros antigos e partes de livros que até então ficavam amontoados desordenadamente pelos cantos dos vários cômodos.
- Eu usei um pouco eles – disse ao tentar remendar uma página rasgada, escrita em letra gótica, com cola preparada no enferrujado fogão da cozinha – mais o menino é que vai usá eles mais. É mió ele guardá eles direitim porque eles vai sê útir pr’ele aprendê.
Quando Wilbur tinha um ano e sete meses – em setembro de 1914 – seu tamanho e habilidades eram quase alarmantes. Tinha a estatura de uma criança de quatro anos e falava de modo fluente e com uma inteligência incrível. Corria livremente pelos campos e colinas e acompanhava sua mãe em todas as suas perambulações. Em casa, estudava cuidadosamente as esquisitas figuras e gráficos dos livros de seu avô, enquanto o Velho Whateley instruía-o e catequisava-o por longas e silenciosas tardes. Nessa época, a reforma da casa havia terminado, e aqueles que a observavam ficavam imaginando por que uma das janelas superiores havia sido transformada numa sólida porta de madeira. Era uma janela na parte de trás da empena do lado leste, encostada na colina; e ninguém podia imaginar por que uma rampa de madeira foi construída desde o chão e presa nela. Por volta do período de término dessa obra, as pessoas notaram que a velha casa das ferramentas, hermeticamente fechada e com as janelas revestidas por ripas de madeira desde o nascimento de Wilbur, havia sido abandonada de novo. A porta ficava descuidadamente aberta e, assim que Earl Sawyer entrou ali depois de uma visita para a venda de gado ao Velho Whateley, ficou um tanto perturbado com o odor singular com o qual se deparou – esse mau cheiro, afirmou, que ele nunca havia sentido antes em toda a sua vida, exceto perto dos círculos indígenas nas colinas, e que não poderia provir de nada são ou desta Terra. Mas até aí, os lares e barracões do povo de Dunwich nunca foram notáveis pela imaculabilidade olfativa.
Nos meses seguintes, não houve nenhum acontecimento digno de nota, com exceção de que todos constataram um lento mas constante aumento nos misteriosos ruídos nas colinas. Na Véspera de Maio de 1915, houve tremores que até mesmo os moradores de Aylesbury sentiram, enquanto que o Halloween daquele ano produziu um estrondo no subsolo, sincronizado, de forma bizarra, com rajadas de chamas – “é as bruxaria dos Whateley” – provenientes do cume da Colina Sentinela. O modo como Wilbur crescia era tão estranho que parecia um menino de dez anos quando acabara de completar três. Lia sozinho e sem nenhuma dificuldade; mas falava muito menos que antes. Uma taciturnidade profunda estava absorvendo-o, e, pela primeira vez, as pessoas começaram a falar especificamente de um certo semblante de maldade em seu rosto caprino. Às vezes, balbuciava em uma linguagem desconhecida e cantava em ritmos bizarros que assustavam o ouvinte, provocando-lhe uma sensação de inexplicável terror. A aversão dos cães por ele tornara-se então assunto para extensos comentários, e ele era obrigado a carregar uma pistola para atravessar o campo em segurança. Os usos ocasionais da arma não aumentaram sua popularidade entre os donos de cães de guarda.
Os poucos que visitavam a casa encontravam Lavinia freqüentemente sozinha no térreo, enquanto gritos estranhos e passos ressoavam na lacrada parte de cima. Ela nunca contava o que seu pai e o menino faziam lá em cima, embora uma vez tenha empalidecido e ficado muito apavorada quando um vendedor de peixe brincalhão tentou abrir a porta trancada que dava para a escada. Aquele mascate contou ao pessoal da venda no Povoado de Dunwich que pensou ter ouvido pisadas de cavalo naquele piso de cima. Eles refletiram, pensando na porta, na rampa e no gado que desapareceu tão repentinamente, estremecendo ao se lembrar das histórias de quando Whateley era jovem e das estranhas coisas que são chamadas para fora da Terra quando um novilho é sacrificado no momento oportuno para certos deuses pagãos. Durante um determinado tempo, notou-se que os cães haviam começado a detestar e temer toda a propriedade dos Whateley tão violentamente quanto detestavam e temiam o jovem Wilbur em pessoa.
Em 1917 chegou a guerra, e o grande proprietário de terras Sawyer Whateley, na condição de presidente da junta de recrutamento local, havia tido muito trabalho para encontrar uma quota de jovens de Dunwich aptos até mesmo para serem mandados para o serviço militar. O governo, alarmado com tais sinais de uma decadência regional completa, enviou vários oficiais e peritos médicos para investigar, conduzindo uma pesquisa que os leitores dos jornais da Nova Inglaterra ainda recordam. Foi a publicidade dedicada a essa investigação que colocou repórteres no rastro dos Whateley e causou a publicação, no Boston Globe e Arkham Advertiser, de histórias dominicais sensacionalistas sobre a precocidade do jovem Wilbur, a magia negra do Velho Whateley, as estantes de livros antigos, o lacrado segundo piso da antiga sede e a singularidade de toda a região com seus ruídos nas colinas. Wilbur tinha quatro anos e meio então e parecia um rapaz de quinze. Seus lábios e bochechas estavam completamente cobertos com pelos ásperos e escuros e sua voz havia começado a mudar.
Earl Sawyer foi para a propriedade dos Whateley com o grupo de repórteres e fotógrafos e chamou sua atenção para o estranho mau cheiro que parecia provir da parte de cima lacrada. Ele afirmou que era exatamente igual a um cheiro que sentira no barracão de ferramentas abandonado quando a reforma havia finalmente terminado e semelhante aos leves odores que, às vezes, parecia sentir perto do círculo de pedras nas montanhas. O povo de Dunwich leu as histórias quando foram publicadas e riu dos erros óbvios. Tentavam imaginar, também, por que os escritores atinham-se tanto ao fato de que o Velho Whateley sempre pagava pelo gado com antiqüíssimas moedas de ouro. Os Whateley haviam recebido seus visitantes com uma aversão mal disfarçada, embora não tivessem ousado oferecer nenhuma forte resistência ou se recusado a falar, para evitar que se desse maior publicidade ao caso.
Durante uma década, os anais dos Whateley inseriram-se indistintamente na vida cotidiana de uma mórbida comunidade acostumada a seus estranhos modos, que eram fortalecidos com as orgias da Véspera de Maio e da Véspera de Todos os Santos. Duas vezes por ano, eles faziam fogueiras no cume da Colina Sentinela; nesses momentos, os estrondos das montanhas ressurgiam com uma violência cada vez maior, ao passo que, durante todo o ano, eram realizados atos estranhos e pressagiosos no solitário casarão. Com o tempo, os visitantes afirmaram ouvir sons na lacrada parte de cima mesmo quando toda a família estava embaixo, e eles ficaram imaginando o quão rápido ou demorado era, geralmente, o sacrifício de uma vaca ou novilha. Falou-se em dar queixa à Sociedade Protetora dos Animais, mas nunca nada foi feito, já que o povo de Dunwich não demonstra a menor vontade de chamar a atenção do mundo exterior para si.
Por volta de 1923, quando Wilbur era um menino de dez anos cuja mentalidade, voz, estatura e rosto barbado davam-lhe todas as impressões de maturidade, uma segunda grande febre de carpintaria começou na velha casa. As obras foram realizadas somente na parte de cima, e, pelos pedaços de madeira jogados, as pessoas concluíram que o jovem e seu avô haviam arrancado todas as repartições e até removido o sótão, deixando apenas um espaço vazio e aberto entre o térreo e o telhado pontiagudo. Haviam derrubado, também, a grande chaminé central e adaptado ao enferrujado fogão uma frágil chaminé de latão externa.
Na primavera após esse acontecimento, o Velho Whateley notou o número crescente de curiangos que saíam do Vale da Fonte Fria para gorjear embaixo de sua janela à noite. Parecia considerar essa circunstância como de grande importância e disse ao pessoal da venda do Osborn que achava que sua hora quase havia chegado.
- Eles pia bem juntim com a minha respiração agora – disse – e acho que eles tão se arrumano pra pegá meu esprito. Eles sabe que ele tá saíno e num qué perdê ele. Oceis vai sabê, gente, dispois que eu morrê se eles me pegô ô não. Se pegá, eles vai ficá cantano e rino até o dia nascê. Se num pegá, eles vai ficá bem quetim. Espero que eles e os esprito que eles caça tem umas briga danada de boa argum dia.
Na noite de 1° de agosto, comemoração da festa da colheita, de 1924, o Dr. Houghton de Aylesbury foi chamado com urgência por Wilbur Whateley, que galopou a toda pressa com seu último cavalo através da escuridão para telefonar da venda do Osborn no povoado. Ele encontrou o Velho Whateley em estado muito grave, com o coração acelerado e a respiração ofegante que indicavam um final bem próximo. A disforme filha albina e o neto com aquela barba esquisita puseram-se ao lado da cama, enquanto do abismo vazio acima vinha um inquietante som semelhante ao rítmico balanço ou marulho das ondas em alguma praia de águas calmas. O médico, contudo, estava mais incomodado com o chilrar dos pássaros noturnos do lado de fora; uma legião aparentemente ilimitada de curiangos que gritava sua mensagem infinita em repetições diabolicamente sincronizadas com a respiração entrecortada do moribundo. Era por demais incomum e anormal, pensou o Dr. Houghton, como toda aquela região que ele havia adentrado tão relutantemente em resposta ao urgente chamado.
Por volta da uma hora, o Velho Whateley recobrou a consciência e interrompeu sua respiração ofegante para balbuciar algumas palavras a seu neto.
-Mais espaço, Willy, mais espaço logo. Ocê cresce, mais ele cresce mais ligero. Vai tá pronto para servi ocê logo, menino. Abre os portão pra Yog-Soloth com aquela reza comprida que ocê vai encontrá na página 751 da edição compreta, e intão bota fogo na prisão. Fogo nenhum da Terra pode queimá ele.
Ele estava claramente alucinado. Depois de uma pausa, durante a qual o bando de curiangos lá fora sincronizou seus gritos com o andamento alterado da respiração do velho, ao mesmo tempo que alguns indícios dos estranhos ruídos nas colinas vieram de bem longe, ele pronunciou mais uma ou duas frases.
- Dá comida pr’ele sempre, Willy, e óia o tanto; mais não deixa ele crescê muito ligero pro
lugá, porque se ele rebentá o lugá dele e saí antes d’ocê abri pro Yog-Sothoth, tá tudo acabado e
num vai servi pra nada. Só eles lá de longe pode fazê ele se murtiplicá e trabaiá. … Só eles, os
antigo que qué vortá. . . .
Mas as palavras deram lugar às palpitações de novo, e Lavinia gritou ao perceber a maneira como os curiangos acompanhavam a mudança. Por mais de uma hora nada mudou; então, finalmente, ouviu-se o último estertor do moribundo. O Dr. Houghton cobriu os vitrificados olhos cinzas com as pálpebras enrugadas ao mesmo tempo que o tumulto de pássaros silenciava-se imperceptivelmente. Lavinia soluçou, mas Wilbur somente se regojizou ao mesmo tempo que os ruídos nas colinas retumbavam debilmente.
- Eles não pegaro ele – murmurou com sua voz grossa e grave.
Nessa época, Wilbur era um estudioso de uma erudição espantosa em seu modo unilateral, e muitos bibliotecários de lugares distantes, onde são guardados livros raros e proibidos de tempos remotos, começavam a conhecê-lo por correspondência. Era cada vez mais odiado e temido na região de Dunwich devido a certos desaparecimentos de jovens que as suspeitas levavam vagamente a sua porta; mas conseguia sempre silenciar as investigações através de intimidações ou lançando mão daquele estoque de ouro antigo que, assim como no tempo de seu pai, ainda era gasto de modo regular e crescente para a compra de gado. Aparentava estar extremamente maduro agora e sua estatura, tendo alcançado o limite normal dos adultos, parecia sujeita a aumentar ainda mais. Em 1925, quando recebeu a visita de um estudioso e correspondente da Universidade de Miskatonic que partiu pálido e confuso, elejá havia alcançado mais de dois metros de altura.
Durante todos esses anos, Wilbur vinha tratando sua semi-deformada mãe albina com um desprezo crescente, chegando a proibi-la de ir às colinas com ele na Véspera de Maio e em Todos os Santos; e, em 1926, a pobre criatura queixou-se a Mamie Bishop de estar com medo dele.
- Tem mais coisa dele que eu sei do que eu posso contá pr’ocê, Mamie – ela disse – e hoje em dia tem mais inda do que eu mema sei. Juro por Deus, num sei que é que ele qué nem que é que tá tentano fazê.
Naquele Hallowen, os ruídos nas colinas soaram ainda mais alto, e o fogo queimou na Colina Sentinela como de costume; mas as pessoas prestaram mais atenção aos gritos rítmicos de vastos bandos de curiangos, incomumente atrasados, que pareciam estar reunidos perto da não-iluminada casa dos Whateley. Após a meia-noite, suas notas estridentes irrromperam num tipo de gargalhada pandemoníaca que cobriu toda a região, e eles não se calaram até o nascer do sol. Então, eles desapareceram rapidamente em direção sul, pois já estavam atrasados em um mês completo. O que isso significava, ninguém pôde ter muita certeza até algum tempo depois. Parecia que nenhum dos habitantes da região havia morrido, mas a pobre Lavinia Whateley, a albina deformada, nunca mais foi vista.
No verão de 1927, Wilbur consertou dois barracões do terreiro e começou a transportar seus livros e pertences para lá. Logo depois, Earl Sawyer contou ao pessoal da venda do Osborn que mais obras de carpintaria estavam sendo realizadas na casa dos Whateley. Wilbur estava fechando todas as portas e janelas do térreo e parecia estar retirando as repartições, tal como ele e seu avô haviam feito há quatro anos. Estava vivendo num dos barracões, e Sawyer achava que ele parecia mais preocupado e trêmulo do que o normal. Em geral, as pessoas suspeitavam que ele soubesse alguma coisa sobre o desaparecimento de sua mãe, e muito poucas ousavam aproximar-se dos arredores de sua propriedade agora. Sua altura aumentara para cerca de dois metros e quinze centímetros, e nada indicava que esse desenvolvimento fosse parar.
O inverno seguinte trouxe um acontecimento não menos estranho do que a primeira viagem de Wilbur para fora da região de Dunwich. Correspondências trocadas com a Bilioteca Widener em Harvard, a Biblioteca Nacional em Paris, o Museu Britânico, a Universidade de Buenos Aires e a Biblioteca da Universidade de Miskatonic em Arkham não tornaram possível o empréstimo de um livro que ele queria desesperadamente; assim, ao final, ele partiu em pessoa, maltrapilho, sujo, barbado e com seu dialeto impolido para consultar a cópia na biblioteca de Miskatonic, que era a mais próxima a ele geograficamente. Com quase dois metros e meio de altura, e carregando uma maleta barata e recém-comprada na venda do Osborn, essa gárgula escura e caprina apareceu um dia em Arkham à procura do temido volume mantido a sete chaves na biblioteca da faculdade – o terrível Necronomicon do árabe louco Abdul Alhazred na versão latina de Olaus Wormius, impresso na Espanha no século dezessete. Ele nunca vira uma cidade antes, mas não pensava em outra coisa a não ser encontrar seu caminho para o câmpus universitário; onde, de fato, passou imprudentemente pelo enorme cão-de-guarda de dentes brancos que latiu com fúria e inimizade incomuns enquanto puxava violentamente a rígida corrente que o prendia.
Wilbur estava com a inestimável mas imperfeita cópia da versão inglesa do Dr. Dee que seu avô havia-lhe deixado de herança e, ao ter acesso à cópia latina, começou a cotejar os dois textos com o objetivo de descobrir uma certa passagem que estaria na página 751 de seu volume defeituoso. Por mais que tentasse, não poderia deixar de dizê-lo, de maneira educada, ao bibliotecário – o mesmo erudito Henry Armitage (mestre pela Miskatonic, doutor pela Princeton e pela Johns Hopkins) que uma vez havia passado pela fazenda e que agora, polidamente, importunava-o com perguntas. Ele estava procurando, tinha que admitir, por um tipo de fórmula ou encantamento contendo o temível nome Yog-Sothoth, mas as discrepâncias, repetições e ambigüidades confundiam-no, tornando a tarefa muito complicada. Ao copiar a fórmular que ele finalmente escolheu, o Dr. Armitage olhou involuntariamente por cima de seus ombros para as páginas abertas; a da esquerda, na versão latina, continha ameaças monstruosas à paz e sanidade do mundo.
Também não é para se pensar (dizia o texto, que Armitage ia traduzindo mentalmente) que o homem é o mais velho ou o último dos mestres da Terra, nem que a massa comum de vida e substância caminha sozinha. Os Antigos foram, os Antigos são e os Antigos serão. Não nos espaços que conhecemos, mas entre eles. Caminham serenos e primitivos, sem dimensões e invisíveis para nós. Yog-Sothoth conhece o portal. Yog-Sothoth é o portal. Yog-Sothoth é a chave e o guardião do portal. Passado, presente e futuro, todos são um em Yog-Sothoth. Ele sabe por onde os Antigos entraram outrora e por onde Eles entrarão de novo. Ele sabe por quais campos da Terra Eles pisaram, onde Eles ainda pisam e por que ninguém pode vê-los quando pisam. Por seu cheiro, os homens podem saber que estão próximos, mas niguém conhece seu aspecto exterior, a não ser pelos traços daqueles que Eles geraram na humanidade; e daqueles há muitos tipos, diferindo em aparência do mais verdadeiro modelo de homem para aquela forma que não se vê ou que não tem substância que são Eles. Caminham invisíveis e fétidos em locais solitários onde as Palavras foram proferidas e os Ritos ressoaram em seus Períodos. O vento algaravia com Suas vozes, e a Terra murmura com Sua consciência. Eles dobram a floresta e esmagam a cidade, entretanto nenhuma floresta ou cidade pode ver a mão que castiga. Kadath, no deserto frio, conheceu-Os, mas qual homem conhece Kadath? O deserto gelado do Sul e as ilhas submersas do Oceano contêm pedras onde Sua marca está gravada, mas quem já viu a profunda cidade congelada ou a torre lacrada e toda coroada com algas e crustáceos? O Grande Cthulhu é Seu primo, entretanto só pode espiá-Los obscuramente. Iäl Shub-Niggurath! Como uma vileza vocês Os conhecerão. A mão deles está em suas gargantas, entretanto vocês não os vêem, e Sua morada é mesmo única com a entrada guardada. Yog-Sothoth é a chave para o portal, onde as esferas se encontram. O homem reina agora onde Eles reinaram um dia; em breve, Eles reinarão onde o homem reina agora. Depois do verão vem o inverno, e depois do inverno, o verão. Eles esperam pacientes e fortes, porque aqui reinarão de novo.
O Dr. Armitage – associando o que estava lendo com o que ouvira sobre Dunwich e as inquietantes presenças que por lá pairavam e sobre Wilbur Whateley e sua aura débil e hedionda, que se estendia desde um nascimento dúbio até indícios de um provável matricídio – sentiu uma onda de temor tão tangível quanto uma corrente vinda da fria viscosidade de um túmulo. O gigante caprino e encurvado diante dele assemelhava-se à prole de um outro planeta ou dimensão; como algo apenas parcialmente humano e ligado a golfos negros de essência e entidade que se estendiam como fantasmas titânicos além de todas as esferas de força e matéria, espaço e tempo. Em seguida, Wilbur levantou a cabeça e começou a falar daquele modo estranho e ressoante que sugeria órgãos produtores de sons diferentes dos comuns aos humanos.
- Sr. Armitage – disse – eu acho qu’eu tenho que levá aquele livro pra casa. Tem coisa
nele que eu tenho que exprimentá numas condição que num posso cunsegui aqui, e ia sê um pecado
mortar deixá que umas norma besta me impidisse. Me deixa levá ele comigo, senhor, e eu juro que
ninguém vai ficá sabeno. Num preciso dizê pro senhor que vou tomá conta direitim dele. Num fui
eu que deixô essa cópia do Dee do jeitim que tá…
Ele parou quando viu a expressão negativa no rosto do bibliotecário, e suas próprias feições caprinas tornaram-se maliciosas. Armitage, quase pronto a dizer-lhe que poderia tirar uma cópia das partes que precisava, de repente pensou nas possíveis conseqüências e se conteve. Era uma responsabilidade muito grande dar a tal ser a chave para essas blasfemas esferas exteriores. Whateley percebeu como as coisas se encontravam e tentou responder gentilmente.
-Ara, tá certo, se o senhor acha ansim. Tarveiz em Harvard eles num seja tão cheio de coisa que nem o senhor. – E, sem dizer mais nada, levantou-se e saiu caminhando com suas passadas largas, abaixando-se ao passar por cada porta.
Armitage ouviu o latido feroz do enorme cão-de-guarda e observou as passadas de gorila de Whateley ao atravessar a pequena parte do câmpus visível da janela. Pensou nas fantásticas histórias que ouvira e recordou os velhos artigos dominicais do Advertiser; nisso e também nas informações que havia conseguido com os camponeses e habitantes do povoado de Dunwich durante sua única visita lá. Coisas invisíveis de fora da Terra – ou, pelo menos, não da Terra tridimensional – corriam fétidas e horríveis pelos vales estreitos da Nova Inglaterra e pairavam obscenamente sobre os topos das montanhas. Há tempos elejá se convencera disso. Agora parecia sentir a presença iminente de alguma fase terrível do horror que se impunha e entrever um avanço diabólico nos domínios negros do antigo e até então passivo pesadelo. Encerrou o Necronomicon com um estremecimento de repugnância, mas a sala ainda exalava um mau cheiro ímpio e inidentificável. “Como uma vileza vocês os conhecerão”, citou. Sim, o odor era o mesmo que aquele que lhe causou náuseas na casa dos Whateley há menos de três anos. Pensou uma vez mais em Wilbur, caprino e ominoso, e riu ironicamente dos rumores que corriam no povoado sobre sua linhagem.
- Endogamia? – Armitage pronunciou meio alto para si. – Deus meu, que simplórios! Mostre a eles o Grande Deus Pã de Arthur Machen e vão pensar que é um escândalo corriqueiro como os de Dunwich! Mas que coisa – que amaldiçoada influência amorfa dessa ou de fora desta Terra tridimensional – era o pai de Wilbur Whateley? Nascido no dia de Nossa Senhora da Candelária – nove meses depois da Véspera de Maio de 1912, quando os rumores sobre ruídos esquisitos provenientes da terra chegaram até Arkham -, que tipo de ser passeava pelas montanhas naquela noite de maio? Que horror nascido no dia da Exaltação da Cruz impunha-se ao mundo em carne e osso semi-humanos?
Durante as semanas seguintes, o Dr. Armitage começou a coletar todos os dados possíveis sobre Wilbur Whateley e as presenças amorfas que circundavam Dunwich. Entrou em contato com o Dr. Houghton de Aylesbury, que havia atendido o Velho Whateley em sua doença fatal, e encontrou muito sobre o que ponderar nas últimas palavras do avô citadas pelo médico. Uma visita ao Povoado de Dunwich não lhe trouxe maiores novidades; mas uma pesquisa mais aprofundada no Necronomicon – naquelas partes que Wilbur havia procurado tão avidamente – parecia fornecer novas e terríveis pistas sobre a natureza, métodos e desejos da estranha maldade que tão vagamente ameaçava este planeta. Conversas mantidas em Boston com vários estudiosos da cultura antiga e cartas a outros de diversos lugares trouxeram-lhe um crescente assombro que passou lentamente por vários graus de inquietação até um estado de medo espiritual realmente intenso. À medida que o verão aproximava-se, aumentava sua sensação de que algo deveria ser feito sobre os terrores ocultos do vale superior do Miskatonic e também sobre o ser monstruoso conhecido entre os humanos como Wilbur Whateley.
O horror de Dunwich chegou mesmo entre o dia 1° de agosto, comemoração da festa da colheita, e o equinócio de 1928, e o Dr. Armitage estava entre aqueles que testemunharam seu monstruoso prólogo. Nesse ínterim, ele ouvira sobre a grotesca viagem de Whateley a Cambridge e sobre seus esforços desvairados para tomar emprestado ou copiar o que necessitava do Necronomicon na Biblioteca Widener. Tais esforços foram em vão, já que Armitage havia sido muito perspicaz ao deixar de sobreaviso todos os bibliotecários a cargo do temível volume. Wilbur ficou extremamente nervoso em Cambridge; estava ansioso para ter o livro e, contudo, quase igualmente ansioso para voltar para casa de novo, como se temesse as conseqüências de se ausentar por muito tempo.
No princípio de agosto, manisfestou-se o resultado já meio que esperado, e, nas primeiras horas do dia 3, o Dr. Armitage foi acordado repentinamente pelos selvagens e furiosos latidos do feroz cão-de-guarda do câmpus universitário. Profundos e terríveis, os rosnados e latidos semelhantes aos de um cão raivoso continuaram sempre em volume ascendente, mas com pausas terrivelmente significativas. Então, soou um grito de uma garganta completamente diferente – um grito que acordou metade dos moradores de Arkham e assombrou seus sonhos para sempre -, um grito que não poderia vir de nenhum ser nascido na Terra ou completamente humano.
Armitage, apressando-se em vestir algo e atravessando correndo a rua e o gramado em direção aos prédios da faculdade, viu que outros já haviam chegado a sua frente e ouviu os ecos estridentes de um alarme antifurto que vinha da biblioteca. À luz da lua, uma janela aberta mostrava-se como um buraco negro. O que viera havia, de fato, conseguido entrar, pois os latidos e gritos, agora passando gradualmente a uma mistura de rosnados lentos e gemidos, procediam inconfundivelmente de dentro. Um certo instinto avisou Armitage que o que estava acontecendo não era algo para olhos despreparados virem, então ele empurrou a multidão para trás com autoridade enquanto destrancava a porta do vestíbulo. Entre os demais, viu o Prof. Warren Rice e o Dr. Francis Morgan, para quem havia contado algumas de suas suposições e desconfianças, e acenou para que o acompanhassem. Os sons interiores, exceto pelo ganido contínuo e vigilante do cão-de-guarda, haviam quase que desaparecido nesse momento; mas foi então que Armitage sobressaltou-se ao perceber que um coro alto de curiangos entre a moita de arbustos havia começado a piar num ritmo abominável, como se em uníssono com as últimas respirações do moribundo.
O prédio estava exalando um terrível mau cheiro que o Dr. Armitage conhecia muito bem, e os três homens atravessaram correndo o saguão em direção à pequena sala de leitura genealógica de onde provinha o débil ganido. Por alguns segundos, ninguém ousou acender a luz, até que Armitage juntou coragem e bateu no interruptor. Um dos três – não se sabe qual – soltou um grito alto ao ver o que se esparramava a sua frente entre mesas bagunçadas e cadeiras viradas. O Prof. Rice afirma que perdeu completamente a consciência por um instante, embora suas pernas não bambearam nem ele caiu.
Aquela coisa, que se encontrava meio caída de lado numa poça fétida de ícor amarelo esverdeado e de uma substância preta viscosa e de quem o cão havia rasgado toda a roupa e uns pedaços da pele, tinha quase três metros de altura. Não estava morta de verdade, mas se contorcia silenciosa e espasmodicamente enquanto seu peito arfava em monstruoso uníssono com o enlouquecido piar dos curiangos que esperavam do lado de fora. Pedaços de couro de sapato e de roupa rasgada estavam espalhados pela sala, e, bem perto da janela, um saco de lona vazio se encontrava onde evidentemente havia sido jogado. Perto da escrivaninha central, havia um revólver caído, com um cartucho picotado mas carregado que mais tarde serviu para explicar por que não fora disparado. Contudo, a coisa eclipsava todas as outras imagens que havia a seu redor naquele momento. Seria banal e não muito preciso dizer que nenhuma caneta humana poderia descrevê-la, mas podemos dizer, com propriedade, que não poderia ser vividamente visualizada por qualquer um cujas idéias de aspecto e contorno são vinculadas demais às formas de vida comuns deste planeta e das três dimensões conhecidas. Sem sombra de dúvida, era um ser parcialmente humano, com mãos e cabeça muito semelhantes às dos homens, e o rosto caprino e sem queixo tinha a marca dos Whateley. Mas o tronco e as partes inferiores do corpo eram tão teratologicamente espantosas que somente as roupas largas o possibilitaram caminhar pela Terra sem ser desafiado ou erradicado.
Acima da cintura, era semi-antropomórfico, embora o peito – onde as patas dilacerantes do cão ainda pousavam atentamente – tinha a pele reticulada como o couro de um crocodilo ou jacaré. As costas eram malhadas de amarelo e preto e apresentavam uma certa semelhança com a pele escamosa de certas cobras. Abaixo da cintura, contudo, era muito pior, pois aqui toda a semelhança humana desaparecia e a pura fantasia começava. A pele era coberta por uma camada grossa de pelos negros e ásperos, e uma infinidade de compridos tentáculos cinza-esverdeados com ventosas vermelhas projetavam-se molemente do abdome. Sua disposição era repugnante e parecia seguir as simetrias de alguma geometria cósmica desconhecida na Terra ou no sistema solar. Em cada um dos quadris, bem cravejado num tipo de órbita rosada e ciliada, encontrava-se o que parecia ser um olho rudimentar; enquanto que, em vez de um rabo, em seu lugar pendia um tipo de tromba ou palpo com marcas anulares roxas e com muitas evidências de ser uma boca ou garganta não-desenvolvida. Os membros, exceto por sua pelagem negra, lembravam grosseiramente as patas traseiras de sauros gigantes da Terra pré-histórica e terminavam em hipotênares com veias saltadas que não eram nem cascos nem garras. Quando respirava, o rabo e os tentáculos mudavam de cor ritmicamente, como se obedecendo a alguma causa circulatória normal para o lado não-humano de sua descendência. Nos tentáculos, isso era observável como um aprofundamento do matiz esverdeado, ao passo que no rabo manifestava-se através da alternância entre seu aspecto amarelado e um repulsivo branco acinzentado nos espaços entre os anéis roxos. De sangue verdadeiro, não havia nada; só mesmo o ícor amarelo esverdeado que escorria pelo chão pintado para além do alcance daquela viscosidade e deixava uma curiosa descoloração por onde passava.
Como a presença dos três homens parecia despertar aquele ser moribundo, ele começou a resmungar sem virar ou levantar a cabeça. O Dr. Armitage não fez nenhum registro escrito de seus murmúrios, mas afirma categoricamente que nada em inglês foi pronunciado. Em princípio, as sílabas desafiavam toda a correlação com qualquer linguagem da Terra, mas as últimas trouxeram alguns fragmentos desconexos certamente retirados do Necronomicon, aquela monstruosa blasfêmia em busca da qual a coisa havia sucumbido. Esses fragmentos, da maneira que Armitage os recorda,
diziam algo como “Ngai, nghaghaa, bugg-shoggog, y’hah; Yog-Sothoth, Yog-Sothoth Eles
foram extinguindo-se conforme os curiangos davam seus gritos estridentes em crescendos ritmados que pressagiavam algo medonho.
Então houve uma pausa em sua voz entrecortada, e o cão levantou a cabeça num longo e lúgubre uivo. Uma mudança ocorreu no rosto amarelo e caprino da coisa prostrada, e os grandes olhos negros fecharam-se de modo aterrador. Do lado de fora da janela, a gritaria dos curiangos parou de repente, e sobre os murmúrios da multidão reunida ouviu-se o horripilante zumbido e alvoroço de seu vôo. Tendo a lua como fundo, vastos bandos de plúmeos observadores alçaram vôo e sumiram de vista, agitados com a presa que haviam encontrado.
De repente, o cão moveu-se de modo abrupto, deu um latido assustado e saltou para fora da janela pela qual havia entrado. Um brado saiu da multidão, e o Dr. Armitage gritou para os homens do lado de fora que ninguém poderia entrar até que a polícia ou o legista chegassem. Ele agradeceu o fato de que as janelas eram altas demais para permitir que se visse dentro, mas mesmo assim puxou para baixo todas as escuras cortinas, cobrindo cada uma das janelas cuidadosamente. Nesse momento, chegaram dois policiais, e o Dr. Morgan, encontrando-os no vestíbulo, advertiu-os, para seu próprio bem, a adiarem sua entrada na malcheirosa sala de leitura até que o legista chegasse e a coisa prostrada pudesse ser coberta.
Enquanto isso, mudanças assustadoras estavam acontecendo no chão. Não é necessário descrever o tipo e grau de encolhimento e desintegração que ocorria ante os olhos do Dr. Armitage e do Prof. Rice; mas se pode dizer que, com exceção da aparência externa do rosto e das mãos, o elemento realmente humano em Wilbur Whateley devia ser muito pequeno. Quando o legista chegou, só restava uma massa viscosa esbranquiçada sobre o chão de madeira todo pintado, e o medonho odor havia quase que desaparecido. Aparentemente, Whateley não tinha crânio ou esqueleto ósseo; pelo menos numa forma definida e concebível. De algum modo, saíra a seu pai desconhecido.
No entanto, isso tudo foi somente o prólogo do verdadeiro horror de Dunwich. Oficiais aturdidos procederam às formalidades; detalhes anormais foram devidamente ocultados da imprensa e do público; e homens foram enviados a Dunwich e Aylesbury para fazer o levantamento dos bens e notificar todos que pudessem ser herdeiros do falecido Wilbur Whateley. Encontraram os camponeses em grande agitação, tanto devido aos crescentes estrondos que provinham do interior das colinas arredondadas quanto pelo inusitado mau cheiro e pelos sons do marulhar das ondas que cada vez soavam mais alto vindos da grande concha vazia formada pela casa hermeticamente fechada dos Whateley. Earl Sawyer, que tomou conta do cavalo e do gado durante a ausência de Wilbur, lamentavelmente desenvolvera uma crise nervosa aguda. Os oficiais arranjaram desculpas para não entrar naquele local fechado e desagradável e contentaram-se com limitar sua investigação dos aposentos do falecido – os barracões recentemente consertados – a uma única visita. Eles preencheram um volumoso relatório no forum de Aylesbury, e dizem que litígios referentes à herança ainda tramitam entre os inumeráveis Whateley, decadentes ou não, do vale superior do Miskatonic.
Um quase interminável manuscrito, redigido em caracteres estranhos num enorme livro razão e considerado como um tipo de diário devido ao espaçamento e às variações na tinta e caligrafia, apresentava-se como um quebra-cabeça desconcertante para aqueles que o encontravam na velha cômoda que servia como escrivaninha de seu dono. Após uma semana de discussão, foi enviado para a Universidade de Miskatonic, junto com a coleção de livros estranhos do falecido, para estudo e possível tradução; mas mesmo os melhores lingüistas logo viram não ser provável sua decifração com facilidade. E nenhum sinal do ouro antigo, com o qual Wilbur e o Velho Whateley haviam sempre pagado suas dívidas, foi encontrado ainda.
Foi na noite do dia nove de setembro que o horror rompeu solto. Os ruídos das colinas haviam sido muito acentuados no fim de tarde, e os cães latiram freneticamente durante toda a noite. Aqueles que acordaram cedo no dia dez perceberam um peculiar mau cheiro no ar. Por volta das sete horas, Luther Brown, o empregado da propriedade de George Corey, localizada entre o Vale da Fonte Fria e o povoado, voltou correndo feito louco de seu passeio matinal à Campina dos Dez Acres com as vacas. Estava quase tendo um colapso de medo quando entrou tropeçando pela cozinha, enquanto que lá fora, no terreiro, o não menos assustado rebanho dava patadas e mugia deploravelmente, após haver compartilhado o pânico do menino durante todo o caminho de volta. Entre arquejos, Luther tentou balbuciar sua história para a Sra. Corey.
- Lá no arto da estrada dispois do vale, dona Corey, tem arguma coisa lá! Parece que caiu um raio e tudo o mato e as arvrinha da estrada foi empurrada p’a tráis iguar que se uma casa tinha passado por ali. E isso num é nem o pió. Tem umas marca na estrada, dona Corey, umas marca redonda e grandona do tamanho dum barrir, tudo afundado iguar que se um elefante tinha passado, e é uma coisa que quatro pé num pudia fazê. Oiei pra um ou dois antes de corrê e vi que tava tudo cuberto com uns risco que se espaiava dum lugá só, iguar que se um leque de foia de parmera, duas ou treis veiz mais grande que é, tinha socado fundo a estrada. E o cheiro era horrívi, iguar que aquele invorta da casa do Fiticero Whateley.
Nesse momento, ele gaguejou e parecia tremer outra vez com o mesmo pavor que o tinha feito voltar correndo para casa. A Sra. Corey, incapaz de extrair mais informações, começou a telefonar para os vizinhos; iniciando assim, nas redondezas, o prólogo do pânico que anunciava terrores maiores. Quando ligou para Sally Sawyer, governanta da propriedade de Seth Bishop, o lugar mais próximo da propriedade dos Whateley, foi sua vez de escutar ao invés de falar, pois Chauncey, filho da Sally, que dormiu muito mal, havia subido até o alto da colina em direção à propriedade dos Whateley e voltado correndo aterrorizado após dar uma olhada no lugar e também na pastagem onde as vacas do Sr. Bishop haviam sido deixadas a noite toda.
É, dona Corey – chegou a voz trêmula pela linha telefônica -, Chauncey acabô de vortá de lá e num conseguiu nem falá direito de tanto medo! Falô que a casa do Véiu Whateley exprodiu e que tem madera espaiada tudo invorta iguar que se tinha donamite drento, só ficô o chão de baixo, mas tá tudo cuberto com uma coisa que parece piche que tem um cheiro muito ruim e escorre dos canto pro lugá d’onde as madera voaro pra longe. E tem umas marca mais feia no terrero tamém – umas marca redonda mais grande que um barrir, e tudo grudento com aquela coisa que tem na casa que exprodiu. Chancey, ele disse que eles vai lá pr’os lado dos pasto d’onde formô uma faixa mais larga que uma tuia no chão, e tudos muro de preda tumbaro por tudos lado d’onde ele passô.
E ele contô, dona Corey, cumo é que ele foi procurá as vaca do Seth, apavorado do jeito qu’ele tava, e encontrô elas no pasto de cima perto do Campo do Demo num estado horrive. Metade delas tinha sumido e quage a metade delas que ficô já num tinha mais sangue, com aquelas ferida nelas iguar que as que apareceu no gado dos Whateley deis que o moleque preto da Lavinny nasceu. O Seth saiu agora p’a dá uma oiada nelas, mas eu acho que ele num vai querê chegá muito perto do sítio dos Whateley. O Chauncey num oió direito pra vê d’onde ia dá a faixa dispois do pasto, mas ele disse que acha que vai p’a estrada do barranco inté a vila.
Eu falo pra sinhora, dona Corey, tem arguma coisa lá fora que não tinha que tá lá fora, e eu acho que o preto Wilbur Whateley, que teve o fim que merecia, tá metido na criação dela. Ele num era inteiro humano, sempre falo pra todo mundo; e eu acho que ele e o Véiu Whateley deve de tê criado arguma coisa naquela casa pregada que era inda menos humano que ele. Sempre teve umas coisa escondida invorta de Dunwich, coisa viva, que num é humana e nem bom pr’os humano.
O chão tava falano onte de noite e de manhã Chauncey ouviu os curiango tão arto no Vale da Fonte Fria que num cunsiguiu dormi mais. Intão ele achô que ouviu outro baruiu vinu lá do sítio do Fiticero Whateley, um tar de baruiu de madera quebrano e despedaçano, iguar que se arguém tava abrino uma caixa ou engradado grande lá longe. E com tudo isso, ele num conseguiu dormi inté que o sor nasceu, e num acordô muito cedo hoje de manhã, mais ele tem que i de novo lá no Whateley pra vê o que tá sucedeno. Ele viu bastante, eu falo pra sinhora, dona Corey! Isso num é nada baum, e eu acho que tudo os home devia se juntá e fazê arguma coisa. Eu sei que arguma coisa muito ruim vai acontecê e eu tô sintino que a minha hora tá chegano, mas eu entrego nas mão de Deus.
O seu fio Luther percebeu pra d’onde ia as marca? Não? Intãoce, dona Corey, se tava na estrada do vale desse lado do vale e inda num chegô na sua casa, acho qu’eles deve de entrá no vale. Eles ia fazê isso. Eu sempre falo que o Vale da Fonte Fria num é um lugá saudave nem decente. Os curiango e os vagalume nunca agiro memo cumo se fosse criatura de Deus e tem gente que fala que ocê pode ouvi umas coisa estranha correno e falano no ar lá embaxo se ocê ficá no lugá certo entre os barranco de preda e a Toca do Urso.
Por volta das doze horas daquele dia, três quartos dos homens e meninos de Dunwich reuniram-se e seguiram pelas estradas e prados que havia entre as recentes ruínas dos Whateley e o Vale da Fonte Fria, examinando horrorizados as muitas pegadas monstruosas, o gado mutilado dos Bishop, os destroços malcheirosos da sede e a vegetação esmagada e contorcida dos campos e beiras de estrada. O que estava correndo solto pelo mundo seguramente havia descido para o interior da grande e sinistra ravina, pois todas as árvores nas encostas estavam envergadas e quebradas, e uma enorme alameda havia-se formado na vegetação rasteira que cobre as ladeiras do precipício. Era como se uma casa, arrastada por uma avalanche, houvesse descido escorregando pela emaranhada vegetação da ladeira quase vertical. Nenhum som chegava do fundo da ravina, somente um fedor distante e indifinível; e não é de se admirar que os homens preferissem ficar na beira e discutir, ao invés de descer e enfrentar o desconhecido horror ciclópico em seu covil. Três cães que estavam com o grupo haviam latido furiosamente de início, mas pareceram amedrontados e relutantes quando próximos ao vale. Alguém telefonou para o Aylesbury Transcript contando as notícias, mas o editor, acostumado às espantosas histórias de Dunwich, não fez mais do que inventar um parágrafo jocoso sobre o fato, que foi reproduzido logo depois pela Associated Press.
Naquela noite, todos foram para casa, e, em todas elas e também nos celeiros, foram feitas barricadas o mais sólidas possível. É inútil dizer que não foi permitido que nenhuma cabeça de gado permanecesse em pasto aberto. Por volta das duas da manhã, um terrível mau cheiro e os latidos furiosos dos cães acordaram a família de Elmer Frye, cuja propriedade se localizava na margem oriental do Vale da Fonte Fria, e todos concordaram que podiam ouvir um tipo de zunido abafado ou marulho vindo de algum lugar do lado de fora. A Sra. Frye propôs telefonar aos vizinhos, e Elmer estava a ponto de concordar quando o barulho de madeira estilhaçada interrompeu a conversa. Aparentemente, vinha do celeiro, e logo o gado começou a dar patadas no chão e a berrar feito louco. Os cães babaram e se agacharam timidamente perto dos pés da família entorpecida pelo medo. O Frye acendeu uma lanterna por força do hábito, mas sabia que seria a morte sair naquele terreiro escuro. As crianças e as mulheres choramingavam, evitando gritar por algum obscuro e vestigial instinto de defesa que lhes dizia que suas vidas dependiam do silêncio. Por fim, o barulho do gado transformou-se somente num lamento penoso, dando lugar a rachaduras, estalidos e crepitações, que soaram ainda mais alto. Os Frye, amontoaram-se na sala e não ousaram mover-se até que os últimos ecos realmente se extinguissem lá embaixo no Vale da Fonte Fria. Então, entre os desoladores gemidos vindos do estábulo e os demoníacos pios dos últimos curiangos no vale, Selina Frye foi cambaleando até o telefone e espalhou o quanto pôde as notícias sobre a segunda fase do horror.
No dia seguinte, toda a região de Dunwich estava em pânico, e grupos acovardados e incomunicativos transitavam por onde se dera aquele diabólico acontecimento. Duas faixas enormes de destruição estendiam-se do vale ao terreiro dos Frye, pegadas monstruosas cobriam os trechos de terreno sem vegetação e um lado do velho celeiro vermelho havia desmoronado completamente. Do gado, somente um quarto pôde ser encontrado e identificado. Alguns dos animais haviam sido despedaçados de modo curioso, e todos os que sobreviveram tiveram que ser sacrificados. Earl Sawyer sugeriu que se pedisse ajuda em Aylesbury ou Arkham, mas outros consideraram que seria inútil. O Velho Zebulon Whateley, de um ramo que hesitava entre a integridade física e mental e a decadência, fez sugestões sinistramente desatinadas sobre ritos que deveriam ser praticados nos cumes das colinas. Ele descendia de uma linhagem onde a tradição era forte, e suas lembranças de cânticos nos grandes círculos de pedra não estavam totalmente ligadas a Wilbur e seu avô.
A noite caiu sobre essa localidade acometida e passiva demais para se organizar para uma defesa real. Em certos casos, famílias muito amigas agrupavam-se sob um só teto e punham-se a vigiar no escuro; mas, em geral, havia somente uma repetição das barricadas da noite anterior e um gesto fútil e ineficaz de carregar mosquetes e armar-se com forcados. Contudo, nada aconteceu, exceto alguns ruídos nas colinas; e, quando o dia nasceu, havia muitos que esperavam que o novo horror houvesse ido embora tão rapidamente quanto chegara. E algumas almas corajosas inclusive propuseram uma expedição ofensiva para descer vale adentro, embora não tenham se aventurado a dar um exemplo concreto para a maioria ainda relutante.
Ao cair de mais uma noite, as barricadas foram repetidas, embora houvesse menos agrupamentos de famílias. De manhã, tanto os Frye quanto os Bishop relataram a agitação dos cães e os vagos sons e maus cheiros que vinham de longe, enquanto que os primeiros exploradores horrorizaram-se ao notar um novo conjunto de rastros monstruosos na estrada que costeia a Colina Sentinela. Tal como antes, as laterais amassadas da estrada indicavam o tamanho daquele horror blasfemo e assombroso; ao passo que a disposição dos rastros parecia revelar uma passagem em duas direções, como se a montanha movente tivesse vindo do Vale da Fonte Fria e retornado a ele pelo mesmo caminho. Na base da colina, uma faixa de nove metros de pequenos arbustos esmagados seguia colina acima, e os homens ficaram pasmos quando viram que mesmo os locais mais perpendiculares não faziam a trilha implacável desviar. O que quer que fosse, aquele horror podia escalar um rochedo íngreme e quase que completamente vertical; e, como os investigadores subiram até o cume da colina por caminhos mais seguros, viram que a trilha acabava – ou melhor, convertia – lá.
Era aqui que os Whateley costumavam armar suas fogueiras diabólicas e entoar seus rituais também diabólicos na pedra em forma de mesa na Véspera de Maio e na Véspera de Todos os Santos. Agora aquela mesma pedra formava o centro de um vasto espaço trilhado ao redor pelo horror montanhoso, enquanto que sobre sua superfície ligeiramente côncava encontrava-se um grosso e fétido depósito da mesma substância preta viscosa observada no chão da sede em ruínas quando o horror escapou. Os homens entreolharam-se e murmuraram alguma coisa. Então olharam para baixo. Aparentemente o horror havia descido por um caminho muito parecido com o da subida. Especular era inútil. Razão, lógica e idéias normais de motivação permaneceram confundidas. Somente o velho Zebulon, que não estava com o grupo, poderia ter feito justiça à situação ou sugerido uma explicação plausível.
A noite de quinta-feira começou como as outras, mas terminou pior. Os curiangos no vale haviam gritado com uma persistência tão incomum que muitos não puderam dormir, e, por volta das três da manhã, os telefones de todas as pessoas envolvidas tocaram tremulamente. Todos que atenderam ouviram uma voz muita assustada gritar: “Socorro, ai meu Deus!…” e alguns pensaram ter ouvido um estrondo que se seguiu à interrupção da exclamação. Não houve mais nada. Ninguém ousou fazer coisa alguma, e não se soube até de manhã de onde era o telefonema. Então aqueles que o tinham recebido se telefonaram e descobriram que somente os Frye não repondiam. A verdade apareceu uma hora depois, quando um grupo de homens armados, que se reuniu às pressas, caminhou penosamente até a propriedade dos Frye no topo do vale. Foi horrível, no entanto, não chegou a ser uma surpresa. Havia mais faixas e marcas monstruosas, mas já não havia casa. Ela desmoronara como uma casca de ovo, e, entre suas ruínas, não foi encontrado nada vivo ou morto. Apenas um mau cheiro e uma substância preta viscosa. Os Elmer Frye haviam sido erradicados de Dunwich.
8
Nesse ínterim, uma fase mais calma do horror e, entretanto, ainda mais espiritualmente pungente havia-se desenvolvido de modo obscuro atrás de uma porta fechada de uma sala repleta de estantes em Arkham. O curioso manuscrito ou diário de Wilbur Whateley, entregue à Universidade de Miskatonic para sua tradução, causara muita preocupação e desconcerto entre os especialistas em línguas antigas e modernas; seu alfabeto próprio, apesar de uma semelhança geral com o enigmático árabe falado na Mesopotâmia, era completamente desconhecido por qualquer autoridade que se pudesse consultar. A conclusão final dos lingüistas era que o texto representava um alfabeto artificial, para dar o efeito de uma cifra; embora nenhum dos métodos comuns de solução criptográfica pareciam fornecer qualquer pista, mesmo quando aplicados tendo como base cada língua que o escritor possivelmente haveria usado. Os livros antigos retirados da casa dos Whateley – enquanto extremamente interessantes e, em vários casos, prometendo abrir novas e terríveis linhas de pesquisa entre filósofos e homens de ciência -, não ajudaram em nada no que se refere a esse assunto. Um deles, um tomo pesado com fecho de ferro, estava escrito em outro alfabeto desconhecido, que era de uma espécie muito diferente e lembrava o sânscrito mais do que qualquer outra coisa. O velho livro razão, por fim, ficou totalmente a cargo do Dr. Armitage, tanto devido a seu interesse peculiar pelo tema dos Whateley quanto a seu amplo conhecimento lingüístico e experiência no que se refere a fórmulas místicas da Antigüidade e da Idade Média.
Armitage imaginava que o alfabeto podia ser algo esotericamente usado por certos cultos proibidos que vinham sendo transmitidos desde tempos remotos e que haviam herdado muitas fórmulas e tradições dos magos do mundo sarraceno. Essa questão, contudo, ele não julgou vital, já que seria desnecessário conhecer a origem dos símbolos se, conforme suspeitava, eles fossem usados como uma cifra numa língua moderna. Acreditava que, considerando a grande quantidade de texto envolvida, era muito pouco provável que o autor tivesse o trabalho de usar uma outra língua que não fosse a sua, exceto talvez em certas fórmulas especiais ou encantamentos. Desse modo, ele abordou o manuscrito com a pressuposição de que a maior parte dele estivesse em inglês.
O Dr. Armitage sabia, pelas repetidas falhas de seus colegas, que o enigma era profundo e complexo e que nenhum método simples de solução podia merecer sequer uma tentativa. Durante todo o final de agosto, ele se dedicou a adquirir o máximo de conhecimentos sobre criptografia, recorrendo às fontes mais completas de sua própria biblioteca e passando noites e noites entre os arcanos das obras: Poligraphia, de Trithemius; De Furtivis Literarum Notis, de Giambattista Porta; Traité des Chiffres, de De Vigenere; Cryptomenysis Patefacta, de Falconer; os tratados do século dezoito de Davys e Thicknesse; e autoridades razoavelmente modernas como Blair, von Marten e a Kryptographik, de Klüber. Ele intercalou seu estudo dos livros com abordagens ao manuscrito em si e, com o tempo, convenceu-se de que tinha que lidar com um daqueles criptogramas especialmente sutis e engenhosos, nos quais muitas listas separadas de letras correspondentes estão dispostas como uma tábua de multiplicação e a mensagem é construída com palavras-chave arbitrárias de conhecimento apenas dos iniciados. As autoridades mais velhas pareciam de muito mais ajuda que as novas, e Armitage concluiu que o código do manuscrito era muito antigo, sem dúvida legado através de uma longa linhagem de experimentadores. Várias vezes, ele parecia ter encontrado a luz, mas logo algum obstáculo desconhecido o fazia retroceder. Então, com a aproximação de setembro, as nuvens começaram a clarear. Certas letras, tal como usadas em certas partes do manuscrito, emergiram definitiva e indiscutivelmente, tornando-se óbvio que o texto estava, de fato, escrito em inglês.
Ao anoitecer do dia dois de setembro, a última das grandes barreiras cedeu, e o Dr. Armitage leu, pela primeira vez, uma passagem contínua dos anais de Wilbur Whateley. Era, na realidade, um diário, como todos haviam pensado, e estava expresso num estilo que mostrava claramente uma mistura de erudição oculta e ignorância geral do estranho ser que o escreveu. Já a primeira passagem longa que Armitage decifrou, um registro datado de 26 de novembro de 1916, provou-se altamente alarmante e inquietante. Foi escrita, lembrava-se, por uma criança de três anos e meio que parecia um rapaz de doze ou treze.
Hoje aprendi o Aklo para o Sabaoth (estava escrito), que não gostei, podia ser respondido da colina e não do ar. Aquele da parte de cima mais na minha frente que eu tinha pensado que estaria, e não parece ter muito cérebro da Terra.. Atirei no Jack, o collie do Elam Hutchins, quando ele veio me morder, e Elam disse que me mataria se ele morresse. Acho que não vai. O avô me fez dizer a fórmula Dho ontem à noite, e acho que vi a cidade interna nos 2 pólos magnéticos. Eu irei àqueles pólos quando a Terra for dizimada, se eu não conseguir transpor com a fórmula Dho-Hna quando eu a praticar. Eles do ar me disseram no Sabbat que passarrão anos até que eu possa dizimar a Terra, e acho que o avô estará morto então, portanto terei que aprender todos os ângulos dos planos e todas as fórmulas entre o Yr e o Nhhngr. Eles do exterior ajudarão, mas não podem ganhar corpo sem sangue humano. Aquele da parte de cima parece que terá a forma certa. Posso vê-lo um pouco quando faço o sinal Voorish ou assopro o pó de Ibn Ghazi nele, e fica quase como eles na Véspera de Maio na Colina. O outro rosto pode desaparecer um pouco. Imagino como parecerei quando a Terra for dizimada e não houver mais seres terrenos nela. Ele que veio com o Aklo Sabaoth disse que posso ser transfigurado e que existe muito de exterior para ser trabalhado.
Ao amanhecer, o Dr. Armitage estava suando frio de terror e extremamente alerta e concentrado em sua leitura. Ele não havia deixado o manuscrito durante a noite toda; permanecera sentado a sua mesa, à luz elétrica, virando página após página com mãos trêmulas para decifrar o texto críptico o mais rápido que pudesse. Muito nervoso, telefonara a sua esposa para dizer que não iria para casa, e, quando ela lhe trouxe o café da manhã, ele quase não comeu nada. Durante todo aquele dia, continuou lendo, por vezes se detendo exasperadamente quando uma reaplicação do complexo código tornava-se necessária. Troxeram-lhe o almoço e o jantar, mas ele comeu muito pouco de ambos. No meio da noite seguinte, cochilou em sua cadeira, mas logo acordou com um emaranhado de pesadelos quase tão horrendos quanto as verdades e ameaças à existência humana que havia descoberto.
Na manhã do dia quatro de setembro, o Prof. Rice e o Dr. Morgan insistiram em vê-lo um pouco, partindo de lá trêmulos e mortalmente pálidos. Naquela noite, ele foi para a cama, mas seu sono esteve muito picado. No dia seguinte, uma quarta-feira, voltou para o manuscrito e começou a tomar notas copiosas das partes que ia lendo e daquelas que já havia decifrado. Na madrugada daquela noite, ele dormiu um pouco numa espriguiçadeira de seu escritório, mas voltou ao manuscrito de novo antes do amanhecer. Pouco antes do meio-dia, seu médico, o Dr. Hartwell, telefonou dizendo que queria vê-lo e insistiu que ele parasse de trabalhar. Recusou-se, afirmando que era da mais vital importância para ele completar a leitura do diário e prometendo uma explicação a seu devido tempo. Naquele fim de tarde, bem quando escureceu, ele terminou sua terrível e esgotante leitura e deixou-se cair exausto. Sua esposa, ao trazer-lhe o jantar, encontrou-o num estado de semi-coma, mas ele ainda estava consciente para lhe advertir com um grito agudo quando viu seus olhos vagarem por sobre o que ele havia anotado. Levantando-se com fraqueza, juntou os papéis rascunhados e fechou-os num grande envelope, que imediatamente colocou dentro do bolso interno de seu casaco. Tinha força suficiente para chegar em casa, mas era tão evidente que precisava de ajuda médica que o Dr. Hartwell foi chamado de imediato. Assim que o médico o pôs na cama, ele só conseguiu murmurar repetidas vezes, “Mas o que, em nome de Deus, podemos fazer?”.
O Dr. Armitage dormiu, mas estava parcialmente delirante no dia seguinte. Não deu explicações a Hartwell, mas em seus momentos mais calmos falou da necessidade imperativa de uma longa reunião com Rice e Morgan. Seus devaneios mais absurdos eram de fato muito alarmantes, incluindo apelos desesperados de que algo numa casa de fazenda totalmente lacrada fosse destruído e também referências fantásticas a um certo plano pela extirpação da humanidade inteira e de toda vida animal e vegetal da face da Terra por uma terrível e mais antiga raça de seres de outra dimensão. Ele bradava que o mundo estava em perigo, já que as Coisas Antigas desejavam devastá-lo e varrê-lo do sistema solar e do cosmos da matéria para outro plano ou fase de existência do qual havia um dia saído há milhares de trilhões de eras. Em outros momentos, requisitava o temível Necronomicon e o Daemonolatreia de Remigius, nos quais parecia estar esperançoso de encontrar alguma fórmula para conter o perigo que ele esconjurava.
- Detenha-os, detenha-os! – gritava -. Aqueles Whateley queriam deixá-los entrar, e o pior ainda está por vir! Digam a Rice e Morgan que devemos fazer alguma coisa; é um tiro no escuro, mas sei como fazer o pó. … não foi alimentado desde o dia dois de agosto, quando Wilbur veio aqui para morrer, a estas alturas. . . .
Mas Armitage tinha um físico saudável apesar dos seus setenta e três anos e curou-se de sua indisposição após dormir aquela noite sem desenvolver nenhum estado febril. Ele acordou tarde na sexta, lúcido, embora demonstrando um medo persistente e um enorme senso de responsabilidade. Na tarde de sábado, ele se sentiu apto para ir até a biblioteca e convocar Rice e Morgan para uma reunião, e, durante o resto daquele dia, os três homens estiveram quebrando a cabeça na mais desatinada especulação e desesperado debate. Livros estranhos e terríveis foram retirados em grande volume das estantes da biblioteca e de lugares onde estavam guardados com segurança; diagramas e fórmulas foram copiados com uma pressa febril e em quantidade assustadora. De ceticismo, não havia nenhum. Todos os três haviam visto o corpo de Wilbur Whateley prostrado no chão numa sala daquele mesmo prédio, e, depois disso, nenhum deles poderia sentir a menor inclinação a tratar o diário como delírio de um louco.
As opiniões estavam divididas a respeito de notificar a Polícia Estadual de Massachusetts, porém a negativa finalmente venceu. Havia coisas envolvidas que aqueles que não haviam visto nada simplesmente não podiam acreditar, como de fato ficou claro durante certas investigações subseqüentes. Tarde da noite, foi encerrada a reunião sem que houvessem traçado um plano definitivo, mas, durante todo o domingo, Armitage esteve ocupado comparando fórmulas e misturando substâncias químicas obtidas do laboratório da faculdade. Quanto mais refletia sobre o infernal diário, mais estava inclinado a duvidar da eficácia de qualquer agente material para eliminar a entidade que Wilbur Whateley havia deixado trás si – a entidade ameaçadora da Terra que, desconhecida por ele, estava para irromper em poucas horas e tornar-se o memorável horror de Dunwich.
Segunda-feira foi uma repetição de domingo para o Dr. Armitage, pois a tarefa em mãos exigia uma infinidade de pesquisas e experimentos. Consultas posteriores ao diário monstruoso ocasionaram várias mudanças de planos, e ele sabia que mesmo no final haveria ainda muita incerteza. Na terça-feira, já tinha uma linha definitiva de ação planejada minuciosamente e acreditava poder viajar a Dunwich dentro de uma semana. Então, na quarta-feira, veio o grande choque. Escondida num canto do Arkham Advertiser, encontrava-se uma pequena nota jocosa da Associated Press, dizendo que o whisky de contrabando de Dunwich havia criado um monstro que batia todos os recordes. Armitage, meio atordoado, só conseguiu telefonar para Rice e Morgan. Discutiram madrugada adentro e, no dia seguinte, houve um turbilhão de preparativos por parte de todos. Armitage sabia que estaria-se metendo com forças terríveis, contudo viu que não havia outra maneira de acabar com aquela mais profunda e maligna confusão que outros haviam feito antes dele.
9
Na sexta-feira de manhã, Armitage, Rice e Morgan partiram de carro para Dunwich, chegando ao povoado por volta da uma da tarde. O dia estava agradável, mas mesmo sob a clara luz do sol uma espécie de calmo pavor e agouro parecia pairar por sobre as estranhas colinas arredondadas e as profundas e sombrias ravinas da acometida região. Por vezes, sobre um topo de montanha, podia-se vislumbrar recortado contra o céu um lúgubre círculo de pedras. Pelo ar de silenciado temor presente na venda do Osborn, eles perceberam que algo horrível havia acontecido e logo ficaram sabendo da aniquilação da casa e da família de Elmer Frye. Por toda aquela tarde, rodaram por Dunwich, questionando os habitantes locais a respeito de tudo aquilo que havia acontecido e vendo com seus próprios olhos, em crescente agonia, as sombrias ruínas dos Frye com traços remanescentes da substância preta viscosa, os rastros blasfemos no terreiro dos Frye, o gado ferido de Seth Bishop e as enormes faixas de vegetação arrasada em vários lugares. A trilha que subia e descia a Colina Sentinela parecia para Armitage de uma significação quase cataclísmica, e, durante um certo tempo, permaneceu olhando para a sinistra pedra em forma de altar no cume.
Por fim, os visitantes, informados sobre um grupo da Polícia Estadual que viera de Aylesbury aquela manhã em resposta aos primeiros relatos telefônicos da tragédia dos Frye, decidiram procurar os oficiais e comparar suas impressões até onde fosse viável. Isso, contudo, acharam mais fácil de planejar do que de realizar, visto que nenhum sinal do grupo podia ser encontrado em qualquer direção. Eles eram cinco num carro, que agora se encontrava parado e vazio perto das ruínas no terreiro dos Frye. Os habitantes locais, havendo todos falado com os policiais, pareciam primeiramente tão perplexos quanto Armitage e seus companheiros. Foi quando o velho Sam Hutchins pensou em algo que o deixou pálido; cutucou Fred Farr e apontou para o buraco úmido e profundo que se escancarava ali perto.
- Deus do céu – disse ofegante – Eu falei pr’ eles num descê p’a drento do vale, e eu nunca pensei que arguém ia fazê isso com aquelas marca e aquele cheiro e os curiango tudo berrano lá embaixo naquela escuridão do meio-dia. . . .
Tanto os habitantes locais quanto os visitantes sentiram um calafrio, e todos os ouvidos pareciam escutar de forma instintiva e inconsciente. Armitage, agora que havia verdadeiramente encontrado o horror e seu rastro de destruição, tremeu com o peso da responsabilidade que lhe era imposta. A noite iria cair em breve, e era então que a blasfêmia montanhosa movia-se pesadamente sobre seu curso bizarro. Negotium Perambulans in tenebris …. O velho bibliotecário recitou a fórmula que havia memorizado e agarrou o papel que continha a alternativa um que não havia memorizado. Viu que sua lanterna elétrica estava em bom funcionamento. Rice, a seu lado, pegou de uma maleta um pulverizador de metal do tipo usado para combater insetos; enquanto Morgan tirava da caixa o rifle de caça grossa no qual confiava, apesar dos avisos dos colegas de que nenhuma arma material ajudaria.
Armitage, que havia lido o horrendo diário, sabia muito bem que tipo de manifestação esperar, mas não atemorizou mais as pessoas de Dunwich dando a eles quaisquer referências ou pistas. Ele esperava que a coisa pudesse ser derrotada sem qualquer revelação ao mundo sobre a monstruosidade da qual havia escapado. À medida que escurecia, os habitantes locais começaram a se dispersar em direção a suas casas, ansiosos por se trancar dentro delas, apesar da presente evidência de que todas as fechaduras e trancas humanas eram inúteis perante uma força que podia derrubar árvores e esmagar casas a seu bel prazer. Eles balançaram as cabeças ao saber do plano dos visitantes de ficar a postos nas ruínas dos Frye perto do vale; e assim que saíram, tinham pouca expectativa de vê-los de novo algum dia.
Houve estrondos embaixo das colinas naquela noite, e os curiangos piaram ameaçadoramente. De vez em quando, um vento, soprando por sobre o Vale da Fonte Fria, trazia um toque de inefável fedor para o ar pesado da noite; tal fedor todos os três observadores já haviam sentido uma vez, quando estiveram perto de uma coisa moribunda que havia passado por quinze anos e meio como um ser humano. Mas o procurado terror não apareceu. O que quer que estivesse lá embaixo no vale estava esperando o momento propício, e Armitage disse a seus colegas que seria suicídio tentar atacá-lo no escuro.
Amanheceu lividamente, e os sons noturnos pararam. Era um dia cinza e triste, com uma garoa intermitente; e nuvens cada vez mais carregadas pareciam amontoar-se além das colinas em direção noroeste. Os homens de Arkham estavam indecisos sobre o que fazer. Buscando abrigo contra a chuva que aumentava embaixo de uma das poucas construções que ainda restavam na propriedade dos Frye, discutiram a conveniência de esperar ou partir para a agressão descendo vale adentro em busca da inominável e monstruosa presa. O aguaceiro aumentou, e estrépitos de trovões soaram vindos de horizontes distantes. Relâmpagos difusos tremeluziram, e então um raio bifurcado caiu próximo de onde estavam, como se descesse para dentro do próprio vale amaldiçoado. O céu ficou muito escuro, e os observadores torceram para que a tempestade fosse daquelas curtas e violentas que são seguidas por um céu limpo.
Ainda estava horripilantemente escuro quando, não muito mais de uma hora depois, uma confusa babel de vozes soou lá embaixo na estrada. Em seguida, apareceu um grupo de mais de uma dúzia de homens, correndo, gritando e até mesmo choramingando histericamente. Alguém que vinha à frente começou a dizer algumas palavras soluçando, e os homens de Arkham sobressaltaram-se quando aquelas palavras adquiriram uma forma coerente.
- Pai do céu, pai do céu – a voz quase não saiu. – Tá vino de novo, e agora de dia! Ta por aí, tá andano por aí agorica memo, e só Deus sabe quano vai acabá com tudo mundo!
Ofegante, o narrador silenciou, mas outro continuou a história.
Faiz quage uma hora que aqui o Zeb Whateley ouviu o telefone tocá e era a dona Corey, muié do George, que mora pra baixo da incruziada. Ela falô que o menino Luther tava tocano o gado p’a drento dispois do raio que caiu, quano viu que as arvre tava vergano p’a drento do outro lado do barranco e sentiu o memo chero ruim qu’ele sentiu quano incontró aquelas baita pegada segunda de manhã. E ela falô qu’ele falô que feiz um subio e um baruio de água, que as arvre e o mato num pudia fazê suzinho, e de repente as arvre do lado da estrada começaro a vergá pr’um lado só, e feiz um baruio horrive de pisada forte espirrano barro. Mais vê só, o Luther num viu nadinha, só as arvre e o mato vergano.
Aí lá na frente d’onde o corgo dos Bishop passa por baixo da estrada, ele ouviu a ponte rangê e estralá, e pudia contá direitim o baruio da madera rachano e quebrano. E ele num viu nadinha memo, só as arvre e o mato vergano. E quano a Colina Sentinela começo a estralá, o Luther teve corage de subi até d’onde ele tinh’ovido o primer’ estralo e oiô pr’o chão. Só tinha barro e água, e o céu tava preto, e a chuva tav’apagano as pegada demais de ligero; mais deis’ da boca do barranco, d’onde as arvre tinh’entortado, inda tinh’umas marca danada de grande, iguar as qu’ele viu segunda de manhã.
Nesse momento, o primeiro e alvoroçado narrador interrompeu.
Mais aquilo num é o pobrema agora, aquilo foi só o começo. O Zeb aqui tava chamano o povo e tudo mundo tava escutano quano ligaro do sítio do Seth Bishop. A Sally, que toma conta da casa, tava berrano que nem doida – tinh’acabado de vê as arvre vergano do lado da estrada, e falo que fazia um baruio de amassá, iguar que um elefante pisano forte e esmagano tudo no caminho pra casa. Intão ela levantô e falô de repente dum cheiro horrívi e falô que o fio dela Chancey tava gritano que era o memo cheiro qu’ele sintiu lá em riba nas ruína dos Whateley na segunda de manhã. E os caçoro tava tudo latino e gemeno feio.
E intão ela sortó um grito terrívi e falô que o barracão lá embaixo na estrada tinha acabado de dismoroná iguar que se a tempestade tivesse pasado por lá, só que o vento num era forte ansim pra fazê aquilo. Tudo mundo tava ouvino e nóis consiguiu escutá a respiração forte dum montão de gente pelo telefone. De repente, Sally gritô tra’veiz e falô que a cerca da frente da casa tinha acabado de quebrá em mir pedacim, mais num tinha ninhum sinar do que tinha feito aquilo. Intão tudo mundo no telefone consiguiu ouvi o Chancey e o véio Seth Bishop gritano tamém, e a Sally tava berrano arto que arguma coisa pesada tinha batido na casa, num era raio nem nada, mais arguma coisa pesada forçano a frente, que ficava se jogano e forçano, forçano, mais ocê num pudia vê nada das janela da frente. E intão… e intão…
Traços de pavor realçaram-se em cada rosto; e Armitage, tremendo como estava, mal pôde estimular o narrador a continuar.
- E intão … a Sally gritô arto: “Acode, a casa tá dismoronano”. . . e pelo telefone nóis consiguiu ovi o baruião de tudo quebrano e uma gritaria danada . . . iguar que quano o sítio do Elmer Frye sumiu, só que pió ….
O homem fez uma pausa, e outro do grupo falou.
- Foi só isso memo, nenhum baruiu nem chiado no telefone despois daquilo. Só uma paradera. Nóis que ouviu isso saímo c’os nosso carro e carroça p’a cunsigui juntá bastante home lá no Corey e vim aqui pra vê que ocê achava mió fazê. O que eu acho memo é que é o jurgamento de Deus por causa dos nosso pecado, que nenhum de nóis pode nunca fugi.
Armitage viu que havia chegado o momento para uma ação verdadeira e falou decisivamente para o hesitante grupo de camponeses assustados.
Devemos segui-la, rapazes – disse num tom de voz o mais tranqüilizador possível. – Acredito que haja uma chance de fazer com que pare. Vocês sabem que aqueles Whateley eram bruxos, pois bem, essa coisa é uma coisa de feitiçaria e deve ser derrotada pelos mesmos meios. Vi o diário de Wilbur Whateley e li alguns dos estranhos livros antigos que ele costumava ler; e acho que sei o tipo certo de fórmula mágica que devo recitar para fazer com que a coisa despareça. É claro que não se pode ter certeza, mas vale a pena tentar. É invisível – sabia que seria – mas há um pó neste pulverizador de longa distância que pode fazê-lo aparecer por um segundo. Mais tarde vamos experimentá-lo. É uma coisa horrorosa demais para permanecer viva, mas não é tão má quanto o que Wilbur Whateley teria deixado para nós se tivesse vivido mais. Vocês nunca saberão do que o mundo escapou. Agora só temos essa única coisa com que lutar, e não pode multiplicar-se. Pode, contudo, causar muito dano; então não devemos hesitar em livrar a comunidade dela.
Devemos segui-la, e o modo de começar é indo até o lugar que acabou de ser arrasado. Que alguém indique o caminho; não conheço suas estradas muito bem, mas imagino que deva haver um atalho pelo mato. O que vocês acham?
Os homens esquivaram-se por um momento, e então Earl Sawyer falou calmamente, apontando com um dedo encardido através da chuva que diminuia aos poucos.
- Acho que ocê pode chegá até o sítio do Seth Bishop mais dipressa cortano pelo mato mais baixo aqui, passano pela parte rasa do corgo e subino pelas terra roçada do Carrier e dispois pela mata. O sítio aparece na beira da parte arta da estrada, um poquim do otro lado.
Armitage, Rice e Morgan começaram a caminhar na direção indicada; e a maioria dos habitantes locais seguiram-nos devagar. O céu estava ficando mais limpo, e havia indícios de que a tempestade passara. Quando Armitage inadvertidamente tomava o caminho errado, Joe Osborn avisava-o e andava na frente para mostrar o correto. A coragem e a confiança estavam crescendo, embora o crepúsculo na floresta que cobria a colina quase perpendicular localizada no final do atalho – e entre cujas fantásticas árvores antigas tinham que escalar como se subissem uma escada -, impunha um teste severo a essas qualidades.
Por fim, chegaram a uma estrada lamacenta no momento em que o sol saía. Eles estavam um pouco além da propriedade de Seth Bishop, mas as árvores tombadas e os horrendos e inconfundíveis rastros mostravam o que havia passado por ali. Só alguns minutos foram gastos pesquisando as ruínas que se encontravam à beira do abismo. Tudo ocorreu como no incidente dos Frye, e nada vivo ou morto foi encontrado em nenhuma das fachadas derruídas que haviam sido a casa e o celeiro dos Bishop. Ninguém queria permanecer ali entre o mau cheiro e a substância preta viscosa, mas todos se viraram instintivamente para a fileira de marcas horríveis que se dirigiam para a arruinada casa dos Whateley e para as ladeiras coroadas de altares da Colina Sentinela.
Ao passar pelo local onde Wilbur Whateley residia, os homens estremeceram-se visivelmente e pareciam misturar hesitação a seu entusiasmo outra vez. Não era brincadeira seguir o rastro de algo tão grande quanto uma casa que não se podia ver, mas aquilo tinha toda a malevolência destrutiva de um demônio. Do lado oposto da base da Colina Sentinela, os rastros deixavam a estrada, e havia aquele envergamento e emaranhamento da vegetação visível ao longo da extensa faixa que marcava a primeira trilha do monstro indo e voltando do cume.
Armitage exibiu uns binóculos com uma considerável capacidade de aumento e perscrutou o precipício verde que ladeava a colina. Então, ele passou o instrumento para Morgan, cuja vista era melhor. Após um momento de observação atenta, Morgan soltou um grito agudo, passando-o para Earl Sawyer e indicando com o dedo um certo ponto no precipício. Sawyer, tão desajeitado quanto a maioria dos que não usam instrumentos óticos, atrapalhou-se um pouco, mas, finalmente, focou as lentes com a ajuda de Armitage. Assim que localizou o ponto, seu grito foi menos reprimido do que havia sido o de Morgan.
- Deus todo poderoso, o mato e as arvrinha tá se mexeno! Tá subino, bem devagarinho, se rastano lá pra riba agorica memo, só Deus sabe p’a modi quê!
Então, o germe do pânico pareceu espalhar-se por entre os exploradores. Uma coisa era perseguir a entidade inominável, bem outra era encontrá-la. As fórmulas mágicas podiam estar corretas, mas e se não estivessem? Vozes começaram a questionar Armitage sobre o que ele sabia a respeito da coisa, e nenhuma resposta parecia satisfazê-los de verdade. Todos pareciam sentir-se em grande proximidade a fases da Natureza e da existência totalmente proibidas e externas à sã experiência da humanidade.
10
Finalmente, os três homens de Arkham – o velho de barba branca Dr. Armitage, o atarracado e grisalho Prof. Rice e o magro e de aparência jovem Dr. Morgan – subiram a montanha sozinhos. Depois de uma instrução muito paciente a respeito de sua focagem e uso, eles deixaram os binóculos com o amedrontado grupo que permaneceu na estrada; e, enquanto subiam, o instrumento foi passado de mão em mão para que pudessem ser observados de perto. Era um trajeto difícil, e Armitage teve que ser ajudado mais de uma vez. Bem acima do esforçado grupo, a grande faixa tremia quando seu infernal criador passava de novo por ela com a lentidão de uma lesma. Assim, tornou-se óbvio que os perseguidores estavam ganhando terreno.
Curtis Whateley, do ramo não decadente, era quem estava com os binóculos quando o grupo de Arkham desviou-se radicalmente da faixa. Ele disse à multidão que os homens estavam evidentemente tentando chegar a um pico secundário que desse vista para a faixa num ponto consideravelmente à frente de onde o matagal estava agora tombando. Isso, de fato, provou ser verdade, pois o grupo foi visto alcançando a elevação menor momentos depois que a blasfêmia invisível havia passado por lá.
Então, Wesley Corey, que havia pegado o instrumento, gritou que Armitage estava ajustando o pulverizador que Rice segurava e que algo devia estar para acontecer. Os homens agitaram-se apreensivamente, relembrando que era esperado que o pulverizador desse ao horror oculto um momento de visibilidade. Dois ou três homens fecharam os olhos, mas Curtis Whateley apanhou de volta os binóculos e estendeu seu campo de visão para o máximo. Viu que Rice, da posição vantajosa em que se encontrava o grupo – acima e atrás da entidade -, tinha uma chance excelente de espalhar o poderoso pó com um ótimo efeito.
Os outros, sem o telescópio, viram apenas por um instante uma nuvem cinza – uma nuvem de cerca do tamanho de um prédio moderadamente alto – perto do topo da montanha. Curtis, que estava com o instrumento, derrubou-o com um grito estridente no barro da estrada onde se podia atolar até o tornozelo. Ele cambaleou e teria caído no chão se dois ou três de seus companheiros não o tivessem agarrado e mantido-o em pé. Tudo o que pôde fazer foi lamentar-se de modo quase inaudível.
- Ai, ai, Deus todo poderoso. . . aquilo… aquilo. . . .
Houve um pandemônio de perguntas, e somente Henry Wheeler pensou em resgatar o instrumento caído e tirar o barro dele. Curtis havia perdido os sentidos e mesmo respostas isoladas eram demais para ele.
- Mais grande que uma tuia . . . tudo feito de corda turcida . . . interim do jeito dum ovo de galinha mais grande que carqué coisa com mais de dúzia de perna iguar que uns barrir que fechava pela metade quano eles pisava… num tinha nada de sólido, iguar que uma geléia, e feito dumas corda turcida separada que se empurrava junto . . . uns óio grande e sartado pur tudo lado. . . umas deiz ou vinte boca ou tromba sartano pra fora de tudo lado, do tamanho duma chaminé de fogão, e tudo mexeno e abrino e fechano . . . tudo cinza, c’uns tipo de argola azur ou roxa . . . e pai do céu, aquela mitade de cara lá em riba!. . .
Esta lembrança final, o que quer que fosse, significou demais para o pobre Curtis; e ele desmaiou completamente antes que pudesse dizer qualquer coisa mais. Fred Farr e Will Hutchins carregaram-no para a lateral da estrada e o deitaram na grama úmida. Henry Wheeler, tremendo, virou os binóculos resgatados em direção à montanha para ver o que fosse possível. Através das lentes, distinguiam-se três figuras minúsculas, correndo em direção ao cume o mais rápido que a íngreme ladeira permitia. Só isso, nada mais. Então, todos notaram um barulho estranhamente inoportuno no vale profundo atrás, e mesmo na vegetação rasteira da própria Colina Sentinela. Era o piar de inúmeros curiangos, e, em seu coro estridente, parecia estar escondida uma nota de tensa e maligna expectativa.
Earl Sawyer, então, pegou os binóculos e relatou que as três figuras estavam na crista mais alta, praticamente no mesmo nível da pedra-altar, mas a uma distância considerável dela. Um deles, disse, parecia estar levantado as mãos acima da cabeça a intervalos rítmicos; e, enquanto Sawyer mencionava a circunstância, o grupo parecia ouvir à distância um som lânguido e com uma certa musicalidade, como se um cântico em alto tom estivesse acompanhando os gestos. A bizarra silhueta sobre aquele pico remoto deve ter sido um espetáculo infinitamente grotesco e impressionante, mas nenhum observador estava com disposição para uma apreciação estética. “Eu acho qu’ele tá falano as palavra mágica”, sussurrou Wheeler enquanto arrebatava os binóculos de volta. Os curiangos estavam piando furiosamente e num ritmo singularmente curioso e irregular, bem diferente daquele do ritual.
De repente, o brilho do sol pareceu diminuir sem a intervenção de qualquer nuvem visível. Era um fenômeno muito peculiar e foi bem notado por todos. Um som estrondeante parecia estar-se formando embaixo das colinas, em estranha concordância com um estrondo que vinha claramente do céu. Um relâmpago cintilou no alto, e o grupo abismado procurou em vão por presságios de tempestade. O cântico dos homens de Arkham agora se tornou inconfundível, e Wheeler viu através do instrumento que eles estavam levantando os braços ao ritmo do encantamento. De alguma propriedade rural longínqua, chegaram frenéticos latidos de cães.
A mudança nas tonalidades da luz do sol aumentou, e o grupo contemplou maravilhado o horizonte. Uma escuridão arroxeada, nascida de nada mais do que um aprofundamento espectral do azul celeste, impelia-se por sobre as retumbantes colinas. Então, relampejou de novo, de forma mais brilhante do que antes, e o grupo imaginou que havia uma certa neblina ao redor da pedra-altar no ápice distante. Contudo, ninguém estava olhando com os binóculos naquele momento. Os curiangos continuaram com sua vibração irregular, e os homens de Dunwich prepararam-se, em meio a grande tensão, contra alguma ameaça imponderável de que a atmosfera estava sobrecarregada.
Sem que fossem esperados, chegaram aqueles profundos, dissonantes e roucos sons vocais que nunca sairão da memória daquele acometido grupo que os ouviu. Não haviam nascido de nenhuma garganta humana, pois os órgãos dos homens não podem produzir tais perversões acústicas. É mais provável dizer que eles provinham do próprio abismo, se não fosse tão inconfundível que sua fonte era a pedra-altar no pico. De qualquer modo, é quase errôneo chamá-los de sons, já que muito de seu horripilante e infra-grave timbre falava para partes sombrias de consciência e terror muito mais sutis do que o ouvido; contudo, deve-se chamá-los assim, já que sua forma era incontestável embora vagamente a de palavras semi-articuladas. Eram altos – altos como os estrondos e o trovão sobre os quais ecoavam – contudo não provinham de nenhum ser visível. E porque a imaginação pode servir de fonte hipotética para o mundo dos seres não-visíveis, o grupo amontoado na base da montanha amontoou-se ainda mais e se encolheu como se esperasse um desastre.
- Ygnaiih. . . ygnaiih . . . thflthkh ‘ngha . . . Yog-Sothoth. . . – soou o horripilante grasnido vindo do espaço. – Y’bthnk. . . h ‘ehye – n ‘grkdl’lh. . .
Nesse momento, o impulso da fala parecia faltar, como se uma terrível luta psíquica estivesse acontecendo. Henry Wheeler voltou a olhar com os binóculos, mas só viu as grotescas silhuetas das três figuras humanas no pico, todas movendo os braços furiosamente em gestos estranhos como se o encantamento estivesse próximo de seu fim. De quais poços negros de medo ou sentimento aquerôntico, de quais desconhecidos golfos de consciência extra-cósmica ou herança obscura e muito latente, foram trazidos aqueles semi-articulados grasnidos de trovão? Nesse momento, eles começaram a adquirir força e coerência renovadas enquanto aumentava o ímpeto de seu último e definitivo frenesi.
- Eh-ya-ya-ya-yahaah – e ‘yayayayaaaa. . . ngh ‘aaaaa . . . ngh ‘aaa . . . h ‘yuh. . . hyuh . . . HELP! HELP!. . . ff-ff-ff-FATHER! FATHER! YOG-SOTHOTH!. . .
Mas isso foi tudo. O pálido grupo que estava na estrada, ainda abalado com as sílabas indiscutivelmente inglesas que haviam fluído densa e ameaçadoramente do enfurecido espaço vazio ao lado daquela repelente pedra-altar, nunca mais ouviria tais sílabas outra vez. Em seguida, sobressaltaram-se violentamente com o terrível estrondo que parecia rasgar as colinas; o ensurdecedor e cataclísmico estrépito cuja origem, fosse na Terra ou no céu, nenhum ouvinte foi capaz de afirmar. Um único raio caiu do zênite púrpura e atingiu a pedra-altar, e uma gigantesca onda de invisível força e indescritível mau cheiro, vinda da colina, assolou todo o campo. As árvores, o mato e a vegetação rasteira foram assolados por sua fúria, e o amedrontado grupo na base da montanha, enfraquecido pelo fedor letal que parecia estar a ponto de asfixiar a todos, foi quase arremessado do chão onde pisava. Cães uivavam à distância; o mato e as folhagens murcharam, passando de verde a um curioso e doentio cinza amarelado, e sobre o campo e a floresta espalharam-se os corpos dos curiangos mortos.
O mau cheiro passou rapidamente, mas a vegetação nunca mais voltou a ser a mesma. Até hoje, há algo esquisito e ímpio na vegetação que cresce naquela temível colina ou a seu redor. Curtis Whateley mal estava recobrando a consciência quando os homens de Arkham desceram lentamente a montanha sob os raios de sol agora mais brilhantes e imaculados. Estavam sérios e calados e pareciam atordoados por memórias e reflexões ainda mais terríveis do que aquelas que haviam reduzido o grupo de habitantes locais a um estado de estremecimento e intimidação. Em resposta a um turbilhão de perguntas, eles apenas balançaram as cabeças e reafirmaram um fato de vital importância.
- A coisa se foi para sempre – disse Armitage. Foi decomposta, transformando-se naquilo que era originalmente e não pode existir outra vez. Era uma impossibilidade num mundo normal. Somente uma ínfima parte sua era mesmo matéria em qualquer sentido que conhecemos. Era como seu pai, e a maior parte dela voltou para ele em algum vago domínio ou dimensão fora de nosso universo material, em algum vago abismo do qual somente os mais amaldiçoados ritos de blasfêmia humana poderiam tê-la chamado por um momento nas colinas.
Houve um breve silêncio, e naquela pausa os sentidos dispersos do pobre Curtis Whateley começaram a se unir de volta numa certa continuidade, e, então, ele levou as mãos à cabeça soltando um gemido. As lembranças pareciam-se retomar onde haviam parado, e o horror da visão que o havia prostrado arrebatou-o novamente.
- Ai, ai, Deus meu, aquela meia cara, aquela meia cara lá no arto dele . . . aquela cara c’os óio vermeio e o cabelo branco enrolado, e sem queixo, iguar que os Whateley . . . Era um porvo, uma centopéia, pareceno uma aranha, mas a metade da cara era de home no arto dele, e parecia o Fiticero Whateley, só que era muito, muito mais grande. . . .
Exausto, ele fez uma pausa, enquanto todo o grupo de habitantes locais olhava-o numa perplexidade não totalmente cristalizada em novo terror. Apenas o velho Zebulon Whateley, que vagamente se lembrava de coisas antigas mas que ficara quieto até então, falou em voz alta.
- Faiz sete ano – divagou – qu’eu ouvi o Véio Whateley falá que um dia nóis ia ouvi um fio da Lavinny chamá o nome do pai dele lá no arto da Colina Sentinela. . . .
Mas Joe Osborn interrompeu-o para voltar a perguntar aos homens de Arkham.
- Que era aquilo, intão, e cumo é que o moço Fiticero Whateley chamô ele lá de onde ele
veio?
Armitage escolheu suas palavras com muito cuidado.
- Era, bem, era sobretudo um tipo de força que não pertence à nossa parte do espaço; um tipo de força que age, cresce e toma forma por outras leis, diferentes daquelas da nossa espécie de natureza. Não devemos chamar essas coisas do exterior, e somente pessoas muito perversas e cultos muito perversos é que tentam fazê-lo. Havia alguma coisa dela no próprio Wilbur Whateley, suficiente para torná-lo um demônio e um monstro precoce e fazer de sua morte uma cena terrível demais. Vou queimar seu amaldiçoado diário; e, se vocês forem homens prudentes, dinamitem aquela pedra-altar lá no alto e derrubem todos os círculos de pedras verticais das outras colinas. Coisas como essa trouxeram os seres de que os Whateley gostavam tanto, os seres a que eles iam dar forma terrestre para exterminar a humanidade e arrastar a Terra para algum lugar inominável por alguma razão inominável.
Mas no que se refere a essa coisa que nós acabamos de mandar de volta, os Whateley a criaram para desempenhar um papel terrível nos feitos que estavam por vir. Cresceu rápido e ficou grande pela mesma razão que Wilbur cresceu rápido e ficou grande, mas o superou porque tinha uma porção maior de exterioridade nele. Vocês não precisam perguntar como Wilbur o chamou do espaço. Ele não o chamou. Era seu irmão gêmeo, mas se parecia mais com o pai do que ele.