Luci Lopes
Se você percebesse que aos dezesseis anos iria ser morta por algo sobrenatural, acreditaria? E se acreditasse, contaria para alguém ou pediria ajuda? Mas quem, em nome de Deus, acreditaria em você?
Tédio. Essa era a emoção dominante que Maria sentia enquanto fazia a maldita prova de inglês. Não é que não tivesse estudado, ou que a prova estivesse difícil, apenas ela não tinha interesse em fazer. Um após o outro, seus colegas entregaram a prova com pressa de ir embora, até que finalmente só restou ela e o professor na sala. O homem se remexia impaciente olhando-a de um jeito que deixava claro que cogitava tomar a prova e mandá-la embora. Maria não se importava. Sentia-se até perversamente satisfeita em irritar o professor. Demorou o quanto pôde até que, no limite do próprio tédio, entregou a prova.
Quando saiu da sala percebeu que devia ser a última aluna na escola. O relógio da igreja, ao longe, batia com um som melancólico de sino antigo indicando que eram dez horas da noite. Era um curso noturno, desses que os adolescentes fazem na ilusão de que fará diferença em seu inexistente currículo. Maria começou a descer lentamente uma rua completamente deserta enquanto se encolhia de frio. Lá em cima nuvens pesadas pareciam esperar apenas que ela estivesse longe de qualquer abrigo para derramar a chuva sobre a cidade. Ela ergueu o olhar para a rua e seus passos hesitaram um pouco. Havia algo de sinistro naquele silêncio, naquela rua deserta, como se ela estivesse andando por uma cidade fantasma. Seu coração se contraiu de medo por um segundo e então relaxou. Maria não era supersticiosa.
Já próximo à rua em que morava a chuva finalmente caiu, suavemente, em pingos esparsos. Ela apressou o passo e protegeu-se por um instante sob uma algaroba na esquina de sua rua, seguindo então para casa com passos apressados. Alguns instantes depois teve a impressão de ouvir passos atrás de si. Virou-se mecanicamente para trás, mas não viu ninguém. Seguiu em frente; o barulho dos passos continuou. Ela parou novamente e os passos pararam com ela. Decidiu aliviada que se tratava do eco de seus próprios pés e continuou. Um instante depois, por pura teimosia, ao ouvir o mesmo barulho de passos ela parou. Dessa vez os passos continuaram. Maria virou-se rigidamente e seus olhos vasculharam a rua em busca dos pés que faziam esse barulho, mas não havia nada. Estava absolutamente sozinha na rua.
Começou a andar cada vez mais rápido tentando não correr, mas sem conseguir evitar olhar para trás. E foi então que viu; ou melhor, não viu. Porque não havia nada lá. Mas alguma coisa estava atravessando a rua e chegando à calçada. Ela percebia-lhe a silhueta invisível e embora dissesse a si mesmo que isso não era possível, o pânico a dominou e a fez correr para casa. A coisa continuava avançando e agora estava a apenas três casas da sua. Suas mãos tremiam tanto que ela não conseguia abrir a fechadura simples do portão. Aquilo estava a duas casas agora. Maria se desesperou; tentou pular o portão e ele abriu de repente com tal ímpeto que ela quase caiu. Não se preocupou em fechá-lo; correu para a porta e então teve que brigar com a fechadura. Era uma dessas portas antigas que tinha uma pequena portinhola na altura do rosto. A coisa havia chegado à sua calçada. Maria empurrou a portinhola, aliviada por encontrá-la aberta, e abriu a porta por dentro. Entrou depressa e teve que fazer um esforço inumano para não batê-la com toda força. Sua família estava na sala distraída com a televisão e mal a olhou quando entrou; a expressão assustada, as mãos tremendo.
Jogou os cadernos sobre o sofá e virou-se lentamente para fechar a portinhola. E então se sentiu sozinha no mundo, cercada pelo mais absoluto horror, porque aquilo que ela não podia ver estava lá, na portinhola, olhando para ela. Um barulho ensurdecedor ecoou quando a pequena porta foi fechada violentamente, fazendo sua família pular de susto e Maria percebeu que, tomada pelo pânico, havia batido a portinhola por impulso. As reclamações de sua mãe a seguiram até a cozinha, mas ela as ignorou. Sentou à mesa e permaneceu muito branca e imóvel enquanto sua mente vagava por histórias terríveis que ouvira quando criança. Demônios, almas penadas, encruzilhadas...
Recordou subitamente da voz da avó alertando-a que nunca, jamais, se abrigasse sob uma árvore que estivesse numa encruzilhada. Tais árvores eram abrigos para almas penadas e demônios e aquele que ousasse, sobretudo à noite, se abrigar sob uma delas poderia sofrer um fim terrível. Maria deixou escapar um riso baixo e histérico enquanto sua mente visualizava a árvore onde, por poucos instantes, estivera abrigada. Percebeu surpresa que sua rua era o braço direito de uma encruzilhada. A árvore ficava exatamente na esquina entre a rua onde morava e a outra, que descia a noventa graus da sua. E do outro lado dessa rua central, à esquerda, o outro braço da cruz seguia fazendo esquina com um cemitério. Durante a vida toda ela passara ao largo daquela algaroba, sem jamais parar sob ela. Até aquela noite...
Olhou ansiosa para a família desejando contar sobre a experiência assustadora que acreditava estar vivendo, mas não teve coragem. O que iria dizer? Que vira algo que não podia ser visto? Que aquilo a seguira até em casa? Loucura, ninguém acreditaria nela. Nem ela conseguia acreditar em si mesma.
Não conseguiu dormir. Ficou escutando os roncos da mãe e os movimentos das irmãs com uma sensação de terror que lhe gelava os ossos. Ao longe ouviu o sino da igreja indicar que era meia-noite. Quando a última badalada tocou, ela não se surpreendeu quando sentiu seu colchão afundar como se outro corpo exercesse pressão sobre ele. Quis chamar pela mãe, mas estava paralisada. Alguma coisa começou a pressionar sua garganta como se mãos se fechassem sobre ela. Maria sentiu sua cabeça afundar mais no travesseiro. Lembrou então de um livro de terror que havia lido uma vez, 666 – O Limiar do Inferno, onde o demônio conseguia destruir três vidas porque, embora cada um dos personagens percebesse que havia algo errado acontecendo, nenhum deles tinha coragem de contar para o outro com receio de serem expostos ao ridículo. Ela havia rido desses personagens, mas agora percebia que fizera a mesma coisa. Tentou emitir qualquer som que pudesse chamar a atenção de suas irmãs, nas camas ao lado da sua, mas a pressão agora era tão forte que ela não conseguia respirar. No fim, o que restou não foi o medo e sim o desejo instintivo e desesperado de respirar, até que seu corpo desistiu e afundou na escuridão.
Na manhã seguinte quando encontraram seu corpo rígido e frio e chamaram o único legista da cidade, o homem, ainda morto de sono e mal-humorado, declarou após um exame superficial que ela havia morrido de parada respiratória, seguida de parada cardíaca por hipoxemia. E abandonando o corpo no necrotério foi tomar um café resmungando consigo mesmo que os jovens não eram mais resistentes como antes.
Tédio. Essa era a emoção dominante que Maria sentia enquanto fazia a maldita prova de inglês. Não é que não tivesse estudado, ou que a prova estivesse difícil, apenas ela não tinha interesse em fazer. Um após o outro, seus colegas entregaram a prova com pressa de ir embora, até que finalmente só restou ela e o professor na sala. O homem se remexia impaciente olhando-a de um jeito que deixava claro que cogitava tomar a prova e mandá-la embora. Maria não se importava. Sentia-se até perversamente satisfeita em irritar o professor. Demorou o quanto pôde até que, no limite do próprio tédio, entregou a prova.
Quando saiu da sala percebeu que devia ser a última aluna na escola. O relógio da igreja, ao longe, batia com um som melancólico de sino antigo indicando que eram dez horas da noite. Era um curso noturno, desses que os adolescentes fazem na ilusão de que fará diferença em seu inexistente currículo. Maria começou a descer lentamente uma rua completamente deserta enquanto se encolhia de frio. Lá em cima nuvens pesadas pareciam esperar apenas que ela estivesse longe de qualquer abrigo para derramar a chuva sobre a cidade. Ela ergueu o olhar para a rua e seus passos hesitaram um pouco. Havia algo de sinistro naquele silêncio, naquela rua deserta, como se ela estivesse andando por uma cidade fantasma. Seu coração se contraiu de medo por um segundo e então relaxou. Maria não era supersticiosa.
Já próximo à rua em que morava a chuva finalmente caiu, suavemente, em pingos esparsos. Ela apressou o passo e protegeu-se por um instante sob uma algaroba na esquina de sua rua, seguindo então para casa com passos apressados. Alguns instantes depois teve a impressão de ouvir passos atrás de si. Virou-se mecanicamente para trás, mas não viu ninguém. Seguiu em frente; o barulho dos passos continuou. Ela parou novamente e os passos pararam com ela. Decidiu aliviada que se tratava do eco de seus próprios pés e continuou. Um instante depois, por pura teimosia, ao ouvir o mesmo barulho de passos ela parou. Dessa vez os passos continuaram. Maria virou-se rigidamente e seus olhos vasculharam a rua em busca dos pés que faziam esse barulho, mas não havia nada. Estava absolutamente sozinha na rua.
Começou a andar cada vez mais rápido tentando não correr, mas sem conseguir evitar olhar para trás. E foi então que viu; ou melhor, não viu. Porque não havia nada lá. Mas alguma coisa estava atravessando a rua e chegando à calçada. Ela percebia-lhe a silhueta invisível e embora dissesse a si mesmo que isso não era possível, o pânico a dominou e a fez correr para casa. A coisa continuava avançando e agora estava a apenas três casas da sua. Suas mãos tremiam tanto que ela não conseguia abrir a fechadura simples do portão. Aquilo estava a duas casas agora. Maria se desesperou; tentou pular o portão e ele abriu de repente com tal ímpeto que ela quase caiu. Não se preocupou em fechá-lo; correu para a porta e então teve que brigar com a fechadura. Era uma dessas portas antigas que tinha uma pequena portinhola na altura do rosto. A coisa havia chegado à sua calçada. Maria empurrou a portinhola, aliviada por encontrá-la aberta, e abriu a porta por dentro. Entrou depressa e teve que fazer um esforço inumano para não batê-la com toda força. Sua família estava na sala distraída com a televisão e mal a olhou quando entrou; a expressão assustada, as mãos tremendo.
Jogou os cadernos sobre o sofá e virou-se lentamente para fechar a portinhola. E então se sentiu sozinha no mundo, cercada pelo mais absoluto horror, porque aquilo que ela não podia ver estava lá, na portinhola, olhando para ela. Um barulho ensurdecedor ecoou quando a pequena porta foi fechada violentamente, fazendo sua família pular de susto e Maria percebeu que, tomada pelo pânico, havia batido a portinhola por impulso. As reclamações de sua mãe a seguiram até a cozinha, mas ela as ignorou. Sentou à mesa e permaneceu muito branca e imóvel enquanto sua mente vagava por histórias terríveis que ouvira quando criança. Demônios, almas penadas, encruzilhadas...
Recordou subitamente da voz da avó alertando-a que nunca, jamais, se abrigasse sob uma árvore que estivesse numa encruzilhada. Tais árvores eram abrigos para almas penadas e demônios e aquele que ousasse, sobretudo à noite, se abrigar sob uma delas poderia sofrer um fim terrível. Maria deixou escapar um riso baixo e histérico enquanto sua mente visualizava a árvore onde, por poucos instantes, estivera abrigada. Percebeu surpresa que sua rua era o braço direito de uma encruzilhada. A árvore ficava exatamente na esquina entre a rua onde morava e a outra, que descia a noventa graus da sua. E do outro lado dessa rua central, à esquerda, o outro braço da cruz seguia fazendo esquina com um cemitério. Durante a vida toda ela passara ao largo daquela algaroba, sem jamais parar sob ela. Até aquela noite...
Olhou ansiosa para a família desejando contar sobre a experiência assustadora que acreditava estar vivendo, mas não teve coragem. O que iria dizer? Que vira algo que não podia ser visto? Que aquilo a seguira até em casa? Loucura, ninguém acreditaria nela. Nem ela conseguia acreditar em si mesma.
Não conseguiu dormir. Ficou escutando os roncos da mãe e os movimentos das irmãs com uma sensação de terror que lhe gelava os ossos. Ao longe ouviu o sino da igreja indicar que era meia-noite. Quando a última badalada tocou, ela não se surpreendeu quando sentiu seu colchão afundar como se outro corpo exercesse pressão sobre ele. Quis chamar pela mãe, mas estava paralisada. Alguma coisa começou a pressionar sua garganta como se mãos se fechassem sobre ela. Maria sentiu sua cabeça afundar mais no travesseiro. Lembrou então de um livro de terror que havia lido uma vez, 666 – O Limiar do Inferno, onde o demônio conseguia destruir três vidas porque, embora cada um dos personagens percebesse que havia algo errado acontecendo, nenhum deles tinha coragem de contar para o outro com receio de serem expostos ao ridículo. Ela havia rido desses personagens, mas agora percebia que fizera a mesma coisa. Tentou emitir qualquer som que pudesse chamar a atenção de suas irmãs, nas camas ao lado da sua, mas a pressão agora era tão forte que ela não conseguia respirar. No fim, o que restou não foi o medo e sim o desejo instintivo e desesperado de respirar, até que seu corpo desistiu e afundou na escuridão.
Na manhã seguinte quando encontraram seu corpo rígido e frio e chamaram o único legista da cidade, o homem, ainda morto de sono e mal-humorado, declarou após um exame superficial que ela havia morrido de parada respiratória, seguida de parada cardíaca por hipoxemia. E abandonando o corpo no necrotério foi tomar um café resmungando consigo mesmo que os jovens não eram mais resistentes como antes.




























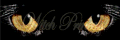















Nenhum comentário:
Postar um comentário