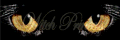1
Confesso que sou um tipo incomum. De aparência dura e rosto largo; cultivo barba hirsuta e escura. Alto demais para os padrões brasileiros: meço um metro, noventa e oito centímetros. Revelo, ainda, olhos claros. Tenho, realmente, personalidade retraída que somada à minha estranha aparência, convergem para o afastamento das pessoas, o que, por sua vez, culmina em poucas amizades. Assim, não tenho muitos amigos. Os que eu tinha, perdi. E vou contar como os perdi. De certo que eu possuía parentes; meus avós maternos. Conquanto já sejam falecidos, ainda nutro grande amor por eles. Não conheci meus pais. Hoje vivo só e atormentado. É preciso ilustrar, pois, que tenho o interessante hábito de ler. Não sou literato, tampouco hipócrita em dizer que o sou. Assim, meu gênero se resume ao terror. Os livros nunca me desprezaram. Nunca repararam minha estranha aparência. E nunca morrerão. Então, a experiência que relatarei nas próximas linhas é a coisa mais verídica que já vivi. E tem a ver com os livros. Mais precisamente com os contos de terror que integram alguns livros. Queira Deus, que você, caro leitor, acredite nestas linhas abaixo-escritas. Meu nome é Alencar. Essas informações bastam como intróito. Agora vamos ao relato que, tenho certeza, só de rememorar os fatos, me trará medonha companhia.
Como era de costume, às 5 horas da manhã nos encontramos em uma das praias do Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, para mais um domingo de pescaria. Desde que nos conhecemos e passamos a mandar em nossas próprias vidas, o último domingo do mês era sagrado; um ritual religioso aonde o compromisso era forte e, qualquer falta, inaceitável. Esta era uma forma de mantermos o contato, fortalecendo a corrente que sempre uniu nossa amizade. Claro, também servia para aliviar o estresse proveniente do trabalho que fora acumulado durante o mês.
Quando chegamos ao cais, lá estava o “Albatroz II”, a embarcação que vinha nos levando para a pesca em alto mar nos últimos dez anos. O sol começava a irromper no horizonte, neutralizando a leve brisa que nos causava pequenos arrepios quando conseguia penetrar por qualquer abertura que pudesse encontrar em nossas roupas. Um nevoeiro pairava distante, no horizonte, porém, de intensidade tacanha, o que não impediria a pescaria. Quando descansamos nosso equipamento no chão, Silveira, o capitão da nau, apareceu na proa da embarcação, acenando para nosso pequeno grupo.
– Bom dia, Silveira. Como está o mar hoje? – Perguntei de forma descontraída.
– Tirando aquele pequeno nevoeiro que não some, “tá” tudo “bão”! – Respondeu ele, sempre com seu tom brincalhão e despreocupado.
– Vê lá, Silveira. Não vamos nos perder, hein? Os equipamentos do barco estão em dia? – Perguntei, agora em um tom claro de brincadeira.
– Se preocupa não, “dotô”. “Tá” tudo em ordem aqui! – Desta vez ele respondeu com um sorriso o qual revelou que, se estava tudo em ordem com o barco, a situação era bem diferente em sua boca. Mais fácil seria contar os dentes que o homem ainda ostentava e não os que faltavam.
Começamos a carregar a embarcação, para que pudéssemos partir o quanto antes. Silveira, como sempre, desceu do barco e nos ajudou com o equipamento. Acomodamo-nos naquele escaler, que deveria ter cerca de 15 metros de comprimento; ao olhá-lo por fora, sua aparência não denotava confiança, com vários pedaços do casco já sem tinta. Uma certeza apossou-se terrivelmente de mim: o naufrágio era certo. Mesmo que, com a mesmíssima aparência e estrutura, certa vez, ele – o Albatroz II – havia resistido a uma forte tempestade e nos conduzira – longânime – à terra firme.
Assim que estávamos prontos, o barco pôs-se em movimento na direção ao mar. Ferreira, o mais jovem do grupo, abriu o isopor e entregou uma lata de cerveja a cada um de nós. Júlio, como sempre, foi quem começou a conversa sobre a infância, sobre como nos conhecemos, as aventuras que aprontamos, e assim passamos os quinze ou vinte minutos seguintes.
(...)
Já estávamos bem afastados do litoral quando iniciamos o ingresso no nevoeiro – que ao longe nos pareceu uma leve brisa renitente, todavia a proximidade com aquela estranha força natural causou-nos inquietação porque aquele fenômeno possuía certa assiduidade, mas havia algo de estranho naquele nevoeiro. Algo que nenhum de nós conseguiu estabelecer, à primeira vista, a não ser pelo fato de que, geralmente, quando o sol nascia, o nevoeiro desaparecia, o que não aconteceu naquela maldita vez. Quando fomos colhidos pela densidade feérica do nevoeiro, percebemos que sua elevação não passava da metade do casco do barco, tendo somente alguns centímetros de altura, mas era extremamente cerrada – quase cremosa, eu diria – e nos impedia de olhar diretamente o mar. Foi Venâncio quem fez a primeira observação, levando-nos a olhar mais atentamente para a bruma:
– Vocês não acham que tem alguma coisa errada com esse nevoeiro? – Seu rosto apresentava uma expressão de curiosidade. – Ele parece estar movendo-se contra o vento. Só eu quem percebeu isso? – Inquiriu-nos, apontando o seu polegar direito para si mesmo. E depois espraiando a mesma mão, num movimento vazio. A cerração ainda não havia conquistado o interior do pesqueiro.
Quando ele terminou a pergunta, nós quatro olhamos mais atentamente e, realmente, o nevoeiro parecia mover-se contra o vento. De fato, aquela espessa caligem insinuava deslocar-se à mesma velocidade do nosso veículo náutico, e – o que me intrigava deveras – no mesmo sentido também. Achando que fosse algum evento natural não identificado, deixamos a névoa de lado e pegamos nossos equipamentos. Havíamos, finalmente, chegado ao local da pesca. Pelo menos foi o que julgamos. O motor foi interrompido e o Albatroz II ficou ao sabor das águas. Era uma medida pouco ortodoxa não ancorá-lo, mas optávamos fazer dessa maneira.
2
De posse de nossas varas de pesca, demos início às atividades. Tentamos não nos importar com o nevoeiro, “vai passar logo, logo” era o que dizia Silveira. O sol já começava a brilhar um pouco mais forte, levando embora a sensação de inverno que a brisa do mar nos causava; o nevoeiro, no entanto, permanecia ali, veladamente indômito.
Enquanto eu ainda estava colocando minha isca no anzol, Venâncio já se preparava para lançar a sua ao mar. Antes que pudesse finalizar o movimento, ele parou; uma estranha expressão tomava conta de seu rosto. Quando volvi para olhar, tive a mesma sensação que ele. A névoa começara a ascender-se; lenta e silenciosa, ultrapassando, em altura, o corpo do nosso anoso barco.
– Silveira, já viu isso acontecer antes? – Perguntou Ferreira, com um pequeno ar de preocupação.
– Bom, névoa eu já vi, mas nunca a vi se mexendo desse jeito. – Respondeu ele, totalmente despreocupado.
– Temos alguma sinalização aqui no barco, para o caso de outra embarcação entrar na nossa rota? – Foi a vez de Júlio, racionalmente, expressar a sua preocupação.
– Já falei que não precisa se preocupar. ‘Tamos bem sinalizados, sim, “dotô”. – Ratificou ainda despreocupado, mas levemente irritado pelas insistentes perguntas sobre a qualidade de seu barco. Silveira nunca gostou muito de tais questionamentos.
– Parece que está entrando no barco. Olha como ela derrama aqui dentro. – Venâncio disse estas palavras pondo a sua vara de pesca de lado e dando dois passos para trás. As mãos erguidas. Seus olhos fixos na substância que invadia o barco, tardívaga.
Tivemos que concordar com a última observação. A névoa parecia derramar-se dentro do barco, como se fosse água transbordando de seu recipiente cristalino, guardada as devidas proporções do estado da matéria; ela assomava lentamente o interior do barco. Estava se aproximando cautelosamente, sorrateira, mas tinha algo de estranho, ela parecia deslocar-se, espreitando-nos, parecia estar viva. Deduzi sem pronunciar palavra alguma aos meus companheiros que aquilo espreitava cursivamente todos os passageiros da embarcação, um por um, como se planejasse algo. Em um determinado momento, mais rápido do que pudemos conceber, o nevoeiro havia atingido uma altura fenomenal. O sol já não era mais visível, assim como o mar. De forma não explicável, a névoa parecia subir como um grotesco tapume ao derredor da nossa via náutica; lá dentro ainda podíamos ver toda a extensão do barco sem qualquer dificuldade. A única exceção era a pequena quantidade de denso vapor que agora se espargia para dentro do convés. Instintivamente, todos nós demos passos para trás, sendo compelidos pelo horror do abraço macabro e translúcido que o nevoeiro iria nos ofertar. Eu tentei incutir em minha mente que era apenas um nevoeiro, mas a lógica sobrescrevia meu raciocínio, causando pensamentos do seguinte aspecto: Há algo estranho nesse nevoeiro, ele parece estar vivo.
Não demorou muito até que todo o convés estivesse coberto pelo umbrífero fenômeno. Embora do lado de fora existisse uma alta e volumosa parede brumosa, no convés a cerração estagnou-se na altura de nossas cinturas. Uma pequena sensação de frio tomou conta de nossas pernas e pés, agravada pelo fato de estarmos todos de bermudas.
– Silveira, tira a gente daqui. Essa coisa vai nos engolir! – A voz de Venâncio mostrava pavor àquela altura.
– Não posso. Podemos acabar batendo em uma pedra ou em alguma outra embarcação. Vamos ter de esperar. – Retrucou Silveira, mostrando-se o único ser racional ali dentro.
– Tente contatar a Capitania pelo rádio. Procure ver o que está acontecendo aí fora. – Júlio sugeriu, praticamente dando uma ordem direta ao condutor do barco.
A sugestão de Júlio teve algum efeito, pois Silveira saiu de onde estava, sem largar sua lata de cerveja, e dirigiu-se até a cabine. Claro que o acompanhamos até lá, pois estávamos todos ansiosos por notícias sobre aquele imponderável acontecimento meteorológico. Em cinco ou dez minutos, porém, nossas esperanças foram debalde; o único som que o rádio produzira fora a estática, qualquer que fosse a freqüência que se tentasse. Sem muito que fazer, nos sentamos em meio à névoa. Não possuíamos mais vontade de ingerir as cervejas que trouxemos.
Recordo-me que, à guisa de tornar tudo mais normal, revelei que estava lendo um autor chamado Algernon Blackwood. Era uma coleção de contos de terror, eu avisara. E disse que estava lendo o macabro conto: Os Salgueiros.
Todos me ouviram, porém ficaram quietos.
3
Depois de alguns minutos, que pareceram horas, nos assustamos quando Ferreira sobressaltou-se e emitiu de um grito de pavor, do lugar de onde estava.
– Alguma coisa passou por mim! Tem alguma coisa aqui embaixo, droga!
– Calma, Ferreira. Tem certeza? Não foi impressão sua? Você está um pouco nervoso. – Júlio especulou.
– Tá pensando que estou maluco? Eu senti alguma coisa passando por mim.
– Então vem para esse lado. Vamos ver se encontramos alguma coisa. – Venâncio disse isso quase sem expressão em seu rosto.
Antes que Ferreira pudesse ter realizado qualquer movimento, seu corpo foi violentamente projetado para trás, arremessando-o a cerca de dois metros de distância do lugar onde ele originalmente estava. Caindo no chão, seu corpo desapareceu em meio à névoa.
– Ferreira! – Gritamos, praticamente em uníssono, ao mesmo tempo em que corríamos em direção ao local que ele havia (ou pelo menos achávamos que havia) caído.
Diligenciamos desesperadamente atrás de nosso amigo, que no momento não pronunciava mais som algum. Abaixados, tateávamos o convés por debaixo da névoa, ora encostando somente na madeira, ora esbarrando as mãos em baldes e outros objetos. Nenhum sinal de Ferreira, entretanto.
– Diabos, falei que a névoa era incomum – Venâncio gritava enquanto tateava o convés freneticamente – nunca vi nevoeiro acompanhando barco nem agigantando-se depois de sol forte.
– Cala a boca e continua procurando – retrucou Júlio, seu olhar era tão desesperado quanto o de Venâncio.
– Acho que encostei em alguma coisa aqui – eu gritei quando senti que havia tocado o que parecia ser a perna de Ferreira.
Todos correram em minha direção, deixando suas buscas de lado. Continuei tateando e parecia, de fato, que eu havia encontrado Ferreira; senti seus pés e o tecido da bermuda que usava. Ainda tateando, senti um calafrio tomando conta de mim quando, ao me aproximar do que deveria ser a cabeça do Ferreira, senti um líquido viçoso e quente entre minhas mãos. Desesperado, protestei:
– Droga, ajudem-me aqui, pois acho que ele não está bem!
Rapidamente começamos a erguer Ferreira do convés, inclusive o Silveira, que nesta hora havia deixado toda a sua fleuma de lado e estava tão azafamado quanto o resto de nós. Quando começávamos a erguer Ferreira do chão, no entanto, Júlio virou-se para o lado e regurgitou todo o seu café da manhã entre a névoa. Silveira só pôde pronunciar algo que imaginei ser “diabos” ou “minha Nossa Senhora”. Quando meus olhos alcançaram o corpo, entendi o que havia ocorrido: aonde deveria estar a cabeça de Ferreira agora era um monte de massa amarelada, algo semelhante à cera derretida. Seus olhos, disformes e tentando encontrar um lugar para pairar naquele monte de amálgama amarelada, estavam vermelhos como sangue e uma expressão de horror e tristeza que assomava seu rosto, emborrascando seus movimentos. Desviamos nossos olhares de Ferreira quando um grito chamou nossa atenção: era Silveira, que balbuciando palavras sem sentido, correu e atirou-se ao mar, esvaindo – assim como seu grito – entre a infanda bruma, antes que pudéssemos sequer pronunciar uma palavra – nunca mais logrei saber seu paradeiro.
Voltamos nossa atenção para Ferreira, que parecia estar perdendo todo o líquido que outrora o hidratava. O restante de seu corpo começara a ficar amarelado, enquanto ele ensaiava algumas palavras. Das palavras que foram ditas, nenhuma foi compreendida, talvez por terem sido proferidas em um idioma que nenhum de nós conhecia – assim como Ferreira – ou talvez porque fossem palavras sem sentido algum. Apenso às palavras, um cheiro pútrido - como o inferno – nos revirou o estômago. O miasma emanava de seu corpo que apresentava movimentos espasmódicos horripilantes, já em cima da bancada na qual o havíamos repousado. Após alguns minutos de tremedeira, sangue e miolos umectaram os espectadores daquele hórrido festival. Seu crânio retumbou numa funesta explosão. Um som surdo e agonizante foi o último acorde que ouvimos daquela dramaturgia apocalíptica.
Júlio tornou a vomitar o que havia sobrado de seu café da manhã por entre a indizível cerração, enquanto Venâncio segurava sua cabeça com força, comprimindo os olhos em uma expressão de desespero, como se quisesse libertar-se de uma prisão imaginária. Sobrestive incrédulo, sem conseguir pronunciar uma única palavra.
As horas passaram enquanto tentávamos entender o que havia acontecido. Minha mente experimentava várias possibilidades. Nenhuma delas concebíveis a um ser humano.
4
Calculei estarmos próximo ao meio-dia quando paramos de chorar a atrocíssima morte de Ferreira e de tentar entender o que estava acontecendo – o que era aquela macabra névoa e o que viera com ela. Júlio levantou-se de repente, parecia determinado e ao mesmo tempo saturado de estar ali. O rosto numa expressão inexprimível.
– Vou tentar ver se o rádio funciona. – Disse, dirigindo-se à cabine.
– Vou com você. Não quero ficar sozinho aqui no meio dessa coisa. – Venâncio, que parecia o mais assustado da tripulação, afirmou gravemente.
Olhei enquanto os dois entravam na cabine e começaram a mexer no rádio. Felizmente nestes dez anos de pescaria aprendemos alguma coisa além de colocar iscas no anzol sem furarmos os dedos. Rapidamente Júlio ligou o rádio e começou a tentar diversas freqüências. Enquanto o irritante ruído de estática começava a pousar em meus ouvidos, notei algo – furtivamente – se locomover próximo a mim; um pequeno deslocamento de ar, na verdade. Virei, livrando-me de toda a estática que penitenciava meus ouvidos, tentando ver o que havia deslocado o ar. Teria sido um minuano no bojo do nevoeiro? Talvez algum navio ou algo que o valha passando próximo a nossa embarcação? Acho que nenhuma das duas. E até hoje não descobri o que era aquilo. O nevoeiro em si, em derredor de nossa embarcação, era extremamente denso e consistente. Certamente, nenhuma rajada de vento o teria atravessado sem que tivesse movido, ao menos, um centímetro daquela redoma de vapor. Assim como não era um navio, pois estes costumam fazer um bocado de barulho – seja pelos motores ou pela camada de água que é afastada de seu caminho – e também fazem ondas que inevitavelmente teriam balançado o nosso pesqueiro. Mas não houve barulho e tampouco houve movimento. O deslocamento de ar havia sido feito por algo que estava ali no barco. Inconsequentemente, levantei-me e encetei um andar de costas em direção à cabine, sem tirar os olhos do local aonde provavelmente ocorrera o estranho contato com alguém que não viera conosco e – talvez – habitava a redoma brumosa.
– Ainda tem alguma coisa aqui dentro – eu disse para os dois dentro da cabine. Eles desligaram o rádio e saíram da cabine, parando ao meu lado. O silêncio era assustador.
– O que você viu? – Indagou Venâncio, vendido de medo do desconhecido. Internamente, todos nós estávamos apavorados. Uns eram capazes de controlar tal inquietação, outros não...
– Não vi nada, e esse é o problema. Sabemos que tem alguma coisa aqui dentro, mas não sabemos o que é. Alguma coisa matou Ferreira e provavelmente irá nos matar se não sairmos daqui.
– O rádio continua sem captar ninguém, e esta porcaria de barco não tem bote salva-vidas. Aquele idiota do Silveira vivia dizendo que o barco estava em ordem, mas não é o que parece. – Sentenciara Júlio.
– Quer saber? Que se dane este nevoeiro. Vamos ligar o barco e ir embora daqui. É melhor colidir com um transatlântico ou com pedras marítimas do que morrer devorado por algo que não sabemos o que é – revelou Venâncio.
A ideia não era de todo ruim. Assim, retornamos à cabine para dar a partida no barco.
Depois de apertar e revirar todos os botões possíveis, e de tentar de todas as formas acionar a partida do motor, aquele velho propulsor a gasolina simplesmente ignorou qualquer apelo que fizemos. Eu sentia que, de alguma forma, o nevoeiro pulsava em vida, e não queria que fôssemos embora, pelos menos vivos. Ele tencionava dar o golpe final, aquele que mataria a todos nós, ali mesmo. Foi quando desistimos de tentar ligar o motor e estávamos saindo da cabine que senti novamente o flanar furtivo do ar, qual um errôneo peteleco infantil, porém perto de minhas pernas, o que elevou à segunda potência o horror que eu já nutria do nevoeiro. Mas desta vez, não intuí tétrica situação sozinho: Venâncio e Júlio também perceberam.
Tomado pelo medo, Júlio berrou:
– Eu não fico mais aqui. Vou voltar para terra firme nem que seja a nado! – Ele correu para bombordo – e enquanto corria a névoa parecia envolvê-lo assustadoramente com dedos infaustos. Antes que pudéssemos esboçar qualquer reação, vimos nitidamente que nosso amigo já não possuía o próprio controle de seu corpo. Júlio berrava abafadamente como se a bruma lhe impusesse fantasmagórica mordaça. O nevoeiro parecia arrimá-lo medonhamente e antes de jogá-lo ao mar, escutamos de forma clarividente seu pescoço ser quebrado. Então, seus gritos cessaram e ele sumiu entre a parede de fumaça que era a fronteira entre a embarcação e o mar. Todavia não captamos nenhum ruído de água. Hipnotizado, eu perlustrei, rapidamente, meu íntimo e nada me agradou. Eu tremia ante aquela quizilenta cena. Se tivesse um revólver, de certo, eu atiraria contra minha cabeça. “Mas como era possível? Estamos no mar, não estamos? Estamos cercados de água, não estamos?” – uma voz, que poderia ser meu inconsciente, me alertou. Desesperados, eu e Venâncio tentamos, inutilmente, olhar mais de perto o que estava acontecendo, mas só o que vimos foi o paredão de vapor.
5
Estava claro em nossos olhares que não tínhamos a menor idéia sobre o que fazer em seguida. Não se via nada além daquela névoa apavorante. Só ouvíamos o que ocorria ali dentro.
A angústia de estar preso naquele barco, no mar – ainda acreditávamos que flutuávamos sobre as águas do Atlântico -, e tendo presenciado a morte de dois amigos era algo assustadoramente real e que começa a nos entorpecer de tal forma que ficamos absortos por segundos. O pânico me assomou quando pensei na possibilidade de ficar preso naquele lugar para sempre. Quando retornei do transe reparei que Venâncio estava meditabundo olhando para um aglomerado de névoa que pairava próximo a sua cabeça. Os vapores semelhavam entrar em suas narinas e ouvidos e me impediam de ver, por completo, seu aspecto facial. Logo, me aproximei e dissipei a nuvem com o balançar de minhas mãos. Os olhos de meu amigo assumiram matizes avermelhadas num brilho tão cintilante quanto escarlate. Ele estava na extremidade limítrofe entre o barco e o nevoeiro e parecia olhar para o âmago do fenômeno meteorológico. Aquilo causou uma sanha pavorosa em mim. Destarte, gritei:
- Venâncio, você está bem?
Mas não obtive nenhuma resposta além de algumas palavras incompreensíveis ditas a esmo. E havia algo na voz, eu tinha quase certeza que não era Venâncio quem estava ali. Segurando seus braços, sacudi-o com bastante vigor, e, depois de um ou dois tapas em seu rosto, seus olhos voltaram ao normal.
- Temos que sair deste barco. Agora! - Venâncio gritava estas palavras, com tamanha abominação em seus olhos que pela segunda vez desejei ter uma arma de fogo para ceifar minha própria vida.
- O que houve? O que aconteceu? – Indaguei nervosamente.
- Acredite em mim, você não gostaria de ver metade do que eu vi. Não gostaria de sentir um décimo do que senti. – Ele interrompeu seu discurso. Seu rosto ganhou contornos assustadores. Meu amigo havia desviado seu olhar para outro lugar. Ele apontou o dedo e continuou:
- O que você acha que é aquilo perto da cabine? – Sua voz vacilava.
Quando me virei, vi uma forma brumosa e opaca que estava a olhar-nos com terrível expressão. Era extremamente alta e tinha os ombros e crânio unidos por colunas de vapores que se originavam na imensidão superior do nevoeiro.
- Deus do céu... o que é aquilo? – Eu disse num tom quase inaudível.
- Foi isso que vi. Alencar, isso é muito celerado. Não encare isso... Eu não tenho coragem! – Venâncio, abruptamente, se jogou do barco e mergulhou no nevoeiro.
Eu fiquei ali. Olhando, desesperado, aquele ser que parecia ser a personificação cruel daquele cerrado nevoeiro. Quando percebi já estava tragando os vapores do ominoso nevoeiro. Desloquei-me para estibordo e penetrei nos medonhos vapores que já assomavam por completo o convés do Albatroz II. E a temperatura abaixou brutalmente. Como estava às cegas, tornei a caminhar. Os passos lentos me fizeram perceber algo tão incrível quanto assustador.