É com incontida felicidade que a Câmara dos Tormentos apresenta para seus amigos e visitantes este que é um dos mais importantes contos da literatura fantástica de todos os tempos. Quero agradeçer imensamente ao amigo escritor Luciano Barreto, do Rio de Janeiro, por me apontar os caminhos virtuais que me levaram à aquisição desta obra maior da literatura mundial.
O
GRANDE DEUS
PAN
Arthur Machen

Tradução: E. Leão Maia
Índice:
I- Uma experiência
II- Memória do senhor Clark
III- A cidade das ressurreições
IV- Descobertas de Paulo Street
V- O aviso
VI- Os suicidas
VII- Encontro em Soho
VIII- Fragmentos
Posfácio
I
Uma experiência
− Ainda bem que veio, Clarke, fico tão satisfeito; já estava convencido que não lhe era possível.
− Consegui arranjar alguns dias. Sabe, os negócios não correm lá muito bem, o tempo está mau. Quanto a si, Raymond, não o inquieta o que vai experimentar, tem a certeza de que não corre perigo?
Os dois homens passeavam calmamente ao longo do terraço da casa do doutor. A oeste, o sol poente fazia brilhar as montanhas com um fulgor vermelho escuro, que não criava sombras. A atmosfera era calma; à sua frente, a floresta, espessa nas encostas dos outeiros, exalava um perfume suave, e ouviam-se, de vez em quando, os arrulhos murmurantes e ternos das rolas selvagens. Mais abaixo, no vale, o rio serpenteava pelas colinas solitárias e enquanto o sol desaparecia no horizonte, levantava-se, entre as margens, um hesitante vapor azul.
O doutor Raymond voltou-se bruscamente para o amigo:
− Pergunta-me se a experiência pode ser perigosa?
Não, de forma alguma. No fundo, é das coisas mais simples que existem, qualquer médico a levaria a bom termo.
− E não é perigosa... hum... noutros aspectos?
− Nada. Não existe qualquer perigo material, fique tranqüilo! Dou-lhe minha palavra.
Você sempre foi um medroso, Clarke; mas conhece a minha história, sabe bem que há vinte anos que me dedico à medicina transcendental. Quantas vezes me chamaram charlatão, curandeiro, louco. Mas eu sabia que ia pelo bom caminho. Ouça, meu amigo, há já cinco anos que atingi o meu objectivo, e desde ai mais não faço que não seja preparar aquilo que, esta noite, vou fazer.
− Gostaria de acreditar em tudo isso, respondeu Clarke, duvidoso, mas tem a certeza absoluta de que, nesse seu sistema, não existem fantasmagorias: em suma, não serão visões extraordinárias? Mas, não obstante, visões?
O doutor parou bruscamente e virou-se bem de frente para o seu interlocutor: era um homem idoso, esquelético e bilioso. Um fulgor sangüíneo fez-lhe corar o rosto enquanto fixava o amigo:
«Olhe bem à sua volta, Clarke, disse por fim. Veja a montanha, veja essas colinas, a floresta e os pomares, as searas e as pradarias que vão até ao rio. Veja-me, a mim, aqui ao seu lado. Ouça a minha voz. Muito bem. Mas digo-lhe eu que tudo isso, desde a estrela que se acende lá no céu, ao chão que temos debaixo dos pés, tudo isso são sonhos, sombras, sombras que nos escondem o mundo real; esse mundo real existe; mas por trás de todo esse brilho e de todas essas ilusões existem lugares superiores, escondidos como que por um véu. Se alguma vez um ser humano levantou esse véu, não o sei; o que sei é que esta noite, e perante nós dois, Clarke, esse véu irá ser levantado. Talvez pense que o que estou a dizer seja estranho ou insensato. Sê-Io-á, não duvido, mas é real. E os antigos sabiam o que significa «levantar o véu». Chamavam a isso «ver o Deus PAN». Clarke teve um arrepio. Sobre o rio, o nevoeiro estava gelado.
«É esquisito, na verdade, disse. Estamos à beira de um mundo maravilhoso... se o que você diz é verdade. Penso, no entanto, que o escalpelo não deixa de ser indispensável.»
− Sim, uma pequena incisão na substância cinzenta; um leve arranjo em algumas células, uma alteração microscópica que escaparia a noventa e nove por cento dos bons especialistas. Mas não quero maçá-Io com pormenores técnicos, Clarke! Poderia falar-lhe de imensos pormenores profissionais, extremamente importantes, mas que em nada o iluminariam. Penso, no entanto, que já deve ter lido em algum jornal a respeito dos progressos extraordinários realizados no campo da fisiologia do cérebro. Li, outro dia, um artigo sobre a teoria de Digby e as descobertas de Browne-Faber. Há quinze anos já eu lá tinha chegado, e penso que não é preciso dizer-lhe que não estou parado há quinze anos. Saiba somente que, há cinco anos, fiz eu a descoberta que me permitiu dizer-lhe, ainda há pouco, que tinha atingido o meu objectivo. Depois de anos de trabalho na sombra e de pesquisas incansáveis, de dias e noites de decepção e mesmo de desespero, de arrepios só de pensar que outro qualquer poderia, nesse instante, estar na mesma pista que eu, subitamente um choque de alegria me abalou a alma, e soube então que a minha longa viagem chegara ao fim. Pelo que me pareceu, na altura (e mesmo agora, por vezes), um feliz acaso, fui atraído pela sugestão de um momento de sonho para caminhos que já percorrera centos de vezes; e, subitamente, a grande verdade surgiu perante mim; e vi, desenhado a fogo, todo um novo mundo, continentes e ilhas, mares jamais percorridos por qualquer navio (que eu saiba) desde que o primeiro homem nasceu e levantou os olhos para o sol e para as estrelas do céu, ou os baixou para a terra. Tudo isto lhe deve parecer bela retórica, Clarke, mas é difícil ser-se conciso quando se abordam estes assuntos, e não sei mesmo porque me esforço por explicar o inexprimível. Por exemplo: este mundo, o nosso mundo, dispõe de uma imensa rede de fios e cabos telegráficos. Por aí circula o pensamento, a uma velocidade somente inferior à sua própria, do levante para o poente, de norte a sul, por montes e vales, mares e desertos. Suponha, agora, que um electricista se apercebe, um dia, que mais não faz que jogar ao berlinde, com berlindes que ele pensava serem os fundamentos do mundo. Suponha que esse homem vê abrir-se perante as suas correntes eléctricas toda uma vastidão de espaços infinitos; que a sua voz chega ao Sol; que atrás dele, outros sóis existem; e que a voz de outros homens ecoa pelo vasto mundo que rodeia o pensamento. Não deixa de ser uma alegoria do meu caso, mas é bem boa. Pode, assim, ficar com uma idéia daquilo que eu senti, aqui, numa tarde de verão. O vale estava como está hoje, eu estava neste mesmo lugar, quando se me deparou o imenso abismo que se abre entre os dois mundos − o do espírito e o da matéria. Ele abriu-se, hiante, à minha frente, e uma ponte de fogo surgiu que ligava a terra à margem desconhecida, como que para medir o abismo. Abra, se quiser, o livro de Browne-Faber. Diz lá que os sábios de hoje são incapazes de explicar a presença e as funções de um determinado grupo celular. O «terreno» ainda está interdito. Ainda é um palco de teorias fantasistas. Mas eu não estou na situação de Browne-Faber e de outros. Sei perfeitamente quais são as funções desse centro nervoso, qual o seu papel na ordenação das coisas. Posso activá-lo. Posso, digo eu, criar a corrente e estabelecer a comunicação entre o mundo dos sentidos e... bem, o futuro nos dirá o fim da frase. O escalpelo é necessário, sim, mas pense só no que se vai produzir: inverter a muralha dos sentidos. E, pela primeira vez desde que o homem é homem, um espírito vai contemplar o mundo dos espíritos. Clarke, Mary vai ver o Grande Pan!
− Mas lembra-se do que me escreveu? Não era preciso...?
Segredou o resto ao ouvido do doutor.
− Não, não, que loucura, pode estar descansado, as coisas só podem correr bem, assim.
− Pense bem, Raymond, olhe que é uma grande responsabilidade. É só isso correr mal, e você será um desgraçado até ao fim dos seus dias.
− Não, não me parece, mesmo vendo as coisas pelo lado pior. Sabe bem que arranquei Mary à miséria e à fome, quando era criança. Penso que a sua vida me pertence, que posso usá-la conforme me aprouver. Mas faz-se tarde, é melhor irmos para dentro!
Depois de conduzir o amigo pelo hall e através de um corredor, o doutor tirou uma chave do bolso, abriu uma pesada porta e introduziu Clarke no seu laboratório. Era uma velha sala de bilhar, iluminada por uma clarabóia colocada a meio do tecto; a luz triste que filtrava projectava-se sobre o rosto do doutor, enquanto ele acendia um volumoso candeeiro que colocou sobre a mesa.
Clarke olhou à sua volta. Não havia um centímetro de parede vazio. Todas estavam cobertas de prateleiras cheias de garrafas e frascos de todas as espécies e feitios, e de todas as cores. Num dos lados havia uma estante Chippendale que Raymond apontou com a cabeça:
− Vê este pergaminho de Oswald Crollius? O seu autor foi um dos primeiros a indicar-me o caminho, ainda que eu não pense que ele o tenha conseguido percorrer. Tem uma frase estranha. Diz que «em cada grão de trigo se esconde a alma de uma estrela».
Havia poucos móveis no laboratório. Uma mesa de sala de estar, uma outra mesa, de mármore, com um instrumento cirúrgico em cima, e os dois sofás onde se sentavam Clarke e o doutor, e era tudo. Só havia mais uma peça, um cadeirão de aspecto estranho, ao fundo da sala. Clarke olhou para ele e franziu as sobrancelhas.
− Sim, é naquela cadeira, disse Raymond. Devíamos até ir já prepará-la.
Levantou-se e, arrastando-a para a luz, começou a levantá-la e a baixá-la, experimentando diversos ângulos das costas e ajustando o suporte de pés. Tinha um aspecto confortável, e Clarke acariciou-lhe o veludo verde, enquanto o doutor experimentava as alavancas.
− Esteja à sua vontade, Clarke, a casa é sua. Eu tenho ainda que trabalhar um par de horas, ainda há uns últimos pormenores que quero verificar.
Raymond dirigiu-se para a mesa de mármore e Clarke ficou a vê-lo, inclinando-se sobre uma fila de frascos ou acendendo uma chama. Numa prateleira colocada por cima dele estava um pequeno candeeiro, também velado; e Clarke, sentado na sombra, contemplava a vasta e inquietante sala, admirando a bizarria dos contrastes sombra-luz. Depressa lhe chegou ao nariz um odor esquisito, talvez a mera sugestão de um cheiro, e, à medida que ele se ia afirmando, espantou-o não lhe reconhecer nada de químico ou medicinal. E, enquanto analisava preguiçosamente essa sensação, a sua mente começou a evocar um dia de antigamente, dos seus quinze anos, um dia de ócio e brincadeira na casa de seus pais, entre as árvores e os prados, um dia brilhante de princípios de Agosto. O calor dava às coisas um reflexo azulado, e os termômetros falavam de temperaturas anormais, quase tropicais. Era esquisito como esse ano de 185... ressurgia, agora, na mente de Clarke. O brilho de um Sol radiante apagava, agora, as luzes do laboratório em que se encontrava. Sentia de novo a brisa quente a afagar-lhe o rosto, o fumo erguendo-se por sobre a água, os mil e um murmúrios do Verão.
−Espero que este cheiro não o incomode, Clarke. Não tem nada de insalubre, mas pode amolecê-lo um pouco.
Clarke ouviu tudo claramente; sabia que Raymond falava com ele, mas por nada deste mundo conseguiu fugir à sonolência. Só conseguia recordar o seu passeio solitário de há quinze anos. Esse último adeus aos bosques e prados da sua meninice. De novo o seu nariz recordava a brisa do verão, os perfumes combinados das flores e da floresta, e desses lugares sombrios e frescos que o calor torna desejáveis, no meio das escuras folhagens. Mas o que tudo dominava era o maravilhoso perfume da terra que, como uma donzela, oferecia os seus braços e os seus lábios sorridentes, numa suave fragrância. Fantasiando, errou, como antigamente, dos campos para os bosques, e de novo para os campos, por um caminho que só ele conhecia, pelo meio das faias; e o murmúrio da água nas pedras cantava uma suave melodia que só o seu sonho podia escutar.
Os seus pensamentos tornavam-se, todavia, confusos. As faias transformavam-se em azevinho. Aqui e ali, uma videira serpenteava de ramo para ramo, estendendo as suas ramagens e o púrpura dos seus cachos, e a folhagem prateada de uma oliveira selvagem contrastava subitamente com a escuridão do azevinho. No meio do seu sonho, Clarke tomava consciência de que esse caminho o tinha conduzido da casa de seus pais para um território desconhecido, estranho, e era essa estranheza que ele admirava quando, de súbito, um silêncio se fez ouvir, mais alto que todos os Verões, todos os perfumes e todos os murmúrios, um silêncio que não deixou ouvir mais nada. Os bosques calaram-se. E, por um instante, algo que não era nem homem nem besta, nem vida nem morte, mas tudo isso, e mais, a imagem movimentada de todas as coisas, se fez ouvir. Só uns instantes, durante os quais corpo e alma estiveram prestes a dissolver-se, uma voz chorou «Vamos, saiamos daqui». E foi então como a sombra das trevas que está por detrás das estrelas, como a escuridão do eterno.
Acordando, sobressaltado, Clarke viu o doutor deitar algumas gotas de um líquido oleoso para dentro de um frasco verde, que rolhou em seguida cuidadosamente.
«Esteve a dormitar, disse. O dia foi cansativo! Mas já está! Vou só buscar Mary e já volto. São dez minutos!
Clarke virou-se no sofá e continuou a sonhar. Parecia-lhe que passava de um sonho para outro, que as paredes do laboratório se derretiam até desaparecerem, e que acordava em Londres todo arrepiado com os seus sonhos nocturnos. A porta abriu-se. O doutor apareceu, trazendo atrás dele uma jovem de dezessete anos, vestida de branco. Era tão bela que Clarke não se admirou com o que Raymond lhe escrevera. Reparou que ela corava, mas o doutor parecia impassível.
− Mary, disse ele, chegou o momento. Mas você é livre. Quer ou não confiar inteiramente em mim?
− Claro, meu amigo!
− Você ouviu, Clarke, você é testemunha! Sente-se nesta cadeira, Mary, sente-se. Está pronta?
− Sim, meu amigo prontíssima. Mas antes, beije-me!
O médico inclinou-se e beijou-lhe os lábios ternamente.
− Agora feche os olhos, disse.
A jovem baixou as pálpebras, como que de fadiga, e esperou o sono. Raymond aproximou-lhe então o frasco verde das narinas. O rosto dela tornou-se lívido, mais branco ainda que a roupa que trazia vestida. Lutou ainda, fracamente, por uns instantes; depois, vitimada por aquele espírito de submissão que nela era tão forte, cruzou os braços, como uma criança que vai rezar uma oração. A luz brilhante da lâmpada caía directamente sobre ela, e Clarke pôde observar a alteração que se operou nos seus traços, semelhante à que o Sol e as nuvens provocam sobre as colinas. Mary estava agora pálida e tranqüila - inconsciente, como constatou o doutor, abrindo-lhe uma pálpebra. Moveu então uma das alavancas, a fim de baixar a cadeira, e Clarke pôde vê-lo rapar um pouco do cabelo da paciente, como se de uma tonsura se tratasse, aproximar a lâmpada, pegar num objecto brilhante e...
Clarke virou as costas com um arrepio. Quando voltou a olhar já o médico colocava um penso na pequena ferida.
− Daqui a cinco minutos vai acordar, disse Raymond com a sua habitual frieza. Resta-nos, agora, esperar.
Os minutos passavam lentamente, e o tic-tac do relógio do corredor era bem audível. Clarke sentia-se enfraquecer. Os seus joelhos tanto batiam que já mal podiam sustentar.
De repente, ergueu-se o som de um suspiro. De repente, o sangue voltou a corar o rosto exangue de Mary. E de repente os seus olhos abriram-se - brilhavam com um fulgor estranho. Uma grande admiração se lhe espelhou na face, e as mãos estenderam-se, como que para tocar em algo de invisível.
E quase logo o espanto se converteu em horror, o rosto numa máscara abominável, e o corpo começou a tremer de tal forma que, dir-se-ia, era a sua alma lutando na sua prisão carnal - visão horrível! Clarke precipitou-se porta fora, enquanto que a jovem caía para o chão, uivando.
Três dias depois, Raymond conduziu Clarke à cabeceira de Mary. Estava desperta, e rolava a cabeça de um lado para o outro, fazendo caretas.
− Sim, disse o doutor, sempre frio, é uma grande perda. Ficou irremediavelmente idiota. Mas isso era inevitável - e ela viu, apesar de tudo, o Grande Pan.
II
Memórias do Sr. Clarke
O sr. Clarke, o cavalheiro escolhido pelo doutor Raymond para assistir à estranha experiência do Grande Pan, conjugava em si, de uma forma bizarra, a prudência e a curiosidade.
A frio, julgava o insólito e o excêntrico com a mais total das aversões. Porém, no âmago do seu coração, germinava um desejo quase inquisitorial de conhecer os mais esotéricos segredos da natureza e do homem. Era este segundo aspecto que tinha prevalecido no caso do doutor Raymond - pois, mesmo achando que a razão tinha posto irremediavelmente de parte tais sistemas, arrumando-os na prateleira da loucura selvagem, conservava ainda, em segredo, uma certa fé no fantástico, que gostaria de ver confirmada. O horror que presenciara no laboratório não deixara de lhe ser, de alguma forma, salutar. Consciente da sua parte de responsabilidade num assunto para todos os efeitos pouco recomendável, deixou-se, durante muitos anos, de pesquisas ocultas, para se dedicar inteiramente às verdades do bom senso. Por uma questão de homeopatia, verdade seja dita, não deixou de freqüentar durante algum tempo umas sessões mediúnicas, na esperança de que os truques de alguns desses cavalheiros lhe provocassem a tão desejada repugnância por tudo quanto dissesse respeito a misticismos. Mas o remédio foi inútil. Clarke sentia que continuava a vibrar perante o desconhecido e, a pouco e pouco, a velha paixão recomeçou a afirmar-se, à medida que a imagem de Mary e dos seus horrores se lhe apagava da memória.
Ocupado todo o santo dia nos seus prósperos e sérios negócios, era de noite que a tentação mais se fazia sentir, sobretudo nos meses de Inverno, em que o clarão da lareira fazia dançar as sombras no seu apartamento de solteiro, através do vermelho vivo do bom vinho que repousava ao alcance da sua mão. Fingia então que lia o jornal. Mas só a leitura dos cabeçalhos o fazia virar a cabeça, e era então que o seu olhar ardente se fixava sobre um pequeno contador japonês colocado ao lado da lareira. Ainda hesitava um pouco, como uma criança perante o armário das guloseimas, mas logo a concupiscência vencia a batalha e Clarke empurrava a cadeira, precipitadamente, acendia uma vela e sentava-se à frente do armário. As gavetas e compartimentos estavam cheios dos mais diversos documentos sobre os mais mórbidos assuntos. No meio deles repousava um volumoso manuscrito onde reunira as pérolas da sua colecção. Clarke desprezava intensamente a literatura impressa. Na sua opinião, a impressão retirava todo o interesse ao assunto mais fascinante e fantasmagórico. E o seu maior deleite estava exactamente em completar, coligir aquilo a que dava o nome de « Memória sobre as Provas da Existência do Diabo». Quando se deitava ao trabalho o tempo parecia voar, a noite parecia curta.
Numa feia tarde de Dezembro, negra de nevoeiro e coberta de geada, Clarke acabou o jantar e, mal se dignando cumprir o ritual de pegar e largar o seu diário, passeou um pouco pela sala, abriu a escrivaninha, imobilizou-se uns instantes e sentou-se, por fim. Quedou-se por um pouco, absorto num dos seus sonhos costumeiros e, finalmente, agarrou-se ao famoso manuscrito, que abriu numa das últimas páginas. Três ou quatro estavam cobertas pela caligrafia miudinha de Clarke. O titulo, com letras um pouco maiores, rezava:
Singular narrativa do meu amigo, Doutor Philips. Afirma ele que todos os acontecimento relatados são absoluta e estritamente verdadeiros. Recusa-se, no entanto, a revelar os Patronímicos dos Personagens, bem como a indicar o Teatro desses extraordinários Acontecimentos.
E o sr. Clarke leu a história pela décima vez, verificando, aqui e ali, as notas a lápis com que tinha acompanhado a narrativa do amigo. Diga-se (e esta era uma das suas particularidades) que o sr. Clarke se julgava dotado de alguma habilidade literária, que apreciava o seu próprio estilo, em que ordenava dramaticamente as circunstâncias. Eis o conteúdo do que lia:
«As pessoas implicadas nesta narrativa são Helen V... que, caso ainda esteja viva, deve ser agora uma mulher de vinte e três anos; Raquel M..., já falecida; e Trevor W..., idiota, de vinte anos. Estas pessoas viviam então numa aldeia do Pais de Gales, que fora uma vila importante nos tempos da ocupação romana, transformada agora numa vilarola de quinhentas ou seiscentas almas. A aldeia situa-se numa encosta, a cerca de seis milhas do mar, e é rodeada por uma vasta floresta.
«Há cerca de onze anos, Helen v... chegou a essa aldeia, em condições algo particulares. Dizia-se que, tendo ficado órfã muito cedo, fora adoptada por um parente afastado, que a tinha criado até à idade de treze anos.
«Este último, no entanto, pensava que lhe fariam falta companheiros da sua idade, pelo que, por intermédio dos jornais locais, fez saber que pretendia um bom lar, de preferência numa quinta confortável.
«M. R., um gordo proprietário da aldeia, respondeu ao anúncio. Visto que as suas referências eram satisfatórias, o gentleman não tardou a enviar-lhe a sua filha adoptiva, não sem estipular, por carta, que ela teria o seu quarto particular, e que ninguém precisaria de se preocupar com a sua educação, já na altura suficiente para a posição que viria a desempenhar no futuro. Mais ainda, o sr. M. R. era informado de que deveria deixar Helen à vontade, no que diz respeito a passatempos e ocupações. M. R. foi buscá-la à estação, a cerca de sete milhas, e não parece ter-lhe notado nada de especial - talvez umas certas reticências relativamente ao passado e ao pai adoptivo.
«Muito diferente fisicamente dos aldeões, pálida e macilenta, de formas acentuadas e aspecto exótico, Helen habituou-se, ao que parece sem dificuldade, à vida do campo, e cedo se tornou a favorita das outras crianças. Estas acompanhavam-na freqüentemente à floresta, no seu passeio predilecto. A este respeito, M. R. diz que uma vez, tendo reparado que ela saíra para passear depois do pequeno almoço e só voltara depois do crepúsculo, e inquieto por ela passar tantas horas sozinha e fora de casa, chamou a atenção do seu pai adoptivo para o facto. Este respondeu, com brevidade, que deveriam deixar Helen fazer o que quisesse.
«No Inverno, quando os caminhos da floresta eram impraticáveis, passava grande parte do tempo no quarto que lhe estava reservado, de acordo com as instruções do seu tutor.
«Foi no decorrer de um dos passeios ao bosque, cerca de um ano depois da sua chegada, que se deu um incidente bizarro, primeiro de uma série. Nesse ano, o Inverno tinha sido particularmente rigoroso, a neve tinha caído com abundância e o gelo tardava a desfazer-se. O Verão, pelo contrário, tinha sido particularmente quente. Num desses dias ardentes, Helen V... saiu da quinta para mais uma das suas longas excursões, levando, como sempre, o seu lanche de pão e carne. Alguns camponeses viram-na tomar a velha via romana, uma calçada cheia de ervas que atravessa a maior parte do bosque, e admiraram-se por ela ir sem chapéu, não obstante o extremo calor. Um jornaleiro, Joseph W..., trabalhava nesse dia na floresta, junto da estrada romana. Ao meio-dia, o seu filho Trevor trouxe-lhe o almoço, pão e queijo.
«Depois de comerem, o rapaz, de cerca de sete anos, deixou o pai entregue ao trabalho e, segundo o que, posteriormente, narrou, foi para o bosque procurar flores; o pai, que continuava a ouvi-lo feliz da vida à medida que ia colhendo esta ou aquela flor, trabalhava despreocupado, quando, subitamente, ouviu um grito de terror vindo do lado de onde o filho estava. Correu à sua procura, e foi dar com o rapaz, que corria de cabeça baixa, aterrorizado. Interrogado, respondeu que, depois de colher um molho de flores, e tendo-se sentido cansado, deitara-se sobre as ervas e adormecera. De repente, algo o despertara, um barulho singular, uma espécie de canto; olhando por entre os ramos, vira Helen V... brincando na relva com «um tipo esquisito, todo nu», que não conseguiu descrever. Tinha sentido tanto medo que desatara acorrer, à procura do pai. Joseph W... pôs-se a caminho e foi dar com Helen V... sentada no meio de uma clareira abandonada por carvoeiros.
Encolerizado, acusou-a de ter assustado o miúdo, mas ela negou tudo e riu-se muito da história do homem esquisito. História em que Joseph não tinha acreditado muito, diga-se, cedo tendo chegado a conclusão de que tinha sido um daqueles terrores inexplicáveis e súbitos que, por vezes, os miúdos sentem; Trevor, no entanto, obstinou-se na sua história, e estava tão angustiado que, por fim, o pai achou melhor levá-lo para casa, na esperança de que a mãe o acalmasse. Durante semanas a criança foi uma fonte de preocupações; nervosa e estranha, recusava-se a sair de casa e, de noite, acordava os pais aos gritos de «- O homem da floresta, papá, papá!»
«A pouco e pouco, contudo, tudo isso pareceu ter acabado e, cerca de três meses depois, acompanhou o pai a casa de um gentleman, onde aquele ia trabalhar. Tendo Joseph W... sido chamado ao escritório, a criança ficou no hall; minutos depois, estava o gentleman a dar as suas instruções, ouviram um grito estridente e o barulho de uma queda. Ambos se precipitaram, e foram dar com Trevor inanimado, no chão, as feições alteradas pelo terror. Chamado de urgência, o médico declarou, após um primeiro exame, tratar-se de uma espécie de ataque, derivado, certamente, de uma emoção súbita. Levaram-no para um quarto onde não tardou a vir a si, mas para passar a um estado a que o médico chamou de «histeria violenta».
«Tendo-lhe sido administrado forte sedativo, acharam-no capaz, duas horas depois, de regressar a casa; ao passar pelo hall, no entanto, foi de novo vítima de um acesso de terror, mais forte ainda que o anterior. O pai da criança reparou que, gritando «- O homem da floresta», Trevor apontava para qualquer coisa. Olhou e viu uma grotesca máscara de pedra incrustada na parede por cima de uma porta. Ao que parece, o proprietário tinha mandado fazer obras na casa, pouco tempo antes, e, ao remexerem nos alicerces, os operários tinham dado com essa carantonha de origem nitidamente romana, que foi colocada no hall. Experientes arqueólogos da região tinham visto nela uma cabeça de fauno, ou sátiro.(¹) «Fosse o que fosse, o abalo foi, desta vez, forte de mais para o pequeno Trevor, e ainda hoje ele sofre de um atraso mental que deixa entrever poucas esperanças. A história fez sensação na época, e M. R fez um interrogatório fechado a Helen - mas em vão. Continuou a negar que tivesse assustado o miúdo, fosse de que maneira fosse.
«O segundo incidente em que a jovem tomou parte data de há cerca de seis anos, e apresenta aspectos ainda mais inquietantes.
«Em 188... no começo do Verão, Helen ligou-se de forte amizade com Raquel M..., filha de um rico lavrador da vizinhança. Mais nova um ano que Helen, a miúda era mais bonita, não obstante os traços daquela estarem mais atenuados com a idade. As duas amigas, inseparáveis, contrastavam bastante, uma com a sua tez cor de azeitona e o seu ar de italiana, a outra com as faces rosadas proverbiais nas nossas províncias. É preciso ter em conta que as anuidades pagas a M. R... pela educação de Helen eram elevadas, e a aldeia sabia-o. A opinião geral era a de que ela herdaria um dia uma soma considerável. Conseqüentemente os pais de Raquel não se opuseram nada à amizade entre a sua filha e Helen, pelo contrário, o que hoje deploram amargamente. Dado que Helen tinha conservado o seu amor pela floresta, Raquel acompanhava-a freqüentemente nos seus passeios. Saíam de manhã e por lá ficavam até ao anoitecer. Por uma ou duas vezes, na seqüência dessas excursões, a Sr. a M... achou qualquer coisa de singular nos modos da filha - parecia adoentada, sonhadora, «diferente do que era», segundo a opinião da mãe; mas as mudanças eram tão pouco nítidas que ninguém reparou nelas.
«Uma noite, contudo, depois de Raquel voltar, a mãe ouviu no seu quarto algo que lhe pareceu um choro abafado. Entrou e foi dar com a filha meia despida, sentada na cama, tomada de indizível angústia. Ao ver a mãe, gritou: «- Oh! mamã, porque me deixaste ir com Helen para a floresta?» Espantada por ver a filha naquele estado, a Sra. M... interrogou-a. E Raquel contou uma história terrível. Disse...»
Repentinamente, Clarke fechou o livro, e virou a cadeira para o fogo. Uma vez que um seu amigo, sentado nessa mesma cadeira, lhe contou essa mesma história, interrompera-o nesse mesmo ponto, melhor, um pouco a seguir, gritando-lhe num paroxismo de horror: «- Mas, meu Deus, pense no que está a dizer! É monstruoso! Coisas como essa nesta nossa Terra, onde o homem vive e morre, luta, triunfa, por vezes sucumbe, é vencido pela tristeza e sofre, vítima de estranhos destinos ao longo de vários anos, bem sei! ... Mas isso, Philips, isso não! Se isso pudesse acontecer, este mundo seria um pesadelo!»
E Philips tinha continuado a contar a sua história até ao fim, e o fim da história era:
«A sua fuga é ainda um mistério. Desapareceu. À luz do dia. Viram-na caminhar para a pradaria - segundos depois, tinha desaparecido.»
Sentado junto do fogo, Clarke esforçava-se por conceber tamanho absurdo. O seu espírito vibrava, fugia, tremia, invocando as forças misteriosas que podem fazer da nossa carne um triunfo e um trono. À sua frente, desdobrava-se o túnel verde do caminho da floresta, descrito pelo amigo. Viu o movimento das folhas e, sobre a erva, a dança das sombras. Viu o Sol e as flores e, ao longe, duas figuras que caminhavam para ele. Uma era a de Raquel, mas... e a outra?
Clarke fizera o possível por não acreditar em nada. Mas no fim da história lá estava, escrito pelo seu próprio punho:
ET DIABOLUS INCARNA TUS EST, ET HOMO F ACTUS EST. (²)
(¹) O Dr. Philips disse-me ter observado a máscara em questão: nunca antes vira tamanha figuração do mal, assegurou-me.
(²) «E o demônio incarnou, e o homem está feito» (ELM)
III
A cidade das ressurreições
«Herbert! Meu Deus, será possível?
− Na verdade, o meu nome é Herbert. Também me parece que o conheço, mas não me lembro do seu nome; tenho uma memória mesmo esquisita.
− Não se lembra de Villiers, de Wadham?
− É verdade, pois é! Peço-lhe imensa desculpa, Villiers. Nunca me ocorreria pedir esmola a um camarada de colégio. Boa noite.
− Meu querido amigo, não tenha tanta pressa. O meu apartamento fica a dois passos daqui. Não quer ir até lá? íamos pelo caminho mais comprido, pela avenida Shaftesbury! Por amor de Deus, o que é que o fez chegar a este ponto, Herbert?
− É uma história comprida, Villiers; estranha, também. Mas, se quiser, eu conto-lha.
− Está bem. Dê-me o braço, parece-me que está um bocado fraco.
Os dois companheiros, um vestido de inquietantes e sujos andrajos, o outro com a elegância do citadino rico, subiram lentamente Rupert Street. Villiers acabava de sair do seu restaurante, depois de um excelente jantar de vários pratos, pesado pelo conforto do Chianti com que regara a refeição. Com o seu velho bom humor, demorara-se um pouco à porta, olhando para as ruas surdamente iluminadas, à espera de um daqueles incidentes ou personagens misteriosos freqüentes em Londres, a toda a hora e em toda a parte.
Villiers considerava-se um exímio explorador dos desvios e labirintos da vida londrina, um tipo de caça desinteressada em que investia uma actividade digna de objectivos mais elevados. Era com esse espírito que se conservava junto do candeeiro, espreitando os passantes Com uma curiosidade que não tentava disfarçar. E, com aquela gravidade somente conhecida dos jantadores sistemáticos, enunciara para si próprio o seguinte aforismo: «Chamaram a Londres a cidade dos encontros; deviam ter-lhe antes chamado cidade das ressurreições». E foi aí que os seus pensamentos foram interrompidos por um queixume próximo, um doloroso pedido de esmola.
Olhou para o lado, um pouco irritado, e teve um sobressalto ao dar com a prova incarnada das suas teorias: mesmo ao seu lado, alterado e desfeito pela miséria, miseravelmente coberto de andrajos, estava o seu velho amigo Charles Herbert, antigo colega, ontem sábio, hoje louco. Ocupações diferentes e interesses divergentes tinham interrompido essa antiga amizade. Havia agora seis anos que Villiers não via Herbert; e contemplava aquela ruína humana com uma tristeza mista de concupiscência de saber o que o tinha levado àquele ponto. A piedade não destruía nele o prazer do caçador de mistérios, e congratulava-se pelos seus sonhos de raciocínio à porta do restaurante.
Deram alguns passos em silêncio enquanto mais que um passante se voltava, espantado, perante o espectáculo insólito que constituía esse homem bem vestido, de cujo braço pendia um declarado mendigo. Vendo isso, Víllíers enfiou por uma rua obscura de Soho. Aí, repetiu a pergunta:
«Como raio é que isso aconteceu, Herbert? Sempre pensei que ia beneficiar de uma óptima situação no Dorsetshire. O seu pai deserdou-o? Certamente que não?»
− Não Villiers, herdei logo a seguir ã morte do meu pobre pai, que morreu um ano depois da minha saída de.Oxford. Foi um pai muito bom, e o meu luto foi sincero. Mas sabe o que são os jovens; meses depois vim para a cidade e comecei a freqüentar a vida mundana. Tinha excelentes recomendações e consegui distrair-me sem muitos problemas. Na verdade, joguei um bocado, mas nunca grandes somas; e as poucas apostas que fiz nas corridas até me deram algum ganho, percebe, algumas libras, para os charutos e coisas do gênero. Na minha segunda season é que o vento mudou. Ouviu falar, com certeza, do meu casamento?
− Nunca ninguém me falou em tal coisa!
− Casei-me, Villiers! Tinha conhecido em casa de uns amigos uma jovem da mais maravilhosa e envolvente beleza. Não lhe posso dizer qual a sua idade, pois nunca o soube; mas, segundo os meus cálculos teria, quando a conheci, uns dezenove anos. Os meus amigos tinham-na conhecido em Florença; apresentou-se como órfã, filha de pai inglês e mãe italiana, e encantou-os, como me encantaria a mim. Vi-a pela primeira vez numa festa. Estava a falar com um amigo, junto de uma porta, quando, de súbito, por sobre o murmúrio das conversas, se elevou uma voz que me foi direita ao coração. Cantava um romance italiano. Fui-lhe apresentado nessa mesma noite e, três meses depois, casava-me com ela. Villiers, essa mulher - se lhe pode chamar mulher - corrompeu-me a alma. Na noite de núpcias dei comigo próprio sentado, no quarto do hotel a ouvi-Ia falar. A ouvi-Ia falar: com aquela voz maravilhosa, falar de coisas que eu não ousaria murmurar na mais negra das noites, na mais vasta das solidões. Villiers, você pensa que conhece a vida, Londres, e o que se passa nesta cidade de horrores; e se calhar já conversou amenamente com os piores celerados. Mas sou eu que lhe digo que você não faz a mínima idéia daquilo que eu sei. Não, os seus sonhos mais fantásticos e escondidos nunca poderiam engendrar a mais pequena sombra daquilo que eu ouvi e vi. Vi, sim, vi as coisas mais incríveis, tão incríveis que, por vezes, no meio da rua, parava para pensar como era possível tê-las visto... e continuar vivo. Passado um ano, Villiers, eu estava arruinado, de corpo e alma... de corpo e alma!
− E as suas propriedades, Herbert? Você tinha terras em Dorset.
− Vendi-as. Terras e florestas; a minha querida casa... tudo...
− E o dinheiro?
− Levou-o ela.
− E deixou-o assim?
− Sim, uma noite desapareceu. Não sei para onde foi − mas tenho a certeza de que, se a visse, morria. O resto da minha história não tem interesse: sordidez e miséria, é tudo. Villiers, você pensa que estou a exagerar. Mas olhe que não lhe contei nem metade do que se passou. Podia tentar convencê-lo; só que você nunca mais teria uma hora de felicidade até ao fim dos seus dias − tornar-se-ia, como eu, um fantasma, um homem que viu o inferno».
ViIliers levou o desgraçado até sua casa, onde mandou que lhe servissem de jantar. Mas ele comeu pouco, quase não tocou no vinho e pareceu aliviado quando, depois de ter estado sentado ao lume, sombrio e silencioso, ViIliers o deixou ir embora com algum dinheiro.
«− Uma coisa, Herbert, perguntou Villiers quando se separaram, como se chamava a sua mulher? Você disse Helen... Helen quê?
− Chamavam-lhe quando a conheci, Helen Vaughan; mas não sei o seu verdadeiro nome. Não penso que ela o tivesse. Não, não é o que está a pensar; mas só os seres humanos têm um nome, Villiers, e não posso dizer-lhe mais. Boa noite: não, não deixarei de passar por cá se precisar da sua ajuda. Boa noite.»
O homem afastou-se noite adentro, e Villiers voltou para junto do fogo. Havia qualquer coisa em Herbert que lhe causava uma impressão indisível; não eram os farrapos nem os estigmas que a miséria lhe imprimira no rosto, mas um terror indefinível suspenso dele como uma névoa; ele próprio reconhecera não estar limpo de faltas, e que Helen o corrompera de corpo e alma. Villiers tinha a impressão que as cenas de que esse homem, em tempos seu amigo, se tinha tornado actor, eram inexprimivelmente criminosas. E a sua história não precisava de ser confirmada - ele próprio constituía a prova. Villiers sonhava com a história que tinha acabado de ouvir, perguntando-se se a ouvira até ao fim: «Não, até ao fim, não, concluiu. Só o principio. Uma história destas é como aquelas caixinhas chinesas: a gente abre-as umas a seguir às outras, e vai encontrando tarefas cada vez mais bizarras. É bem possível que o pobre Herbert mais não seja que uma das caixinhas exteriores: ainda falta abrir caixas muito mais estranhas.»
Villiers não conseguia esquecer Herbert e a sua história cujo horror parecia tornar-se mais espesso à medida que a noite avançava. Já o fogo enfraquecia, e o ar gelado da manhã penetrava no apartamento. Villiers levantou-se, olhou por cima do ombro e, estremecendo um pouco, enfiou-se na cama.
Dias depois, encontrou no seu clube um gentleman chamado Austin, um seu amigo que era famoso por conhecer de lés a lés a vida brilhante e tenebrosa de Londres. Ainda a matutar no seu encontro de Soho, Villiers pensou que talvez Austin pudesse aclarar um pouco a história de Herbert. Depois de algumas frases banais perguntou-lhe de chofre:
«Por acaso não ouviu falar, de uma maneira ou de outra, de um tipo chamado Herbert, Charles Herbert?
Austin virou-se bruscamente e olhou surpreendido para Villiers:
«Charles Herbert? Você não estava na cidade há três anos. Se calhar não ouviu falar no caso de Paul Street?» Na altura, foi uma sensação.
− Que história foi essa?
− Ei-la. Um gentleman muito rico foi encontrado morto perto de uma casa de Paul Street, mais ou menos onde se cruza com Tottenham Court Road. Naturalmente, não foi a polícia que o descobriu − passe a noite com a luz acesa e virá logo um polícia tocar à porta, mas quem é que quer saber se alguém estiver estendido à porta de qualquer pessoa? Deixam-no estar. Nessa ocasião, como em outras, o alarme foi dado por uma espécie de vagabundo − não estou a falar de um mendigo, nem de um gatuno. Sabe, um daqueles gentleman que, movidos pelos negócios ou pelo prazer, se passeiam pelas ruas de Londres às cinco da manhã. Esse individuo, pelo que declarou, «voltava para casa», se bem que nunca se percebeu muito bem de onde vinha nem para onde ia, nem porque razão passava por Paul Street entre as quatro e as cinco da manhã. Não sei o que é que o fez ir espreitar o n.º 20. Disse qualquer coisa absurda a respeito de a casa ter a fisionomia mais desagradável que até ai tinha visto. De qualquer forma, foi espreitar ao pátio. E, para seu espanto, viu um homem estendido no chão, uma perna aqui, outra ali, de costas. O nosso gentleman achou a cara do homem singularmente fantasmagórica, pelo que se pôs a correr, à procura do primeiro policia. O constable não levou a coisa muito a sério, a princípio, pensando tratar-se de histórias de bêbados. Mas foi lá, e quando viu a cara do homem mudou logo de tom. O pássaro madrugador que tinha descoberto aquele lindo presente foi mandado à procura de um médico, enquanto o constable se agarrou à campainha e ao batente, até que chegou uma criada muito suja e meia a dormir. Mostrou-lhe o que estava no pátio e ela vá de gritar e de pôr toda a rua em polvorosa. Mas ela não sabia nada a respeito do senhor, nunca o tinha visto na casa, etc... Entretanto, chegou o outro com o médico, e não havia mais nada a fazer senão entrar no pátio. Foi aberta a porta, todo o quarteirão aproveitou para entrar também, e assim se apagaram todas as pistas que pudessem existir. O doutor só precisou de um momento para declarar que o pobre diabo estava morto há várias horas, e fê-lo transportar para o posto. Aqui é que a história se torna interessante. O morto não tinha sido roubado, e num dos bolsos estavam papéis que o identificavam como sendo..., em suma, um homem rico e de boas famílias, muito considerado na sociedade, e de quem não se conhecia um inimigo. Não lhe digo o seu nome, Villiers, porque ele não tem nada que ver com a história, e porque não é nada bom remexer em histórias de mortos com parentes ainda vivos. O mais curioso, depois, é que os médicos nunca chegaram a um acordo relativamente às causas da morte. Havia umas feridas nos ombros do cadáver, como se alguém o tivesse empurrado com violência pela porta da cozinha e arrastado escada abaixo − e não, como parecia, atirado pela janela; mas não apresentava quaisquer sinais de violência susceptíveis de provocar a morte; e a autópsia não revelou traços de veneno. Naturalmente, a policia quis saber coisas sobre os habitantes do n.º 20 – e neste ponto, soube-o de fonte privada, apareceram dois ou três pormenores curiosos.
«A casa era habitada pelo casal Herbert; ele, ao que se dizia, rico proprietário − houve até quem dissesse que Paul Street não era propriamente o lugar onde se fosse à procura da aristocracia terratenente; ela, ninguém parecia saber quem fosse, nem o quê. Aqui entre nós estou convencido que os que procuraram mergulhar na sua existência nadaram em águas bem turvas. É evidente que ambos negaram saber fosse o que fosse sobre o defunto, pelo que, por falta de provas, foram mandados embora. Mas vieram à baila coisas estranhas, mesmo estranhas.
«Apesar de serem só cinco ou seis horas da manhã quando o cadáver foi levado, a multidão tinha-se acumulado, e a maior parte dos vizinhos tinha acorrido para ver o que se passava. Mostraram-se extremamente liberais, a todos os níveis, nos comentários que faziam; definitivamente, o n.º 20 tinha má fama no bairro. Os detectives bem tentaram apurar alguns fundamentos mais sólidos de todos esses rumores, mas não conseguiram; as pessoas abanavam a cabeça e franziam o sobrolho; achavam que os Herbert eram «bizarros», «preferiam não freqüentar a casa», etc., mas nada de tangível. As autoridades estavam moralmente convencidas de que o homem tinha encontrado a morte, fosse de que maneira fosse, em casa dos Herbert, tendo sido em seguida deitado pela porta da cozinha; mas não puderam provar nada, e não havia traços de violência ou de veneno que sustentassem essa opinião. Uma história estranha, não é verdade?
«Ainda há uma coisa curiosa de que não lhe falei. Por acaso, eu conhecia um dos médicos que tinham sido consultados sobre as causas da morte, e uns tempos depois do inquérito encontrei-o e interroguei-o sobre o assunto: «Você garante-me, perguntei-lhe, que foi ultrapassado pelo caso, que ainda hoje não sabe de que é que o homem morreu?»
«Desculpe, sei perfeitamente o que é que matou Blank: angústia, pavor, desespero. Nunca, desde que sou médico, encontrei feições de tal modo convulsas, e olhe que já olhei bem para a cara de um exército de defuntos. »
«Esse médico era um indivíduo de sangue-frio, eu conhecia-o bem, de modo que a veemência dos seus modos me impressionou bastante: mas não consegui saber mais nada. Penso que o Ministério Público não conseguiu arranjar maneira de perseguir os Herbert por terem assustado um homem até à morte; pelo menos, não fizeram nada, e o caso foi esquecido. E você, sabe alguma coisa do Herbert?
− Mas, replicou Villiers, andamos juntos no colégio.
− Não posso crer. E a mulher, viu-a alguma vez?
− Não, nunca. Deixei de ver o Herbert já há alguns anos.
− É curioso, não é? Separarmo-nos de um colega à porta de um colégio, não ouvirmos falar dele durante anos, e vir a encontra-lo nestas circunstâncias. Pessoalmente, gostaria de ver a sr. a Herbert. Contam-se umas coisas a seu respeito...
− Que coisas?
− Por minha fé, não sei muito bem como dizer-lhe. Todos os que a viram no Tribunal de Polícia afirmam nunca ter encontrado mulher tão bela e tão repugnante. Falei com um deles, e olhe que ele se arrepiava só de a descrever. Tudo isso foi uma espécie de enigma e eu penso que, se o morto tivesse podido contar algumas histórias elas teriam sido bem estranhas. E há ainda outra meada a desenrolar: que faria um respeitável country-gentleman como o sr. Blank (chamar-lhe-emos assim, se não se importa) nesse duvidoso apartamento do n.° 20? É mesmo um caso misterioso, não acha?
− Sim, Austin, um caso misterioso, e olhe que eu nunca pensei que, ao fazer-lhe perguntas sobre o meu antigo condiscípulo, viesse malhar em semelhante ferro. Mas tenho que me ir embora. Boa noite.
IV
Descobertas de Paul Street
E Villiers foi-se embora, pensando na história das caixinhas chinesas: um trabalho curioso, com efeito.
Uns meses depois do encontro de Villiers e Herbert, o sr. Clarke estava, como era seu hábito, sentado na sala, depois de ter jantado, e fazia um esforço para não se dirigir à escrivaninha. Tinha consegujdo manter-se afastado das Memórias durante mais de uma semana − até porque pensava agora conseguir uma reforma por inteiro. Mas, não obstante as suas tentativas, não conseguia silenciar a curiosidade que nele tinha despertado o último caso relatado no seu registo. Tinha-o exposto, guarnecido pelas suas próprias conjecturas, melhor, tinha-o esboçado a um dos seus amigos, um homem de ciência. Este tinha sacudido a cabeça e achado que Clarke era, na verdade, «particular»; e, nessa noite, Clarke fazia um esforço para racionalizar a história, quando uma pancada na porta o arrancou às suas meditações.
« − O sr. Villiers deseja ver V. Ex. a.
− Ah! Villiers, como é gentil em pensar em mim.
Há meses que não o via, penso mesmo que já faz um ano. Entre, entre. Como tem passado, Villiers? Precisa de algum conselho para umas colocações?
− Não, obrigado. Desse lado tudo vai bem, penso. Não, Clarke. estou aqui, na verdade, para o consultar sobre um caso um pouco diferente, de que tive conhecimento há pouco tempo. Temo que o considere absurdo, quando lho expuser; por vezes, eu próprio sou um pouco dessa opinião, e é por isso que me decidi a vir vê-lo, sabendo como é um homem prático.»
O sr. Villiers ignorava as Memórias para provar a Existência do Diabo.
«- Bem, Villiers, ficarei muito satisfeito se o puder ajudar, farei o que me for possível. Mas qual é o caso?
− Extraordinário, sob todos os pontos de vista. Você conhece os meus hábitos, sabe que tenho sempre os olhos abertos quando ando pela rua, e que já tenho dado com casos e costumes bem esquisitos; mas este bate-os a todos. Saia do restaurante, uma noite, há cerca de três meses. Tinha jantado bem, bebido uma boa garrafa de chianti, e estava no passeio a olhar de um lado para o outro e a pensar no mistério que são as ruas de Londres e as pessoas que as freqüentam. Sabe que uma garrafa de vinho encoraja esse tipo de fantasias, Clarke, e ouso dizer que já tinha pensado uma página inteira, de letras bem miudinhas, quando fui interrompido por um mendigo que, surgindo por detrás de mim, se pôs com as lamúrias do costume. Olhei maquinalmente, e descobri que o mendigo era, por acaso. o que restava de um velho amigo meu, chamado Herbert. Fiquei espantado por o encontrar naquela miséria, e ele deu-me uma explicação enquanto passeávamos para cá e para lá numa dessas ruas sombrias de Soho; foi ai que soube da história. Disse-me que se tinha casado com uma rapariga soberba, mais nova que ele alguns anos, e que, segundo as suas próprias expressões, ela o tinha corrompido, corpo e alma. Não me quis dar muitos pormenores, pretendendo que não o ousava, dado que o que tinha visto e ouvido o perseguia dia e noite; e como eu lhe estava a olhar para a cara, apercebi-me de que falava verdade − havia nele qualquer coisa que me arrepiou, não sei porquê. Mandei-o embora com algum dinheiro, e dou-lhe a minha palavra de honra que, depois de ele se ir, tive que fazer um esforço para respirar − a presença dele tinha-me gelado o sangue.
− Isso não terá um pouco de fantasia, Villiers? Suponho que, tendo feito um casamento imprudente, as coisas terão talvez dado para o torto, usando uma linguagem vulgar.
− Bem, então ouça o resto da história.»
E Villiers contou a Clarke o que Austin lhe dissera.
«Como vê, não restam dúvidas, concluiu; e esse sr. Blank, seja lá quem for, morreu de medo. Deve ter visto tamanha coisa, naquela casa, que o coração lhe parou instantaneamente. E foi lá, nesse n.° 20 que por qualquer razão tinha tão má reputação no bairro, que ele viu o que viu. As casas são suficientemente velhas, nesse bairro, para se tornarem sórdidas e tristes, mas dai a serem estranhas... Pelo que pude saber, são todas alugadas por apartamentos, com ou sem mobília; cada porta tem três campainhas, salvo raras excepções. Alguns rés-do-chão foram transformados em lojas − uma rua triste, sob todos os aspectos.
«Tendo sabido que o n.° 20 estava para alugar, dirigi-me ao agente e pedi-lhe a chave. Como é natural, nem me teriam falado dos Herbert; mas eu perguntei descaradamente ao homem há quanto tempo tinham eles deixado a casa e se, entretanto, já tinha havido mais algum locatário. Ele olhou para mim de uma forma esquisita, acabando por me dizer que os Herbert tinham partido a seguir ao que ele chamou os «problemas» e que, desde então, a casa tinha estado devoluta.»
Villiers calou-se uns instantes, e continuou:
«Sempre fui maluquinho por casas vazias. Há como que um fascínio na tristeza dos quartos abandonados, nos pregos das paredes, na poeira à volta dos vidros. Mas o n.º 20 de Paul Street não me agradou nada. Ainda não tinha posto o pé no corredor quando senti uma impressão singular e pesada, causada pela atmosfera. É verdade que todas as casas vazias cheiram a mofo, ou a qualquer coisa do gênero; mas neste caso era qualquer coisa de diferente que eu não sei descrever, parecia que tinha a respiração paralisada. Percorri as divisões da frente e das traseiras. Na cave tudo estava sujo e poeirento, também, e sentia-se qualquer coisa que não sei como definir. Havia, sobretudo, uma sala do primeiro andar, que era a pior, uma divisão espaçosa que, em tempos, deve ter sido muito alegre − mas quando lá estive, tudo, pintura, papel, era tão lúgubre. E a sala estava repleta de horror; mal toquei na maçaneta para a abrir, senti logo os dentes a bater − e, assim que entrei, estive a pontos de desmaiar. Consegui dominar-me, no entanto, e, encostado à parede, perguntei a mim próprio o que poderia estar ali, que me fazia bater o coração e tremer as pernas como um homem que vai morrer. Atirado para um canto estava um monte de jornais em desordem, aos quais dei uma vista de olhos; eram jornais velhos, com três ou quatro anos, alguns meio esfarrapados, outros amachucados, como se tivessem servido para embrulhar alguma coisa. Revolvi os jornais e, debaixo de tudo aquilo, fui encontrar um curioso desenho − vou mostrar-lho um desenho cuja visão bastante me impressionou. Não agüentei mais aquilo, e fiquei satisfeito por conseguir chegar são e salvo cá fora. Na rua, as pessoas olhavam para mim, e houve uma que disse que eu devia estar bêbado. Com efeito, andava de um lado para o outro da calçada, aos zigue-zagues. Tudo o que consegui fazer foi entregar a chave ao agente e voltar para casa, onde fiquei de cama oito dias, com aquilo que o médico classificou de «abalo nervoso e embaraço». Aconteceu então que, uma vez, ao ler um jornal da tarde, reparei num pequeno titulo, que dizia: «Morto de Fome». A noticia contava a história habitual: o lodging-house em Marylebone, a porta fechada a sete chaves e, por fim, arrombada, um homem morto numa cadeira.
«O defunto, dizia a noticia, era conhecido pelo nome de Charles Herbert e crê-se que foi, em tempos, um rico gentleman da província. O seu nome foi mesmo famoso há cerca de três anos, quando da morte misteriosa de Paul Street, Tottenham Court Road. Charles Herbert era, com efeito, nessa altura, o locatário do n.° 20, e foi no seu pátio que foi encontrado morto um cavalheiro muito rico, em circunstâncias que não deixavam margem para dúvidas.»
«Um fim trágico, não é verdade? Mas apesar de tudo, se o que ele me disse é verdadeiro, e tenho a certeza disso, toda a sua vida foi uma tragédia, mais emocionante que as que se representam sobre os palcos.
− E eis a história, não é verdade?, perguntou Clarke com um ar sonhador.
− Eis a história.
− Pois bem, Villiers, na verdade não sei muito bem o que lhe diga. Há, sem dúvida, pontos que parecem singulares, a descoberta do cadáver no quintal de Herbert, por exemplo, e a opinião espantosa do médico sobre as causas dessa morte. Por outro lado, tem que concordar que os factos também são explicáveis naturalmente. Quanto às suas sensações ao visitar a casa, posso assegurar-lhe que se devem a uma imaginação muito viva − você devia estar, inconscientemente, a matutar no que lhe tinham dito. Não vejo muito bem que se possam fazer afirmações peremptórias com base em tudo isso. Supõe que nisso tudo há um mistério; mas Herbert está morto − em que direcção se propõe dirigir o seu inquérito?
− Proponho-me procurar a mulher que se casou com ele. Ela é o mistério.»
Os dois homens ficaram sentados silenciosamente à frente do lume − Clarke felicitando-se por ter sido o advogado do bom senso, e Villiers mergulhado nas suas tenebrosas fantasias.
«− E se eu fumasse um cigarro?, disse Charles, levando a mão ao bolso, à procura da cigarreira.
− Ah!, exclamou Villiers com um sobressalto, já me esquecia que tinha qualquer coisa para lhe mostrar. Lembra-se do desenho que lhe disse ter encontrado no meio dos jornais, na casa de Paul Street? Está aqui!»
Villiers tirou do bolso um pacotinho fino, coberto de papel castanho e atado com um cordel de nós complicados. Mau-grado seu, Clarke começava a sentir-se curioso, e debruçou-se para a frente, enquanto Villiers desfazia os nós com dificuldade, desdobrando em seguida o primeiro envelope. Havia um segundo, em pano, que Villiers abriu, depois do que estendeu a Clarke um pequeno papel.
Fez-se um silêncio de morte na sala, durante mais de cinco minutos; os dois homens ficaram tão calados que se ouvia o tic-tac do velho relógio da sala ao lado, e, no pensamento de um deles, esse rui do baixo e monótono despertou uma longínqua recordação, enquanto ia olhando com atenção para a pequena cabeça desenhada à pena que Villiers lhe tinha dado. Era a obra de um artista, executada com esmero; a alma da mulher parecia fixar-nos através dos olhos, os lábios divididos por um estranho sorriso. Clarke olhava para aquele rosto e, do indistinto passado, uma longínqua tarde de Verão lhe veio à memória. Tornou a ver aquele comprido e simpático vale, o rio correndo sinuoso por entre as colinas, os prados e os campos de trigo, o brilho sombrio do sol, o nevoeiro branco e frio que. se elevava da água. Uma voz dizia-lhe, através do fluxo de uma multidão de anos: «Clarke, Mary vai ver o Grande Pan! », e eis que se encontrava ao lado do doutor, escutando o pesado tic-tac do relógio, olhando a forma estendida sobre o sofá verde, à luz da lâmpada. De novo, Mary levantava-se, e ao olhar-lhe para os olhos sentiu que o coração lhe arrefecia:
«− Quem é esta mulher?, perguntou por fim, com a voz seca e rouca.
− A mulher que se casou com Herbert.»
Clarke olhou mais uma vez para o desenho. Bem vistas as coisas, nem se tratava de Mary, se bem que o rosto fosse o seu. Mas havia mais qualquer coisa, qualquer coisa que ele não descobrira nos seus olhos quando, vestida de branco, tinha entrado no laboratório, nem no seu terrível despertar, quando a vira na cama, fazendo caretas. Qualquer coisa, talvez o brilho daqueles olhos, o sorriso daqueles lábios cheios, a expressão de todo o rosto. Clarke sentiu um arrepio na alma, e pensou nas terríveis palavras do doutor Philips: «A mais viva personificação do mal que jamais vi.» Virou maquinalmente o papel e olhou o reverso:
«− Meu Deus, Clarke, passa-se alguma coisa? Está pálido como a morte.»
E, enquanto Villiers se levantava bruscamente da cadeira, Clarke afundou-se no sofá com um gemido, deixando o papel escapar-se-Ihe das mãos.
«− Não me sinto muito bem, Villiers; sou um bocado atreito a estas crises. Dê-me um pouco de vinho. Obrigado, deve chegar. Ficarei bom em poucos minutos. »
Villiers apanhou o papel e virou-o, como vira Clarke fazer:
«− Ah!, você viu isto, disse. Foi o que me permitiu identificar a mulher de Herbert, ou melhor, a sua viúva. Sente-se melhor, agora?
− Sinto, obrigado, foi só uma fraqueza passageira. Não sei se estou a compreender bem o seu pensamento. O que é que lhe permitiu identificar o retrato?
− Este nome − Helen − escrito nas costas. Não lhe disse já que o nome dela era Helen? Sim, Helen Vaughan.»
Clarke gemeu. Não tinha sombra de dúvida, agora.
«− Diga-me agora se não está de acordo comigo, disse Villiers, se esta história que lhe contei e o papel desta mulher não têm aspectos curiosos!
− Sim, Villiers, murmurou Clarke, é uma estranha história, de facto, muito estranha. Dê-me algum tempo para reflectir. Talvez o possa ajudar, não sei. Vai retirar-se? Então boa noite, Villiers, passe bem. Volte daqui a uma semana.»
V
O Aviso
«− Sabe uma coisa, Austin, disse Villiers enquanto passeava com o seu amigo por PiccadilIy, uma bela manhã de Maio, na minha opinião a sua história a respeito de Paul Street e dos Herbert não é mais que um simples episódio de uma história mais longa. Posso confessar-lhe até que, quando há meses o interroguei a respeito de Herbert, tinha-o encontrado.
− Tinha-o visto? Onde?
− Estava a pedir esmola na rua, perto de mim, uma noite, num estado lastimoso, mas eu reconheci-o e fi-lo contar-me a sua história, ou melhor, esboçá-la. Ei-la: numa palavra, a mulher tinha-o arruinado.
− De que forma?
− Não me quis dizer, disse-me só que a mulher lhe tinha destruído o corpo e a alma. Morreu, agora.
− E que aconteceu à mulher?
− Isso era o que eu gostaria de saber, e estou à espera de a encontrar, mais cedo ou mais tarde. Conheço um tipo chamado Clarke, um homem árido, para falar verdade um homem de negócios, mas bastante esperto.
Percebe o que quero dizer com «esperto», não é no sentido de «negócios», mas um homem com um conhecimento real dos homens e da vida. Expus-lhe o caso e ele ficou bastante perturbado. Disse-me que isso merecia um pouco de reflexão, e pediu-me para passar por lá uma semana depois. Dias depois, recebi dele esta carta extraordinária.»
Austin aceitou o envelope, desdobrou a carta e leu com avidez o que se segue:
«Meu caro Villiers, pensei muito sobre o assunto de que me falou outro dia. e a minha opinião é esta: deite o retrato ao fogo; esqueça toda esta história; não pense mais nela. Villiers, ou arrepender-se-á. Você vai pensar, com certeza, que estou na posse de alguma informação secreta, o que. até certo ponto. é verdadeiro. Mas o que sei é bem pouco; sou uma espécie de viajante que olhou para o fundo de um abismo e recuou aterrorizado. O que sei é bastante estranho e horrível; mas, para além daquilo que possa saber. existem profundezas e abismos mais horríveis ainda. mais assustadores que todos os contos de Inverno narrados à lareira. Tomei a decisão, que ninguém conseguirá abalar, de não querer saber de mais nada de tudo isto; quanto a você. se preza a sua felicidade. fará o mesmo.
Em todo o caso. venha ver-me. mas falaremos de assuntos mais alegres.
Austin tornou a dobrar a carta. Lentamente, e evolveu-a a Villiers.
− É. com efeito. uma carta extraordinária. disse. Que quer ele dizer com isso do retrato?
− Ah!. tinha-me esquecido de lhe dizer que estive em Paul Street. e que fiz uma descoberta.
Villiers contou a sua história, tal como a tinha narrado a Clarke, e Austin escutou em silêncio; parecia perturbado.
«− Curiosa, essa sensação desagradável que sentiu no quarto, disse Por fim. Acho estranho que não passasse de imaginação. Um sentimento de repulsa, diz você?
− Sim, e mais físico que moral. Era como se, a cada respiração. inalasse qualquer vapor mortal que penetrasse todo o meu corpo, nervos, ossos e músculos. Era um sofrimento que me tolhia da cabeça aos pés. Os olhos enevoavam-se-me. Parecia que morria.
− Sim, sim, na verdade é estranho. Está a ver, o seu amigo confessa que existem coisas muito sombrias no passado dessa mulher. Apercebeu-se de qualquer emoção da parte dele, quando lhe Contou a história?
− Sim. Ficou muito mal disposto e disse depois que era um ataque passageiro a que estava habituado.
− E acreditou nele?
− Na altura, sim, mas já não o creio. Escutou tudo o que lhe disse com bastante indiferença, até ao momento em que lhe mostrei o retrato. Foi nesse momento que se sentiu mal disposto. Parecia um espectro, lá isso é verdade.
− Isso é porque já conhecia a mulher de algum lado. Ou então era o nome que lhe era familiar, e não propriamente o rosto, também é uma hipótese. Que é que acha?
− Não sei o que diga. O que me pareceu é que foi depois de virar o retrato que ficou a pontos de cair da cadeira. Sabe que era nas costas do retrato que estava escrito o nome.
− Justamente. Afinal de contas, o que é difícil é concluir seja o que for num caso como este. Detesto melodramas, e não há nada mais banal que espectros de feira, nem mais maçador. Mas, para falar verdade, Villiers, parece-me que, no fundo de tudo isto, há mais qualquer coisa.»
Sem se darem conta, os dois homens tinham metido por Ashley Street, no cimo de Picadilly; uma rua longa e triste. No entanto, aqui e ali, um bom-gosto mais feliz decorara qualquer sombria habitação com belas flores e coloridos cortinados, ou lavara qualquer porta com uma fresca pintura. Villiers ergueu a cabeça; Austin, sempre a falar, parara e olhara para uma dessas fachadas; de cada janela pendiam gerânios brancos e vermelhos, emoldurados por cortinas cor de narciso.
«− Um ar alegre, não é verdade? − disse.
− Sim, e o interior ainda é mais alegre. Ao que parece, é uma das casas mais alegres da season. Nunca lá estive, mas vários amigos meus me informaram que é bastante agradável.
− Quem é que lá mora?
− A sr. a Beaumont.
− Quem é?
− Não lhe sei dizer. Disseram-me que tinha vindo da América do Sul − e o facto é que também não importa muito saber quem seja. É uma mulher muito rica, disso não restam dúvidas; e já foi adoptada por muitas pessoas, das mais altamente colocadas. Disseram-me que tem um bordeaux de primeira qualidade, um vinho maravilhoso que deve ter custado uma fortuna fabulosa. Lord Argentine, que lá esteve no domingo, falou-me nele. Diz que nunca tinha provado uma coisa tão boa, e você bem sabe que Argentine é um perito. E agora que estamos a falar disso, essa senhora Beaumont deve ser uma mulher bem singular. Argentine perguntou-lhe a idade do vinho, e que pensa você que ela respondeu?
− Cerca de mil anos, presumo!»
Lord Argentine pensou que ela estava a brincar e desatou a rir. Mas ela garantiu-lhe que estava a falar Verdade, e dispôs-se a mostrar-lhe o tonel. Como é óbvio, ele não insistiu; mas parece-me um pouco difícil de engolir, não acha? Bem, chegamos. Não quer entrar?
− Seja. Há tanto tempo que não lhe vejo a loja das antiguidades.»
Era um apartamento rico mas bizarramente mobilado, em que tudo, cadeiras, bibliotecas, mesas, tapetes, vasos e ornamentos, parecia ter um lugar à parte, uma individualidade.
«− Não comprou nada de novo, ultimamente? − perguntou Villiers, passado um bocado.
− Não, acho que não. Já tinha visto estes Potezinhos de Porcelana, não tinha? Bem me parecia. Não, penso que não adquiri mais nada, nos últimos tempos.»
Austin passeava os olhos pela sala, de nicho em nicho e de prateleira em prateleira procurando Qualquer esquisitice. Por fim, pousou os olhos num velho baú, elegantemente esculpido, Que estava num canto Sombrio.
«− Ah! − disse −, já me esquecia. Tenho uma coisa para lhe mostrar.»
Abriu a arca, da Qual retirou um espesso in-quarto que pousou sobre uma mesa, e voltou a pegar no charuto.
«− Conheceu Arthur Meyrick, o pintor?
− Mal. Encontrei-o uma ou duas vezes, em casa de amigos meus. Que é feito dele? Já há muito tempo que não sei nada a seu respeito.
− Morreu.
− Morreu? Mas era um homem novo!
− Sim, tinha trinta anos.
− E de que morreu?
− Não faço idéia. Era um bom amigo, e muito boa pessoa. Vinha cá a casa muitas vezes, e conversávamos durante horas − era um dos melhores conversadores que me foi dado conhecer. Até percebia de pintura, coisa que não se pode dizer de muitos dos seus colegas. Há cerca de ano e meio teve uma espécie de esgotamento. Um pouco por meu conselho, partiu para uma viagem aos ziguezagues, sem termo nem objectivo. Estou convencido que a sua primeira escala era New - York, mas nunca mais ouvi falar dele − só há coisa de três meses é que recebi este livro, com uma carta muito simpática de um médico inglês que tem consultório em Buenos Aires. Dizia-me que tinha tratado o falecido sr. Meyrick durante o tempo em que tinha estado doente, e que ele tinha expressado o profundo desejo de que um certo embrulho me fosse enviado depois da sua morte. E era tudo.
− E você não lhe escreveu, para saber mais pormenores?
− Por acaso pensei nisso. Aconselha-me a escrever a esse médico?
− Mas com certeza. E o livro?
− Estava lacrado, quando o recebi. Penso que o doutor não o tenha visto.
− Trata-se de alguma coisa rara? Se calhar, Meyrick também era coleccionador.
− Não, não me parece que o fosse.. A propósito, que lhe parecem estes potes?
− São na verdade singulares, e gosto deles. Não me diga que não me vai mostrar o legado do pobre Meyrick.
− Claro que vou, ora essa. O facto é que se trata de algo de bastante peculiar, e ainda não o mostrei a ninguém. No seu lugar, não falaria dele. Aqui está.»
Villiers pegou no volume, e abriu-o ao acaso:
«− Mas não é um livro impresso.− disse.
− Não, trata-se de uma colecção de desenhos a preto e branco, da autoria do pobre Meyrick.»
Villiers procurou a primeira página. Estava em branco. A segunda exibia uma breve inscrição:
Silet per diem universus, nec sine horrore secretus est; lucet nocturnis ignibus, chorus Ægipanum undique personatur; audiuntur et cantus tibiarum, et tinnitus cymbalorum per oram maritiman.
(Estes lugares, que um horror secreto habita, permanecem mudos durante o dia; mas de noite, brilha de mil fogos, e em toda a parte se reúne o coro dos Ægipantes; então, à beira mar, ouve-se o som das flautas e o estrondo dos címbalos.)
Na terceira página havia um desenho, cuja visão fez Villiers dar um salto na cadeira; Austin olhava distraidamente pela janela. Villiers começou a virar página após página, completamente absorvido pela aterrorizante Walpurgisnacht do mal, o mal estranho e monstruoso saído do lápis do artista defunto. Figuras de Faunos, Sátiros e Ægipantes, animavam-se sob os seus olhos: a escuridão do bosque, a dança no cimo das montanhas, cenas de areais solitários, de verdes vinhas, no meios dos rochedos e dos desertos, tudo isso ele via − um mundo que fazia recuar a alma humana. Villiers somente folheou as últimas páginas − já tinha visto que chegasse. Mas a última figura saltou-lhe aos olhos, no momento em que ia fechar o livro.
«− Austin?
− Diga?
− Sabe quem é?»
Era um retrato de mulher, só sobre a página branca.
«− Se sei quem é? Não faço idéia.
− Mas sei eu!
− E quem é?
− A sr.a Herbert.
− Tem a certeza?
− Absoluta. Pobre Meyrick! É mais um capítulo a acrescentar a esta história.
− Mas os desenhos? Que pensa deles?
− São assustadores. Feche esse livro à chave, Austin, pelo amor de Deus. Se eu fosse a si, queimava-o. Deve ser uma companhia horrível, mesmo fechado num cofre.
− Sim, são imagens singulares. Mas pergunto a mim próprio que espécie de laços poderiam ligar Meyrick à senhora Herbert, e que relação existe entre ela e as páginas deste livro.
− Ah!, quem poderá dizê-lo? É bem possível que a história acabe aqui, ou que nunca venhamos a saber o desfecho. Mas eu sou da opinião de que essa Helen Vaughan, ou Senhora Herbert, mais não fez que começar. Voltará a Londres, disso pode ter a certeza, voltará a Londres. E ainda havemos de tornar a ouvir falar dela.
− Estou convencido de que não irão ser felizes novidades.»
VI
Os Suicidas
Lord Argentine era um dos favoritos da sociedade londrina. Fora, aos vinte anos, um pobre diabo com o fardo de um nome ilustre, e que tinha que ganhar a vida como pudesse. O mais arriscado dos agiotas não arriscaria cinqüenta libras, nessa altura, nas suas hipóteses de conseguir trocar o nome por um título, ou a miséria por uma fortuna. Seu pai tinha, em tempos, estado suficientemente perto da fortuna para conseguir assegurar um beneficio familiar. O filho, esse, mesmo que alguma vez seguisse a carreira eclesiástica, dificilmente poderia vir a obter semelhantes vantagens; além de que não sentia o mínimo ardor por tal carreira. Foi por esse motivo que se decidiu a enfrentar o mundo, tendo por únicas armas a aplicação de um fidalgo e a ambição de um cadete. Com semelhante harnês, conseguiu agüentar um desigual combate, até ao dia em que a sorte lhe sorriu.
Aos vinte e cinco anos, Mr. Charles Aubernon continuava a combater pelo mundo. Só que, das sete pessoas que em tempos o separavam das dignidades familiares, restavam somente três. Três sólidas existências, se bem que sujeitas às contingências das zagaias zulus ou da febre tifóide, e foi assim que, um dia, Lord Argentine ressuscitou na pele de um homem de trinta anos que tinha sabido enfrentar as dificuldades da vida e domesticá-las. Tudo isso o divertiu imensamente, pelo que decidiu que a riqueza teria que ser tão divertida quanto a pobreza o fora, em tempos.
O recém-Argentine meditou, e chegou à conclusão de que a boa mesa, como uma das belas-artes que é, constituía uma das mais atraentes pesquisas que se poderiam oferecer a esta humanidade caída. Foi assim que os seus jantares imediatamente se tornaram famosos em toda a Londres, e um seu convite qualquer coisa de ardentemente cobiçado. Após dez anos de fidalguia e boa-vida, Argentine continuava a desafiar a fadiga e a gozar a existência. E tinha até conseguido, por uma espécie de contágio, ser considerado como uma fonte de alegria para os que o acompanhavam, numa palavra, uma desejável companhia. Por tudo isto, causou uma enorme impressão a sua morte, súbita e trágica. Ninguém queria acreditar, se bem que os jornais fossem bem claros, e os gritos de «A Morte Misteriosa de um Lord» se ouvissem pelas ruas. E havia a breve notícia:
«Lord Argentine foi, esta manhã, encontrado morto pelo seu camareiro, em circunstâncias entristecedoras. Não restam dúvidas de que Sua Senhoria se suicidou, se bem que não se encontrem razões que expliquem tal acto. O falecido fidalgo era muito conhecido na sociedade, e muito prezado pela sua boa-disposição e sumptuosa hospitalidade. Como sucessor foi designado...,»etc.
Pouco a pouco souberam-se os pormenores, mas o acontecimento não perdeu o seu mistério. A principal testemunha do inquérito, o camareiro do defunto, contou que, na noite que precedera a sua morte, Lorde Argentine jantara em casa de uma dama de sociedade, cujo nome as gazetas não revelaram. Lord Argentine regressara a casa cerca das onze horas, e informara o criado de que não precisaria dos seus serviços até à manhã Seguinte. Um pouco mais tarde, tendo o criado tido a ocasião de atravessar o hall, ficou um pouco espantado por reparar que o patrão se retirava discretamente pela porta principal. Tinha retirado o seu traje de noite, vestindo agora um casaco Norfolk, knickerbokers e um pequeno chapéu castanho. O criado pensa que o patrão não o deve ter visto, e não se preocupou mais com o assunto, se bem que o lorde não tivesse o hábito de se deitar e tornar a levantar-se. Até que, na manhã seguinte, tendo batido duas ou três vezes à porta do quarto, entrou, para ir dar com o corpo de Lord Argentine tombado para a frente num certo ângulo com a cama. Reparou então que o patrão atara uma corda a um dos pés da cama e, depois de fazer um nó corredio, atirara-se para a frente com violência, morrendo de estrangulamento. Trazia vestido o mesmo fato com que o criado o vira sair na noite precedente, e o médico declarara que a morte se tinha dado pelo menos quatro horas antes. Todos os seus papéis, cartas, etc., pareciam em ordem, e nada se descobriu que deixasse entrever, mesmo indirectamente, qualquer escândalo, grande ou pequeno. As informações ficavam-se por aqui, e mais nada era possível saber. Várias pessoas tinham estado no jantar com Lord Argentine, e todos concordaram que ele parecia de excelente humor. O mordomo dissera, na verdade, que ele parecia um pouco mais excitado que habitualmente, ao regressar, mas reconhecera que essa alteração era mínima, quase irrisória. Era impossível desembaraçar a meada, e todos aceitaram a sujes tão de que Lord Argentine tinha sido vitimado por uma mania do suicídio.
Tudo mudou quando, no intervalo de duas semanas, três outros gentleman, um lorde e dois fidalgos de sociedade e fortuna, pereceram miseravelmente e quase do mesmo modo.
Lord Swanleigh foi enforcado, uma bela manhã, na casa de banho, enforcado num prego preso à parede, ao passo que os Srs. Collier-Stuart e Herries tinham optado pelo processo de Lord Argentine. Nenhum dos casos foi devidamente explicado. A verdade dos factos: à noite, um homem vivo, de manhã, um cadáver de cara roxa. A polícia vira-se obrigada a confessar-se impotente, tanto para explicar como para prevenir os sórdidos crimes de Whitechapel; mas, perante os suicídios horríveis de Piccadilly e Mayfair, ficou positivamente confundida − a simples ferocidade, que poderia explicar os crimes de East-End, não tinha qualquer cabimento nos de West-End. Todos esses homens que se tinham decidido a morrer na vergonha e na dor eram ricos e prósperos, e a vida corria-lhes, aparentemente, pelo melhor. As mais rebuscadas investigações não chegavam para descobrir qualquer motivo plausível para esses suicídios. O horror andava no ar, e as pessoas não ousavam olhar umas para as outras, com medo de que uma futura e quinta vítima pudesse ser qualquer delas, nessa tragédia sem nome. Os jornalistas procuravam, em vão nas suas notas, uma ou outra reminiscência com que pudessem alinhavar um artigo, e em muitas casas era com um sentimento de angústia que as pessoas abriam o jornal, todas as manhãs. Ninguém sabia onde e a quem fulminaria o próximo golpe.
Pouco depois do último suicídio, Austin visitou Villiers, no intuito de saber se este último tinha encontrado traços da sr.a Herbert, por intermédio de Clarke ou de outra pessoa qualquer; e perguntou-lho mal se sentou.
«− Não − disse Villiers −, escrevi a Clarke mas ele continua inflexível, e segui outras pistas, mas sem resultado. Não consigo apurar o que é feito de Helen Vaughan desde que saiu de Paul Street. Penso que deve ter fugido. Para falar verdade, Austin, não tenho dado muita atenção ao assunto, nos últimos tempos. Conhecia o pobre Herbert intimamente, e a sua horrível morte abalou-me muito, mesmo muito.
− Não me custa a crer − respondeu Austin gravemente; sabe que Argentine também era muito meu amigo. Se não me engano, falamos dele da última vez que foi a minha casa.
− Sim, a propósito dessa casa de Ashley Street, a da sr.a Beaumont. Disse-me que Argentine lá tinha jantado.
− Com efeito. Sabia que Argentine também lá jantou naquela noite... antes de morrer?
− Não, não sabia.
− Mas é verdade. O nome foi conservado em segredo pelos jornais, por consideração para com a sr.a Beaumont. Argentine era, na verdade, um dos seus favoritos, e parece que o que aconteceu a pôs num estado lastimoso.»
A expressão de Villiers tornou-se singular. Parecia hesitar sobre o que havia de dizer, quando Austin prosseguiu:
«−Nunca tive uma sensação tão grande de horror como quando li sobre a morte de Argentine. Não a consegui explicar nessa altura − e agora também não, aliás. Conhecia-o bastante bem, e só me custa a compreender qual terá sido a causa possível (e isto também se aplica aos outros), capaz de o levar a morrer daquela maneira, a sangue frio. Sabe bem como, em Londres, com os seus falatórios, as pessoas se criticam umas às outras! Num caso desses, pode ter a certeza de que se conseguiria clarificar um escândalo ou uma morte; mas nada disto se passou. Ora a teoria da mania dos suicídios pode estar muito bem para o coroner, o que não impede que toda a gente a considere um absurdo: que diabo, o suicídio não é a varíola.»
Austin calou-se. Villiers também não dizia nada, limitando-se a olhar para o amigo, e sobre o seu rosto era legível a indecisão, como se se ocupasse a pesar os seus pensamentos numa balança, mas as considerações que se entrechocavam na sua cabeça deixaram-no silencioso. Austin fez o possível por afastar essas tragédias, confusas como o labirinto de Dédalo e, para mudar de assunto, começou a contar com uma voz neutra os últimos acidentes e as aventuras mais divertidas da season.
«− Essa sr.a Beaumont − disse − de que estávamos a falar, tem tido um grande sucesso. Tem toda a Londres a seus pés. Encontrei-a outro dia em casa de Fulham; na verdade é uma criatura notável.
− Esteve com a sr.a Beaumont?
− Estive; tem uma autêntica corte à volta dela, e suponho que deverá ser uma mulher muito atraente se não houvesse, na sua fisionomia, qualquer coisa de que não gosto. As feições são finas, mas a expressão não diz com elas. E durante todo o tempo que estive a olhar para ela, e mesmo depois, em minha casa, tive a sensação de que era isso mesmo que me era familiar, não percebo muito bem como.
− Talvez já a tivesse visto na rua.
− Não, estou certo de que nunca a tinha visto; é o que me embaraça. Parece-me, até, que nunca vi ninguém parecido com ela, e o que senti foi como que uma recordação obscura e longínqua, mas persistente. A única coisa que se pode comparar a isto é aquela impressão que se tem, por vezes, em sonhos, quando as cidades, paisagens e fantasmas nos parecem familiares, de repente.»
Villiers assentiu, e pôs-se a olhar para vários pontos da sala, sem objectivo que não fosse o de descobrir um pretexto para desviar a conversa. Os seus olhos pousaram, por fim, sobre um velho baú, parecido com aquele onde estava guardado o legado do pintor, como que adormecido por detrás de um brasão gótico.
«− Escreveu ao tal médico, a respeito do pobre Meyrick? − perguntou.
− Sim, escrevi, e pedi-lhe detalhes mais circunstanciados sobre a sua doença e morte. Não deve chegar resposta antes de três semanas a um mês. Pensei que também faria bem em me informar se Meyrick conhecia uma inglesa de nome Herbert e, no caso afirmativo, que é que me poderia dizer a esse respeito. Mas é muito possível que Meyrick a tenha conhecido em Nova Yorque, ou no México, ou em S. Francisco. Não faço a mínima idéia da extensão ou do percurso da sua viagem.
− Claro; e é bem possível que a mulher tenha usado mais que um nome.
− Justamente. Lamento não lhe ter pedido emprestado o retrato dela, aquele que você possui. Poderia tê-lo junto à carta que mandei ao doutor Mathews.
− Também não me ocorreu. Mas também é verdade que ainda estamos a tempo − mas escute: que é que estão a gritar esses vendedores?»
Enquanto os dois homens falavam formara-se um ruído confuso que, pouco a pouco, se foi tornando mais audível. Vindo de leste, penetrou por Piccadilly, e foi-se aproximando, como uma corrente de sons, percorrendo as ruas antes silenciosas, e fazendo assomar a cada janela uma curiosa fisionomia. Os chamamentos e as vozes ecoaram por fim na casa de Villiers, mais distintos à maneira que se iam aproximando e, à pergunta de Villiers, a resposta fez-se ouvir:
«Os Horrores de West-End. Mais um Suicídio. Todos os Pormenores.»
Austin precipitou-se escada abaixo, comprou o jornal e leu o artigo a ViIliers, enquanto, na rua, os clamores iam subindo e baixando; a janela estava aberta, e o ar parecia carregado de gritos de pavor:
«Mais um gentleman vitimado pela terrível epidemia de suicídios que, desde o passado mês, se declarou no West-End. O sr. Sidney Crashaw, de Stoke-House (Fulham) e King's Pomeroy (Devon), foi encontrado, após prolongadas buscas, hoje, cerca da uma hora, enforcado numa árvore do seu jardim. O falecido tinha jantado ontem no Carlton Club, e parecia de saúde e humor habituais. Deixou o clube cerca das dez horas e foi visto, pouco depois, passeando tranqüilamente por St. James Street. A partir desse momento desconhece-se em que passou o tempo. Assim que se encontrou o corpo este foi examinado por um médico, mas a vida já o tinha abandonado.
Mr. Crashaw não tinha doenças ou problemas de qualquer espécie, segundo o que apuramos. Este doloroso suicídio, todos estão lembrados, é o quinto no espaço de um mês. As autoridades da Scotland Yard são incapazes de fornecer a mínima explicação quanto às causas destes terríveis acontecimentos.»
Austin deixou cair o jornal.
− Deixo Londres amanhã − disse. É uma cidade de pesadelo. Tudo isto é terrível, Villiers.
Este último sentara-se junto à janela, e olhava em silêncio para a rua. Tinha escutado com atenção a leitura da notícia, e todos os traços de indecisão tinham abandonado o seu rosto.
«− Espere um pouco, Austin − respondeu −, vou-lhe participar um pequeno acontecimento que se deu esta noite. Ficou apurado que Crashaw foi visto vivo pela última vez, creio eu, em St. James Street, pouco depois das dez horas, não é verdade?
− Penso que sim. Vou confirmar. Sim, é isso.
− Muito bem. Ora eu estou em posição de criticar essa afirmação. Crashaw foi visto depois dessa hora, muito depois.
− Como sabe?
− Porque eu próprio o vi, e eram cerca de duas horas da manhã.
− Você viu Crashaw, Villiers?
− Sim, e distintamente. Para falar verdade, só meia dúzia de passos nos separavam.
− E onde o viu você, pelo amor de Deus?
− Perto daqui. Em Ashley Street. Estava precisamente a sair de uma casa.
− E reparou que casa era?
− Reparei. Era a da sr.a Beaumont.
− Villiers, pense bem no que me está a dizer. Deve haver engano. Como é que Crashaw podia estar em casa da sr.a Beaumont às duas da manhã? Você sonhou, com certeza, Villiers − você sempre foi meio esquisito!
− Não sonhei, não. Mesmo que, como você diz, estivesse a sonhar, aquilo que vi acordava-me com certeza.
− E o que é que viu? Que é que viu, diga-me? Havia alguma coisa errada com Crashaw? Não posso acreditar, é impossível.
− Muito bem, se quiser digo-lhe o que vi; ou, se preferir, o que me parece ter visto. Assim, você tirará as suas conclusões.
− Está bem Villiers.»
O clamor da rua tinha cessado − só se ouvia, de vez em quando, o barulho de um chamamento, ao longe. O silêncio de chumbo lembrava a tranqüilidade que se segue às tempestades e tremores de terra. Villiers afastou-se da janela e começou a sua história:
«− Estava em casa de... perto de Regent's Park, a noite passada, e; quando sai, tive a fantasia de vir a pé, em vez de apanhar um hansom. A noite estava clara e agradável, e, passados alguns minutos, eu era a única pessoa que passeava pela rua.(³) É uma sensação curiosa, Austin, estar sozinho à noite, em Londres, vendo a luz dos bicos de gás, o silêncio sepulcral, interrompido de vez em quando pelo ruído de um fiacre e pela faísca das ferraduras dos cavalos. Eu andava depressa, um pouco cansado já; quando os relógios davam as duas horas estava eu a meter por Ashley Street − como sabe, é o meu percurso habitual. Aí, a tranqüilidade era ainda maior, os raros candeeiros mal iluminavam a rua, que estava triste e sombria como uma floresta no inverno. Tinha cerca de meio caminho andado quando ouvi uma porta abrir, suavemente, e como é natural olhei, a ver quem poderia, como eu, estar ainda fora de casa a essa hora. Havia, por acaso, um candeeiro junto à casa em questão, o que me permitiu ver um homem à porta. Tinha acabado de a fechar, a sua cara estava virada na minha direcção, e foi assim que reconheci Crashaw. Não o conhecia muito bem, nunca lhe tinha falado, mas vi-o muitas vezes, e tenho a certeza de que não me enganei, de que era ele. Olhei para ele um bocado e, em seguida, devo confessar que fugi para casa a correr.
− Porquê?
− Porquê? Porque fiquei com o sangue gelado, só de olhar para a cara dele. Nunca pensei que, num olhar humano pudesse luzir uma mistura tão infernal de paixões; e pensei que não estava onde devia estar. Tive a sensação de ter olhado uma alma perdida bem nos olhos, Austin. A forma humana permanecia, mas estava habitada pelo inferno; uma luxúria furiosa, um ódio mais ardente que o fogo, e uma angústia que parecia uivar, não obstante a boca estar fechada − as trevas do desespero. Tenho a certeza que não me viu; não via nada do que nós vemos, você e eu, via aquilo que nós, espero-o bem, nunca chegaremos a ver. Não sei quando morreu; uma hora ou duas depois, penso eu, mas pode crer que, quando o vi a fechar aquela porta de Ashley Street, aquele homem já não pertencia ao nosso planeta − a cara que contemplei foi a de um demônio.»
Houve um momento de silêncio no quarto, quando Villiers se calou. Entardecia, e todo o clamor da hora anterior se tinha dissipado. Austin deixara pender a cabeça, e cobria os olhos com a mão.
«− Que pode isso querer dizer? − disse por fim.
− Quem sabe Austin? É uma história que devemos guardar só para nós, pelo menos por enquanto. Vou tentar saber mais qualquer coisa a respeito dessa casa, particularmente. Se souber mais alguma coisa, dir-lhe-ei.»
(³) Parece-nos pouco lógico estabelecer uma relação causa-efeito entre a amenidade da noite e a ausência de pessoas nas ruas. O contrário é que seria de esperar. É, no entanto, o que está no original. Se se trata de erro de Machen, se excesso de liberdade de tradução de P. J. Toulet, não sabemos (N. do T.)
VII
Encontro em Soho
Três semanas depois, Austin recebeu uma nota de Villiers, pedindo-lhe que passasse em sua casa nessa mesma tarde, ou na seguinte. Optando por ir quanto antes, foi encontrar Villiers sentado, como de costume, junto da janela, parecendo perdido em meditações sobre o fraco comércio da rua. Perto dele estava uma pequena mesa dourada em bambu, e, sobre ela, uma pilha de papéis, tão bem arrumados e catalogados que mais pareciam papéis do sr. Clarke.
− Então, Villiers, alguma descoberta nestas três semanas?
− Penso que sim. Tenho aqui uma nota ou duas que me chamaram a atenção, e um relatório sobre o qual gostaria que me desse a sua opinião.
− E esses documentos têm alguma coisa a ver com a sr.a Beaumont? E foi mesmo Crashaw que você viu outro dia em Ashley Street?
− Quanto a isso não tenho a mais pequena dúvida, se bem que nem o meu inquérito nem as minhas descobertas tenham incidido especialmente sobre Crashaw.
Mas essas buscas tiveram um resultado: consegui determinar quem é a sr.a Beaumont.
− O que quer dizer com isso de saber quem é a sr.a Beaumont?
− Quero dizer que é uma pessoa que conhecemos melhor sob outra identidade.
− E que identidade?
− O apelido é Herbert.
− Herbert?! − repetiu Austin.
− Sim, a sr.a Herbert de Paul Street, a Helen Vaughan de outras aventuras que ainda desconheço. Teve razão quando reconheceu a sua fisionomia. Quando voltar para casa olhe bem para o retrato que Meyrick desenhou no seu livro de Horrores, e ficará a saber qual a origem da sua recordação.
− E tem a provas do que está a dizer?
− A melhor prova do mundo: vi a sr.a Beaumont... ou Herbert, se preferir.
− Onde?
− Não propriamente no lugar onde se procuraria uma dama de Ashley Street, Picaddilly; foi numa das ruas mais sórdidas e mal-afamadas de Soho, quando ela entrava numa casa. Na verdade, eu tinha um encontro nessa casa, se bem que não propriamente com ela. Foi pontual, no que diz respeito à hora e ao lugar.
− Tudo isso parece inacreditável. Não se esqueça, Villiers, que eu vi essa mulher no meio de uma quantidade de pessoas, falando e rindo e bebendo o seu cacau, num salão banal cheio de gente banal. Apesar de tudo, você sabe com certeza o que está a dizer.
− Decerto, e pode crer que não me deixei levar pela imaginação nem por fantasias, mesmo porque nem estava à espera de encontrar Helen Vaughan, limitava-me a procurar a sr.a Beaumont no meio das águas mais turvas de Londres. Mas foi o que me aconteceu.
− Deve ter ido a sítios bem esquisitos, Villiers.
− Sim, bastante estranhos. Sabe, teria sido inútil dirigir-me a Ashley Street para solicitar da sr.a Beaumont um pequeno resumo da sua existência anterior. Presumindo, como era óbvio, que os seus anais não eram os mais limpos, era quase certo que, em tempos, ela tivesse freqüentado lugares menos refinados que os que freqüenta hoje. Quando você encontra lodo à superfície da água, pode ter a certeza que ele vem do fundo. Sempre gostei de descer a Queen Street, dá-me um certo prazer; e, neste caso, o meu conhecimento dos seres e dos habitantes foi de grande utilidade. É inútil dizer-lhe que os meus amigos nunca tinham ouvido o nome de Beaumont e que, como não conhecia a senhora e não podia, portanto, descrevê-la, tive que trabalhar indirectamente. As pessoas desse bairro conhecem-se, tive a oportunidade, em tempos, de prestar uns pequenos serviços a algumas, o que as decidiu a comunicar-me, sem dificuldades, aquilo que iam sabendo, tanto mais que são pessoas que sabem que não tenho relações, directa ou indirectamente , com a Scotland Yard. O que não impede que tenha tido que lançar muitas linhas à água antes de apanhar o peixe que queria, e que, depois de o fazer, tenha pensado que não era o que procurava. Mas, na seqüência de um instintivo amor pelas informações inúteis, escutei o que me contavam, o que me veio enriquecer com outra história, aparentemente sem quaisquer relações com a minha, pensei eu. Vou contar-lha. Há coisa de cinco ou seis anos, uma mulher de nome Raymond apareceu, de repente, no bairro de que estou a falar. Dizem que era bastante jovem, nessa altura, cerca de dezesseis ou dezoito anos, muito bela, e que parecia vir da província. Mentiria se lhe dissesse que, nesse bairro e nas pessoas que o habitam, ela tenha ido encontrar o seu meio natural, pois, pelo que me contaram, o covil mais imundo de Londres é bom demais para ela. A pessoa que me forneceu esses detalhes, que não é muito puritana, como deve calcular, parecia pouco à vontade quando me contava tudo o que atribuíam a essa individua. Depois de viver cerca de um ano nesse bairro, desapareceu tão bruscamente como tinha chegado; e não se ouviu mais falar dela, a não ser quando do caso de Paul Street. A principio, só ocasionalmente revisitava os seus antigos domínios. Posteriormente, essas visitas tornaram-se mais freqüentes; acabou mesmo por voltar a instalar-se no quarteirão, e aí passou cinco ou seis meses seguidos. É inútil estar a entrar em pormenores no que diz respeito à sua maneira de viver − se o deseja fazer, olhe para o que lhe deixou Meyrick; esses desenhos não eram o produto da sua imaginação. Voltou a desaparecer, e nunca mais ninguém a viu até há uns meses. Recentemente, segundo o meu informador, alugara várias divisões de uma casa que este me indicou, onde ia duas ou três vezes por semana, sempre às dez horas da manhã. Deram-me a entender que ela deveria voltar lá num determinado dia da semana seguinte; por conseqüência, arranjei maneira de estar à sua espera, acompanhado do meu cicerone, às dez menos um quarto. Pontualmente, a dama chegou; estávamos escondidos no vão de porta, um pouco afastados da rua, mas ela viu-nos e olhou para mim de uma maneira que tão cedo não vou conseguir esquecer. Esse olhar foi o suficiente para que eu reconhecesse em miss Raymond a sr.a Herbert; quanto à sr.a Beaumont, tinha me esquecido inteiramente dela. Entretanto, a dama tinha entrado na toca; esperei que saísse até às quatro horas da tarde, e pus-me a segui-Ia. Foi uma longa caçada, e precisei de ter o cuidado de ficar sempre a uma boa distância sem, no entanto, a perder de vista. Seguia no Strand, até Westminster, por fim por St James Street e Piccadilly. Fiquei estupefacto quando a vi meter por Ashley Street, e foi quando tive o palpite de que a sr.a Herbert e a sr.a Beaumont eram uma e a mesma pessoa. Mas era uma idéia que ainda se me afigurava improvável. No entanto, pus-me à espreita, não a perdendo de vista e tentando ver em que casa entraria. E entrou na casa das cortinas alegres, na casa cheia de flores, na casa de que Crashaw saiu na noite em que se enforcou no jardim. Estava para me ir embora com as minhas informações, quando um Victoria sem capota passou, indo parar frente à porta da casa. Concluí, justamente, que a sr.a Herbert ia passear; tomei um hansom e segui-a até ao Park. Lá, encontrei uma pessoa conhecida, com quem comecei a conversar, não muito longe das carruagens que estavam atrás de mim. Estávamos naquilo havia cerca de dez minutos quando o meu amigo saudou alguém; virei-me, e reconheci a mulher que seguira todo o dia:
− Quem é? - perguntei e a resposta foi:
«− A sr. a Beaumont. Mora em Ashley Street.»
Não podia haver dúvidas. Não sei se ela me viu, mas não me parece. Voltei para casa e, pondo-me a reflectir, concluí que valia a pena expor o meu caso a Clarke.
− Porquê a Clarke?
− Porque tinha a certeza de que Clarke sabia, a respeito dessa mulher, coisas que eu desconhecia inteiramente.
− E então?
Villiers sentou-se e olhou fixamente para Austin, respondendo:
«− A minha idéia era ir com Clarke a casa da sr.a Beaumont.
− Você não vai àquela casa! Não, Villiers, não, você não pode fazer isso. Mais a mais, considere − que resultado...
− Vou dizer-lhe. Mas ia acrescentar que as minhas informações não ficam por aqui. Foram complementadas de uma forma inesperada. Olhe para este belo manuscrito; foi paginado, está a ver? E levei a galanteria ao ponto de o atar com uma fita vermelha. Parecem papéis de negócios, não parecem? Veja-os bem, Austin. Neles se encontra a descrição das distracções que a sr. a Beaumont oferecia aos seus hóspedes de eleição; o homem que escreveu isto conseguiu escapar vivo, mas não acredito que por muito tempo. Os médicos são da opinião de que ele deve ter tido um grande abalo.»
Austin pegou-no manuscrito, mas não o leu. Abrindo-o ao acaso, a sua vista caiu sobre uma palavra, o princípio de uma frase; e, com o coração aos saltos, os lábios brancos e a testa suada, atirou o papel ao chão.
− Tome lá, Villiers, e não me fale mais disto. Raios, homem, você é de pedra? Diabos, mesmo o medo e o horror da morte, ou os pensamentos de um homem que vai ser enforcado, no momento em que ouve as sinetas tocar e fica à espera do ruído do patíbulo, nada são comparados com isto. Não quero ler, nunca mais conseguiria dormir.
− Está bem, imagino o que leu, e sei quão horrível é. Mas, apesar de tudo, trata-se de uma velha história, de um mistério antigo recuperado nos nossos dias, com as ruas de Londres a substituir os antigos vinhedos e olivais. Sabemos o que acontecia a quem encontrasse o Deus Pan. Os sábios acham que todo o símbolo o é de uma realidade, e não do Nada. E era na verdade um símbolo bem refinado, esse, sob o qual os homens de antigamente velavam as forças secretas e terríveis que se escondem no coração de todas as coisas, perante as quais a alma humana se desvanece e morre, enegrecida, como o corpo ficaria se atacado por correntes eléctricas. Essas forças só se podem nomear e conceber por meio de um véu; um véu que, para a maioria, mais não é que uma fantasia de poetas, e para alguns uma história contada por idiotas e loucos. Mas nós, você e eu, conhecemos um pouco do terror que pode habitar os reinos secretos da vida, sob. a aparência da carne; vimos o que não tem forma assumir uma forma. Ah!, Austin, como é que isso é possível? Como é que o próprio Sol não se apaga perante essas coisas, e a Terra se não desmorona sob um tal fardo?
Villiers andava de um lado para o outro, a testa perlada pelo Suor. Austin mantinha-se calado, mas Villiers viu-o fazer um sinal:
«− Repito, Villiers, você não irá àquela casa. Nunca sairá de lá vivo!
− Sim, Austin, vou sair de lá vivo − eu e Clarke.
− Que quer dizer? Você não pode... não vai...
− Espere. Estava uma brisa fresca e. agradável esta manhã, mesmo naquela triste rua, e apeteceu-me dar um passeio. Picaddilly estava claro e brilhante, e o sol reflectia-se sobre os carros e sobre as folhas do Park. Era uma manhã feliz; homens e mulheres olhavam para o céu e sorriam de prazer, rendendo-se àquele espectáculo, e o vento soprava levemente, como sopra nas pradarias, por sobre o perfume das urzes. Não sei ainda como, dei por mim fora do tumulto e da alegria, subindo uma rua taciturna onde não dava o sol nem soprava a brisa, onde umas pessoas caminhavam sem pressa, outras demoravam-se encostadas às portas. Eu ia caminhando, sem saber porquê, mas com a sensação de a isso ser obrigado, de avançar para um fim desconhecido. Ia dando atenção ao pequeno comércio das leitarias, espantado com a mistura incongruente de cachimbos baratos, de tabaco negro, bombons, jornais, canções cómicas, atabalhoados no estreito espaço de uma vitrine. Por fim, um tremor me avisou que tinha encontrado o que, penso, procurava, e, depois de olhar à minha volta, parei em frente de uma loja empoeirada, cuja tabuleta se tinha apagado, e cujos tijolos, vermelhos há cem anos, estavam agora negros, cujas janelas tinham sofrido a humidade e a lama de incontáveis invernos. Vi então aquilo de que precisava; mas penso que demorei uns bons cinco minutos a dominar-me, e a arranjar maneira de poder pedir aquilo com uma voz que me não traísse. Penso que, mesmo assim, houve uma tremura na minha voz, porque o homem que fiz sair de trás da cortina tacteando pelo meio das mercadorias olhou para mim com uns olhos desconfiados, enquanto fazia o embrulho. Já tinha pago e ainda me conservava encostado ao balcão, com uma estranha repugnância em agarrar no meu embrulho e ir-me embora. Pus-me a falar do seu comércio, soube que ia mal, que os lucros eram quase nulos, que a rua já não era o que tinha sido nos tempos em que a corrente comercial ainda ali passava, quarenta anos antes, «na altura em que o meu pai morreu», segundo o que disse. Saí, por fim, e afastei-me precipitadamente. Rua melancólica, aquela; fiquei feliz por me encontrar de novo no meio da multidão e do barulho. Quer ver o que comprei?»
Austin não disse nada, mas inclinou um pouco a cabeça; parecia cada vez mais pálido e afectado. Villiers abriu uma gaveta da secretária de bambu e mostrou a Austin um comprido rolo de corda dura e nova, terminada por um nó corrediço.
«− É a melhor qualidade de cânhamo, − disse Villiers − igual ao que se empregava antigamente, garantiu-me o homem. Nem um fio de juta, de uma ponta à Outra.»
Austin sentiu os seus dentes cerrarem-se, e contemplou Villiers, empalidecendo:
«− Você não vai fazer isso − murmurou por fim; não vai verter sangue. Meu Deus − exclamou com uma veemência súbita −, não é isso que você me esta a dizer, Villiers, que vai fazer de carrasco?
− Não. A criatura vai poder escolher, vou deixá-la sozinha e fechada à chave um quarto de hora, com essa corda. Se não estiver tudo acabado quando entrarmos outra vez, chamarei o primeiro polícia que encontrar, e é tudo.
− Vou-me embora. Não posso ficar mais tempo, nem ouvir o que me está a dizer. Boa noite.
− Boa noite, Austin.»
A porta fechou-se. Um instante depois, Austin ainda lá estava, semelhante a um espectro:
«− Esqueci-me − disse − que também tinha a minha informação. Recebi uma carta do Dr. Harding, de Buenos Aires, em que me informou que tratou Meyrick durante as suas últimas três semanas de vida.
− E disse-lhe o que foi que o levou, em plena juventude? A febre?
− Não, não foi a febre. Segundo o Dr., teria sido uma queda geral do organismo, derivada sem dúvida de um grave abalo. Mas acrescenta que o doente não lhe fez quaisquer confidências, pelo que se encontrava numa posição de inferioridade para tomar conta do caso.
− É tudo?
− Sim. O Dr. Harding termina a sua carta assim: «Penso que lhe dei todas as informações possíveis sobre o seu amigo. Não viveu muito tempo em Buenos Aires, e não conhecia ninguém, excepto uma dama que não goza aqui da melhor reputação. Ela partiu, depois. Chamavam-lhe sr.a Vaughan.»
VIII
Fragmentos
Entre os papéis do Dr. Robert Matheson, o bem conhecido médico de Ashley Street que morreu subitamente, de apoplexia, no principio do ano de 1892, foi encontrada uma folha coberta de anotações a lápis. Estas notas estavam em latim abreviado, e tinham sido escritas certamente muito à pressa. O manuscrito só pôde ser decifrado após grandes esforços, e mesmo assim, até à data, certas palavras escaparam aos esforços de todos os especialistas. No canto direito está escrita a data: 25 de Julho de 1888. Segue-se a sua tradução.
Aproveitará a ciência dessas breves observações, no caso de elas poderem ser publicadas? Não o sei, e duvido. É claro que nunca tomarei a responsabilidade de publicar uma única palavra do que se segue, não somente devido ao facto de, livremente, ter dado a minha palavra de honra às duas testemunhas, mas ainda porque os factos são demasiado repugnantes. É provável que, considerando bem as coisas, e depois de pesar os prós e contras, venha um dia a destruir este papel, ou a entregá-lo, selado, ao meu amigo D..., confiando-me à sua discrição para, conforme lhe aprouver, se servir dele ou o destruir...
Como convinha, fiz tudo o que a ciência prescreve para me não deixar vitimar por qualquer ilusão. Aterrado, de início, foi um milagre se alguma reflexão me restou; mas, passado um minuto, assegurei-me de que o meu pulso estava normal, e de que conservava todo o meu bom-senso. Revi, na minha mente, toda a anatomia do pé e do braço e as fórmulas de alguns carbonetos, e depois fixei os olhos sobre o que se passava à minha frente.
Se bem que atacado por uma náusea de revolta, e quase sufocado pelo odor da corrupção, mantive-me firme, privilegiado ou maldito, não o sei, olhando para o que ali estava, negro como tinta, e que se transformava perante os meus olhos. A pele, a carne, os músculos e os ossos, e a firme estrutura do corpo humano, tudo o que, até aí, considerara algo de permanente como o diamante, começou a fundir-se e a dissolver-se. Sabia que agentes exteriores podiam assim devolver o corpo aos seus elementos, mas recusar-me-ia a crer naquilo que via, porque havia ali uma força interna que eu não conhecia, e que ordenara a dissolução e a metamorfose.
Ali, repetiu-se à minha frente todo o esforço que originou o homem. Vi a coisa vacilar de sexo a sexo, dividir-se e unificar-se de novo; vi o corpo regredir às feras que o precederam, o que estava na coroa dos seres descer até ao infra-mundo, aos abismos. Mas o principio da vida, que cria o organismo, permanecia estável no meio das transformações da forma.
A luz da sala tinha-se desvanecido até às trevas, mas não eram trevas nocturnas, daquelas em que os objectos só de forma vaga se percebem, pois ainda podia ver tudo distintamente. Era como que a negação da luz; os objectos estavam perante os meus olhos, se posso dizê-lo, sem intermediário; de tal modo que, se houvesse um prisma naquela sala, não teria podido distinguir as cores.
Eu olhava sempre: dentro em pouco, nada mais restava, senão uma substância semelhante a gelatina. E depois a escala foi de novo percorrida, em sentido inverso... (neste ponto, são ilegíveis algumas .linhas do manuscrito)... instante vi uma forma obscura à minha frente, que não quero descrever. Mas o símbolo pode ser encontrado em algumas estátuas antigas, e naquelas pinturas que sobreviveram à lava, demasiado infames para que eu fale mais delas...
...E a indizível aparência, homem e besta, retomou a forma humana, e então a morte sobreveio.
Eu, que presenciei tudo isto, não sem repugnância, assino, e declaro que tudo o que acima descrevi é verdadeiro:
Robert Matheson, M. O.
...................................................................
«Assim é, Raymond, a história daquilo que sei e daquilo que vi. O fardo era demasiado pesado para mim, e só consigo o podia repartir. Villiers, que me acompanhou no fim, não conhece o terrível segredo da floresta, nem sabe que o que nós vimos em tempos morrer sobre a relva, entre as flores, de mãos dadas com a pequena Raquel, chamou e conjurou os seus companheiros e, nesta terra que nos traz, deu forma material ao que não ousamos nomear senão por alusões e figuras. Não quis dizer estas coisas a Villiers, como não lhe falei da semelhança que me abalou o coração quando vi aquele retrato, que encheu o cálice da angústia. O sentido, de tudo isto, ignoro-o; sei que o que vi morrer não era Mary, mas também sei que, no termo da agonia, foram os olhos de Mary que olharam para mim. Será que ninguém vai descobrir o último elo dessa cadeia de mistérios? Se alguém o pode fazer, só pode ser você, Raymond; e, se conhece o segredo, é a si que compete decidir se o revelará ou não.
«Voltei há pouco à cidade. Passei os dois últimos dias no campo, penso que adivinha onde. Quando a estupefacção em Londres estava no auge − como lhe disse, a sr.a Beaumont era muito conhecida −, escrevi ao meu amigo Dr. Philips, dando-lhe uma breve idéia do que se tinha passado, e pedindo-lhe que me dissesse o nome da aldeia em que se tinham passado os acontecimentos que narrara. Disse-mo sem hesitar, e contou-me também que os pais de Raquel tinham morrido e a família ido viver com um tio no estado de Washington. Os pais, disse-me ainda, tinham morrido certamente de desgosto pela morte da filha e por tudo o que a precedera.
«No mesmo dia em que recebi a carta de Philips fui a Caermaen. A sombra das muralhas romanas, arruinadas e empalidecidas por mil e setecentos invernos, contemplei a pradaria na qual, em tempos, foi consagrado um templo « ao deus dos abismos»; e também uma casa que o poente iluminava: a casa onde Helen tinha vivido. Demorei-me alguns dias em Caermaen; as pessoas, pareceu-me, sabiam pouco de tudo aquilo, e ainda adivinhavam menos. As pessoas a quem falei pareceram espantadas que um arqueólogo (tinha-me apresentado como tal) se pudesse interessar por uma tragédia de aldeia, da qual não apresentavam, aliás, senão uma versão banal. E eu também não lhes disse mais, como deve calcular. A maior parte do tempo, passei-o na grande floresta que domina a aldeia, sobe pela colina e torna a descer até ao vale; um vale lindo como aquele que contemplamos do seu terraço, numa noite de verão. Andei bastantes horas pelo dédalo da floresta, passeando pelas áleas sombrias e tão frescas, mesmo ao meio-dia, ao longo dos silvados, detendo-me sob os carvalhos, estendendo-me sobre a erva curta de uma clareira, onde o vento me trazia o odor tênue e selvagem das rosas bravas em botão, misturado com o perfume pesado das mais velhas: um cheiro composto, que recorda as câmaras mortuárias e os seus vapores de incenso e corrupção. Sentei-me sobre bancos de relva, na orla do bosque, contemplando, por sobre os fetos, a pompa das dedaleiras ao sol posto; e, mais adiante, os espessos tufos dos silvados, os espinheiros sobre as rochas, as ervas húmidas e tenebrosas. Mas estes primeiros passeios evitaram uma parte do bosque, e só ontem é que subi ao topo da colina, até à velha via romana que atravessa os cimos da floresta. Ai tinham passeado Helen e Raquel, por sobre a aprazível calçada e a verde relva, por meio dos aterros de argila vermelha e das sebes luminosas das faias; segui os passos que tinham dado, contemplando por entre as árvores as duas vertentes do bosque, a vasta planície e, mais longe, o mar, e a terra para além do mar. Do outro lado estavam o vale e o rio, colinas a seguir a colinas, como vagas sucedendo-se a vagas, os bosques, as pradarias e os campos de trigo, as esplendorosas casinhas brancas, uma muralha de montanhas e, a norte, os azuis e distantes picos. E assim cheguei ao lugar que procurava. A via, descendo docemente, formava uma eira rodeada de silvas e, estreitando-se de novo, perdia-se na distância, no meio da névoa azul do ardor estival. E foi essa mesma clareira que Raquel em tempos abordou inocente, para dele sair − Deus sabe como ou o quê. Não me demorei aí muito tempo.
«Numa terreola perto de Caermaen existe um museu, constituído essencialmente por vestígios romanos encontrados nas vizinhanças, ao longo dos tempos. No dia a seguir ao da minha chegada a Caermaen, fui à vila em questão, a fim de visitar o museu. Depois das pedras esculpidas, dos sarcófagos, anéis, moedas, fragmentos de mosaicos, etc., mostraram-me um pequeno pilar quadrado, de pedra branca, recentemente desenterrado no bosque de Caermaen − como me certifiquei mais tarde, mesmo no sítio onde se alarga a via romana. Num dos lados desse pilar está uma inscrição que copiei; algumas letras estão apagadas, mas parece-me que não restam dúvidas relativamente à minha correcção. Eis o texto da inscrição:
DEVOMNODENTi
FLA v I VSSEN ILISPOSSVit
PROPTERNVPTIAs
qua SVIDITSVBVMBra.
«Ao Grande Deus Nodens (4) (deus das Profundezas Abissais ou do Abismo) Flavius elevou este pilar, em lembrança das núpcias que se realizaram na sombra.
«O guarda do museu informou-me que os arqueólogos locais estavam muito embaraçados, não pela dificuldade de ler ou traduzir a inscrição, mas quanto às conseqüências ou ritos que evoca.
...................................................................
«...E agora, meu caro Clarke, passemos àquilo que você diz de Helen Vaughan, que viu morrer em circunstâncias tão horríveis e quase inacreditáveis. A sua história interessou-me bastante; mas quase tudo o que você conta já eu sabia. A estranha semelhança entre o retrato e a própria Helen, de que você se apercebeu, explica-se facilmente: foi a sua mãe que você conheceu. Lembra-se daquela noite, calma e aprazível, em que lhe falei do mundo que está para além das aparências, e do Grande Pan; lembra-se de Mary? Foi ela quem deu ao mundo Helen Vaughan, nove meses depois dessa noite.
«Mary não voltou a recuperar a razão; continuou de cama, tal como você a viu, e morreu pouco depois do parto. Estou convencido que ela me reconheceu, no fim. Eu estava à cabeceira dela quando, de repente, o olhar de outrora lhe voltou aos olhos. Estremeceu, deu um gemido e faleceu.
«Fiz uma má obra naquela noite, Clarke; abri a porta da casa da vida, sem me inquietar com o que poderia entrar ou sair por ela. Lembro-me de você me ter dito, nessa ocasião, e com toda a oportunidade, que eu tinha destruído a razão de um ser humano para fazer uma experiência, fundamentada numa teoria absurda. Teve razão em me criticar, mas a minha teoria não era tão absurda como isso. O que eu disse que Mary iria ver, ela viu; mas esqueci-me de que ninguém pode contemplar o que ela contemplou impunemente. E esqueci-me também do que, uma vez que se abriu a casa da vida, ela torna-se acessível àquilo que nós não podemos nomear − e a carne humana pode tornar-se o véu do inexprimível. Brinquei com forças desconhecidas, e você conhece o resultado. Helen Vaughan fez bem em atar-se à corda e morrer, por horrível que a sua morte tenha sido.
Aquele rosto enegrecido, aquela forma transformada, que se fundia sobre o leito e que, sob os nossos olhos, passava de mulher a homem, de homem a besta, e de besta a qualquer coisa ainda pior, tudo aquilo que você testemunhou, nada me espanta. Aquilo que o médico viu já eu tinha visto, muito antes dele. Porque eu compreendi a minha obra logo no dia em que a criança nasceu. Ainda ela tinha cinco anos, já eu a tinha visto, mais de cem vezes, brincando com o companheiro que você sabe. Foi, para mim, uma angústia indescritível e constante: alguns anos mais tarde, sentindo que não iria suportar aquilo por mais tempo, mandei Helen Vaughan para outro lugar. Já sabe o que foi que assustou Trevor, no bosque. O resto da história, e tudo o que foi descoberto pelo seu amigo, eu sabia-o, à minha própria custa, do primeiro ao último capitulo. E agora, Helen reuniu-se aos seus companheiros.»
NOTA: Helen Vaughan nasceu em 5 de Agosto de 1865 em Red House. Breconshire, e morreu a 25 de Julho de 1888, em sua casa, numa rua que da para Piccadilly, e que se chama Ashley Street, ao longo desta história.
(4) Nodens não é um numen romano, se bem que Machen pretenda fazê-lo passar por tal, nesta obra. Trata-se de pura invenção do autor, fascinado, como o leitor de certeza já se apercebeu. pelos obscuros cultos fálicos dos antigos, e pela leitura da obra de Richard Payne Knight, «An Account of The Remains of The Worship of Priapus». (N.T.)
Posfácio
The Great God Pan foi publicado pela primeira vez no ano de 1895. Constitui, de certa maneira, aquilo a que se pode chamar de transição do período «gótico» para o período «moderno» da literatura fantástica.
Esta divisão em dois períodos, se bem que um pouco arbitrária e, por vezes, falha de sentido, justifica-se por outro lado se tivermos em conta a temática e a profundidade das obras que são colocadas sob a «jurisdição» de um ou de outro. Podemos assim dizer que o que caracteriza a novela do tipo «gótico» é, parafraseando Rafael Llopis, o papel atribuído ao «pobre morto», figura central das suas peripécias. Com mais ou menos variações, de melhor ou pior qualidade, o romance «gótico» assenta sobre esta figura, cruel ou bondosa, terrível ou ridícula, sempre assustadora (mais graças ao décor que às suas reais potencialidades), e os autores deste período raramente ultrapassaram o estado inicial da novela de Terror (alguns nem o atingiram): meter medo com as aventuras de um morto.
O período «moderno», cujo expoente máximo foi talvez atingido com Lovecraft, procurou ir mais longe. Existe uma preocupação de cariz filosófico ou científico, muito distante já do diletantismo literário de salão que caracteriza, senão todas as obras, pelo menos o método do período anterior. Poderíamos dizer que o que caracteriza este período é uma leitura «terrível» das matemáticas, da física, da biologia etc. e, 110 caso desta obra de Machen, da neurocirurgia. E se ele culminou em autores como Blackwood, Bloch, Benson, Rosny, para só citar alguns, começou, na forma «materialista» que Lovecraft viria a esgotar quase completamente, com Machen.
Nascido em 1863 em Caerlton-Usk, localidade do País de Gales que bem pode ter servido de cenário à Caermaen das peripécias de Helen Vaughan, filho de um pároco de aldeia, Arthur Machen desde muito jovem se sentiria atraído pelos mistérios do oculto e da literatura. Depois de um período de vida em Londres, durante o qual exerceria as mais variadas profissões, de caixeiro de uma editora a preceptor e a tradutor das «Memórias» de Casanova, Machen decidiu dedicar-se à literatura e ao jornalismo.
Em 1895 publica The Great God Pan e uma outra obra The lnmost Light. Deste período data também o seu conto The White Powder, que muitos consideram o seu melhor trabalho.
Depois de, aos 36 anos, ter perdido a mulher, que muito amava, e de se ver de novo arrastado pela miséria, que nunca o abandonou, fez-se actor ambulante, percorrendo a Inglaterra numa companhia de teatro shakespeareano.
Em 1914, com The Bowmen, que viria a alcançar grande êxito devido a estranhas coincidências, Machen volta a enveredar pela literatura e pelo jornalismo.
Faleceu em 1947.
A presente obra retrata uma das grandes preocupações de Machen, que se poderá definir como uma espécie de «psicanálise cirúrgica do oculto», e à qual não são estranhas duas grandes influências: a sua leitura de Richard Payne Knight, ou de um dos seus «seguidores», e a sua permanência na Hermetic Order of The Golden Dawn (onde estavam quase todos os «seguidores» de Knight), uma sociedade secreta bastante influente no seu tempo.
O livro de R. P. Knight, An Account of the Remains of the Worship of Priapus, publicado em 1786 e, obviamente, logo «retirado do mercado», que constitui «um dos mais indecorosos e indecentes tratados que jamais desonraram a pena de um homem que deveria ser considerado um erudito e um filósofo»(5) viria, como todas as obras proibidas, a exercer uma fascinação sobre muitos autores. Em 1865, John Camden Hotten reimprimiu o trabalho, acrescentando-lhe um outro ensaio. A edição, com reproduções das gravuras originais e ilustrações do novo ensaio, foi publicada com o título de Discourse on the Worship of Priapus and its Connection with the Mystic Theology of the Ancients. Para se fazer uma idéia do impacto que uma obra deste teor viria a exercer sobre a de Machen, com as suas assustadoras sugestões do culto priápico, os seus assustadores desenhos, impossíveis de contemplar, os seus cultos antigos, basta descrever uma gravura que foi publicada em extra-texto da edição de Knight: «contém cinco figuras, três masculinas e duas femininas, com as partes inferiores dos seus corpos delineadas; a mulher à esquerda da ilustração tem o membro do homem na boca; à direita, uma outra mulher está de pé entre dois homens, em sodomia com um deles, apertando o membro do outro entre os seus seios»(6). A guisa de curiosidade, existe no Museu Britânico um exemplar da edição da obra de Knight, sem essa gravura, segundo Ashbee. Calculamos que também não deve ter as outras. Pode julgar-se do efeito de uma obra que, antes do mais, é um trabalho de erudição, sobre as mentalidades vitorianas da época e, quem sabe, sobre os terrores sem nome de Machen.
Na Golden Dawn, sociedade de que Machen foi membro, a obra de Knight tinha exercido urna profunda influência, nem sempre da melhor maneira, não só pela sua extraordinária erudição e valor documental, mas também porque os seus membros, na sua grande maioria, em nada simpatizavam com os alicerces da moral vitoriana. As pesquisas ocultas de Machen viriam a proporcionar-lhe experiências curiosas, que chegou a descrever, de forma não ficcional. Mas talvez o Great God Pan possa ser considerado como a descrição de urna delas. De facto, a invocação a Pan era prática corrente de uma das facções da G. D. Aleister Crowley viria a afirmar ter tido êxito na sua invocação, e as suas descrições não diferem muito, no conteúdo, das de Machen. O seu Hymn to Pan permanece ainda corno um dos seus altos momentos literários.
Seja como for, a novela de Machen aqui fica, e o leitor decidirá do seu valor, literário, operativo ou psicológico.
E. Leão Maia
(5) Cf Henry Spencer Ashbee, Erotika Lexicon. − lndex Librorum Prohibitorum. p. 16.
(6) Idem, p. 15. Trata-se de uma gravura de uma das famosas esculturas de Elefanta, na índia.



























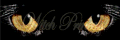















Nenhum comentário:
Postar um comentário