O mestre do terror Paulo Soriano retorna à Câmara dos Tormentos com um dos contos mais perturbadores que já se viu. Uma colaboração valorosa para a arte sombria brasileira de qualidade:
A CASA DO ENFORCADO
Para Roque Braz e Heitor Vanderley.
Quando finalmente conseguiram vencer a resistência da madeira da janela – que fora a única abertura a vergar ao ímpeto de um aríete improvisado –, os homens retrocederam de surpresa, nojo e horror. De uma densa névoa – uma bruma mefítica – que emanava dos intestinos da casa velha, veio a surpresa, capaz de paralisar os mais impávidos e amolecer os mais empedernidos. Polca – o velho e bom Polca, que até então se contentava em relamber o que restara do sangue nas patas hirsutas, condoídas e tontas de tanto escavar a rude porta de madeira ancestral – saltou pela abertura de luz que os homens abriram e quase cegou ao contato do Sol, que agora desmaiava. E, com as fuças enodoadas, onde os dentes arreganhados ainda retinham em suas frestas negros nacos de carne apodrecida, emitiu um ganido ensandecido, para depois galgar o horizonte constrito, encharcado de manguezal, sobre o qual escorria e ondulava o sangue silencioso do anoitecer.
No interior da casa, os homens, embrutecidos pelo miasma, mantiveram os lenços apertados contra os narizes. Dois deles erguiam candeias olorosas de querosene, porque o antro era mais escuro que a morte e mais pestilento que um túmulo. Mas contam os antigos que foi um deles, o que espraiava as mãos nuas, espalmadas contra a escuridão de pedra, que tocou o cadáver do ancião. Quando o lume chegou, viram os homens que a velha figura oscilava no vazio, colhida em pleno ar pelo próprio cinto – o puído cinto de couro que contivera um magro ventre por tantos e tantos anos. E bailava serenamente aquele corpo informe, como que tangido pela brisa suave e asséptica, quase poética, do anoitecer invernoso do Recife.
A antiga casa, onde se enforcara o ancião, e que hoje não existe mais, era uma das mais sólidas construções de Campo Grande. Construída sobre alguns alicerces devastados aos invasores, a vivenda ressurgira seguindo os passos dos sóbrios e elegantes engenheiros flamengos. A casa era, assim, de pedra. Pedra absurdamente equilibrada sobre um ângulo improvável de outra pedra, como ainda se vê nos antigos trapiches abandonados do velho Recife. Compunha-se de um único pavimento, comprido e estreito, tenaz em evaporar a luz aos primeiros e ousados passos. E as suas paredes, rebocadas pela argamassa úmida, carcomida de mofo e estrias, deixavam entrever, no sulco das profundas cicatrizes, que desciam céleres dos caibros repletos de fungos, a face ossuda das pedras revelhas, que reagiam e fulguravam à luz das candeias, como crânios a desafiar a imortalidade da própria morte.
A musculatura das paredes laterais erigia-se incrivelmente forte. Sobre ela, apoiavam-se as tesouras de madeira de lei.
E era a trave da última das tesouras – a mais mofada e encardida – que sustentava o peso morto, e dele fazia agora um pingente assustadoramente desumano e lúgubre. Parecia incrível, à luz mortiça dos lampiões, constatar o cuidado que assediara o homem velho ao afundar, na língua puída, que era a ponta de seu cinturão, os pregos vigorosos e brilhantes. Possível ainda seria ouvir o eco seco da madeira reverberando por cada um dos ossos que compunham o esqueleto da casa anciã, como um pulsar de um coração ainda mais nefasto e carcomido pelo bolor dos anos. E escutar – enfim – o esgar da madeira – que, durante séculos, não emitira um rangido sequer – lamentar-se, com um angustiante protesto, ao mergulho resoluto que o homem descreveu no mais negro dos mais negros vazios.
Quem o via ali, tão desolado em sua mortal solidão, não podia adivinhar a calma com que o homem, roto de alma, ajustou, num gesto altivo e solene, o cinto ensebado ao pescoço exangue. E nem cogitou de que restaria apenas o espetáculo monótono de um homem bailando suavemente o seu vazio de morte, tão melancólico e tão sombrio que só a bênção do Deus da inconsciência eterna poderia proporcionar e compreender.
E Polca, sozinho naquela casa tão obscura, não cansava de lamentar, com o seu uivo animal, a ausência de um dono que, enigmaticamente, se fazia tão presente. Se ali estava, por que não se mexia? Por que não sabia que estávamos ambos famintos? Por que somente se balouçava na trave, para lá e para cá, quando tocado pelas patas cansadas, e não cuidava da água e dos alimentos? Não lhe trouxera alguns ratos para comer? Não implorara que repartisse comigo as ratazanas?
O tempo girou os seus gonzos cansados, e finalmente Polca percebeu que aquele ali, dependurado num cinto velho, não era mais o seu dono. O cheiro mudara. A atitude mudara. Nenhum afago. Nenhuma palavra. Não mais havia a ordem de entrar e de sair. Aquele não era mais o seu dono. De alguma forma, algo que jamais imaginara, e que a sua mente canina não entendia, usurpara o bom homem que o alimentava e que cuidava carinhosamente de suas feridas, quando os ratos motejavam de suas orelhas.
Então polca, corroído pela fome, começou por mastigar as sandálias que pairavam opressivas acima de sua cabeça. Ganiu, deu várias voltas em torno do próprio rabo. Latiu. E passou a lamber os pés daquilo que descia dos céus, e que tomara o lugar de seu dono.
Depois mordeu.
Roeu e mordeu novamente.
Excitado, lambeu o sangue revelho com um furor que ele próprio desconhecia.
Algum tempo depois – um tempo que somente a mente canina pode medir e eternizar – o cão sentiu uma secura na língua, que grassou à insanidade. Mastigando e dilacerando, uivando e roendo, assim ficou o animal, até saber que não era fome o que sentia.
Era sede.
Era uma sede que se tornava mais pungente a cada naco de carne podre que extraía das pernas descarnadas do ancião. Uma sede monstruosa, que quase tocava o infinito. Mas não parou em sua agitação canina, rosnando e eriçando os pêlos nervosos. Mordeu, ganiu, gemeu e dilacerou até não mais poder roer osso algum. Quando, finalmente, foi avisado de que os ossos e as carnes sulfurosas não mais estavam ao seu alcance, apesar de todo ímpeto e de toda fúria com os quais se lançava contra a beira do cadáver, mergulhou os focinhos entre as patas traseiras, mastigando e remoendo o próprio rabo. Enrodilhou-se, pois, como uma serpente iracunda. Tremeu e espumou num canto escuro, qual um endemoninhado. Tremeu e gemeu. Ganiu e dormiu.
Outra eternidade passou-se até que viesse um despertar com a súbita deliberação de fugir e abandonar para sempre o cadáver que amputara.
Os ossos do ancião – homem pobre, valoroso e solitário – insinuavam-se pela abertura das calças mutiladas. E quando os homens viram as pontas dos fêmures carcomidos, corroídos pela fúria alucinada do pobre animal, caíram numa espécie de torpor e de horror indizíveis. O luzir dos ossos brancos, impacientemente triturados por dentes sôfregos, ainda mais sinistra tornava aquela oscilação pendular, aquele bailado inerme de enforcado. Assim, encetaram uma busca completa na região, para matar o animal, porque induzidos a um horror bem mais profundo que o necessário. Abateram o animal a pauladas, sem compaixão alguma, e puseram-no a afogar-se no charco lindeiro de Santo Amaro. Somente depois que se riram e se jactaram da própria crueldade, é que encontraram, no colete do enforcado, um pequeno bilhete, metido na tampa de um relógio de algibeira, a embrulhar os retalhos de um retrato feminino. O bilhete, escrito pela tinta púrpura da solidão e do desamparo, dizia apenas:
“Cuidem bem do meu cão,
pois é tudo que tenho
e o melhor do que jamais tive”.




























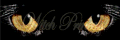















Nenhum comentário:
Postar um comentário